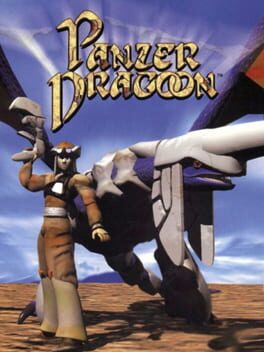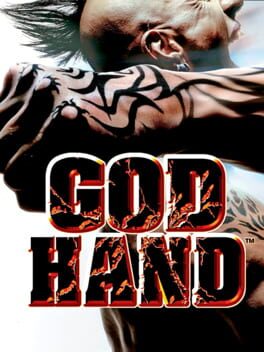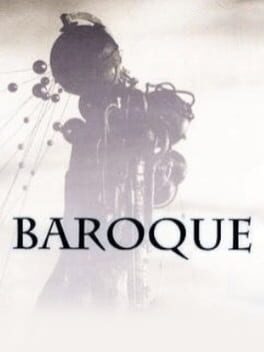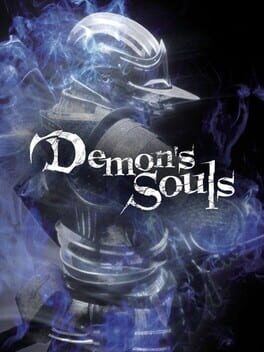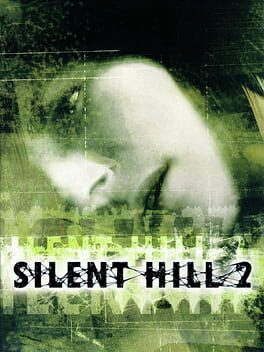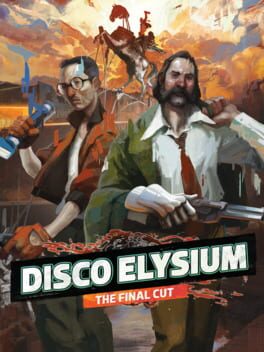149 Reviews liked by Alviner
NieR
2010
Panzer Dragoon
1995
I think this game has a weird learning curve and it has some odd spikes of difficulty here and there, but it grows on me with each playthrough. I love the one sequence nature of it, and it has some pretty tight level design. I like Zwei more in most regards but the challenge of this one is what really sets it apart for me. I wish I felt more for the music, like flight is such an incredible song, the best in video games, but every other song is a bit forgettable to me. I think my favorite level is the tunnel sequence, it's so intense and the boss in that is killer. It's definitely worth learning and beating
TNT: Evilution
1996
ok so my computer's power supply suddenly died on me so i thought i'd have this whole console player arc but GUESS WHAT i bought a new one instantly and visited my parents for easter so i also ended up getting some time on my brother's PC just to play fucking TNT of all things.
/
it took me a good while to muster up the will to get past the first 10 levels which always made me drop the whole thing. TNT thrives on huge maps with weird combat setups, but those early ones are just boring, cramped, and don't work towards building its identity.
as soon as you get into some more inventive ones, though, it gets interesting.... so many far away hitscanners and barely populated arenas! so many attempts at roughly non-abstract areas... so many massive secret setpieces! map12 (Crater) was a standout for me, its namesake comes from an odd secret that lets you explore a narrow view of a nukage waterfall in the crater. the way it tries to do this kind of cute trick without much fanfare is what gets me. they made a mapset that tries making DOOM a little more "real", and the way it almost works is charming.
even the guest maps from the Casali brothers (who made Plutonia, the other half of Final DOOM [which i love]) build on TNT's concept well, but with more exciting combat. it's just that about half the playtime on this big, big WAD is spent on almost regular DOOM II maps but with no bite or cool surprises. just a bunch more hitscanners mixed in.
i can definitely tell why this was so influential, though. it does a lot to intrigue the player about trusting a big concept more than only trying to do tight combat loops over and over. map20 (Central Processing) is a blessing!
bonus: take a look at this fanmade remix of Into Sandy's City made for map32 (Caribbean). it's so cute!
/
it took me a good while to muster up the will to get past the first 10 levels which always made me drop the whole thing. TNT thrives on huge maps with weird combat setups, but those early ones are just boring, cramped, and don't work towards building its identity.
as soon as you get into some more inventive ones, though, it gets interesting.... so many far away hitscanners and barely populated arenas! so many attempts at roughly non-abstract areas... so many massive secret setpieces! map12 (Crater) was a standout for me, its namesake comes from an odd secret that lets you explore a narrow view of a nukage waterfall in the crater. the way it tries to do this kind of cute trick without much fanfare is what gets me. they made a mapset that tries making DOOM a little more "real", and the way it almost works is charming.
even the guest maps from the Casali brothers (who made Plutonia, the other half of Final DOOM [which i love]) build on TNT's concept well, but with more exciting combat. it's just that about half the playtime on this big, big WAD is spent on almost regular DOOM II maps but with no bite or cool surprises. just a bunch more hitscanners mixed in.
i can definitely tell why this was so influential, though. it does a lot to intrigue the player about trusting a big concept more than only trying to do tight combat loops over and over. map20 (Central Processing) is a blessing!
bonus: take a look at this fanmade remix of Into Sandy's City made for map32 (Caribbean). it's so cute!
God Hand
2006
i've been thinking about my relationship with art, and my thoughts at the moment are that what i want in a piece is to feel something. it's not only about being entertaining, it's about catharsis. it's about feeling extremely happy or deeply miserable. it's about having the teeth grinding, the foot tapping, the head scratched. it's about going insane over the details. i want to feel alive. maybe it's a sick thought. maybe i should just live my own life, but i can guarantee, i've been living my own life a lot! much more than i would like to, sometimes.
all the games i've finished this year so far (very few) were a good time, some of them were amazing, really thought-provoking like anodyne 2, but none of them hit me like a truck. until GOD HAND.
GOD HAND makes you feel extremely happy, deeply miserable, with your teeth grinding, your foot tapping, your head scratching... pretty much at the same time! it's commonly known as a very difficult game and it's not an impossible one, but it does require you full commitment. starting with learning the controls: when action games were about swords and guns, with fast-paced movement, GOD HAND was about throwing punches while moving in tank controls. it's all about positioning, a 1v1 it's already a difficult task, but a 2v1? a 4v1? does not help when your crowd control movements are slow as hell! but don't be confused: GOD HAND is not a slow game! actually, if you can't keep up, you will pretty much ended up cooked lol, you have to adapt to the rhythm of the fight. it's all about learning and once you learn, it's about going wild.
and it's not a flashy game. you throw punches. real punches. punches that hit, than you can feel when it hits. GOD HAND it's a dudes rock game but every single dude is rocking on you (in a not-homosexual-way (unfortunately)), and you got rock on them instead. GOD HAND it's a videogame that loves action games. it's a videogame that recognizes the masculine archetypes about the action genre in overall media and at the same time it honors it and it also makes fun of it. GOD HAND is very "manly"! i mean, having blackjack and poker and dogs races as a way to make money makes me think that shinji mikami and the team are either the funniest guys ever or the most heteronormative of all time! and it's very funny either way.
what really matters is that GOD HAND is a videogame that made me feel everything, and in a year that is definitely NOT being my year, with a lot of work and study and personal problems as well, making me sometimes lost my interest in my favorite hobby, it reminds me how great videogames can be and how i can always just punch a son of a bitch when it needs to. you better watch out mf!!!
all the games i've finished this year so far (very few) were a good time, some of them were amazing, really thought-provoking like anodyne 2, but none of them hit me like a truck. until GOD HAND.
GOD HAND makes you feel extremely happy, deeply miserable, with your teeth grinding, your foot tapping, your head scratching... pretty much at the same time! it's commonly known as a very difficult game and it's not an impossible one, but it does require you full commitment. starting with learning the controls: when action games were about swords and guns, with fast-paced movement, GOD HAND was about throwing punches while moving in tank controls. it's all about positioning, a 1v1 it's already a difficult task, but a 2v1? a 4v1? does not help when your crowd control movements are slow as hell! but don't be confused: GOD HAND is not a slow game! actually, if you can't keep up, you will pretty much ended up cooked lol, you have to adapt to the rhythm of the fight. it's all about learning and once you learn, it's about going wild.
and it's not a flashy game. you throw punches. real punches. punches that hit, than you can feel when it hits. GOD HAND it's a dudes rock game but every single dude is rocking on you (in a not-homosexual-way (unfortunately)), and you got rock on them instead. GOD HAND it's a videogame that loves action games. it's a videogame that recognizes the masculine archetypes about the action genre in overall media and at the same time it honors it and it also makes fun of it. GOD HAND is very "manly"! i mean, having blackjack and poker and dogs races as a way to make money makes me think that shinji mikami and the team are either the funniest guys ever or the most heteronormative of all time! and it's very funny either way.
what really matters is that GOD HAND is a videogame that made me feel everything, and in a year that is definitely NOT being my year, with a lot of work and study and personal problems as well, making me sometimes lost my interest in my favorite hobby, it reminds me how great videogames can be and how i can always just punch a son of a bitch when it needs to. you better watch out mf!!!
Baroque
1998
Panzer Dragoon Orta
2002
ideologia é o privilégio do não-desespero. o tempo necessário para tomar uma decisão teórica depende da ética que advém do desapego, de certa distância, do eterno "e se". o ethos não é um sobrevivente e sim um acadêmico. a ideologia se confunde com a política pois a política depende de um movimento em massa para acontecer, então ela se vende como um fator ideológico em que existe Informação a ser Interpretada: a normalização (criação de denominador comum) da heurística, um véu comunitário sob algo que é inerentemente solitário e solipsista. o pathos é a sobrevivência, a divisão definitiva entre o que é o Ser e do que é sua Ideia, pois embora um, claro, influencie o outro, corrija o outro, esse um nunca comanda o outro. há um abismo dificilmente cruzado entre a prática e a ideia quando não existe tempo de planejamento, quando a ideia já é um resultado de outros atributos ativos de antes. a única defesa contra a ideologia é o suicídio. o barulho de tiro é mais alto do que a música. não existem perigos universais pois eles não são necessários: o mundo está sempre acabando pra alguém.
Dark Souls II
2014
(texto no Recanto do Dragão, cliquem por favor, lá tem imagens: https://recantododragao.com.br/dark-souls-ii-e-uma-mentira/)
Dark Souls II é um jogo perdido nos confins do espaço-tempo; tanto na situação em que se encontra dentro da trilogia, quanto no imaginário popular que tenta despedaçar sua reputação até o ponto em que um elogio é considerado “revisionismo”, e até mesmo em seu próprio contexto narrativo. Drangleic é uma terra perdida, a utopia dos mentirosos, um refúgio para os sonhadores.
O caso de Dark Souls II é curioso, porque apesar de não ser um jogo exatamente “odiado”, ele é claramente o patinho feio da série: ridicularizado, é feito de vítima por vários pecadores que acabam jogando-o de má fé. Eu só fui descobrir o quão especial esse jogo é ao rejogá-lo, agora no começo desse ano. É um jogo um tanto esquecido, porque o debate ao redor dele nunca muda. São sempre os mesmos discursos rasos sobre o quão ilógico e “mal feito” é seu level design, sobre as minúcias da funcionalidade do combate (sobre ele ser travado, ter hitboxes ruins, ser muito lento, o sistema de ADP ser uma merda, sobre não ter muitos chefes bons, ser pouco desafiador em relação ao primeiro, ser pouco satisfatório em relação ao terceiro, e por aí vai), ao mesmo tempo que elogiam sua rejogabilidade ao redor de uma fama bem concebida em relação ao seu sistema de builds, seu NG+, sua variedade de conteúdo, e por aí vai.
A maior consequência?
Dark Souls II é conhecido por muitos como um “ótimo jogo, péssimo souls”. É um jogo mal visto como parte da trilogia, é esquecido, desconsiderado, irrelevante, a ponto de que tudo isso aí me influenciou a cair no conto de deixar ele por último na primeira vez que joguei.
Mas será que isso é mesmo um ponto negativo da obra? — resposta rápida: não.
O jogo tá constantemente questionando todo o ponto de partida e de conclusão de seu antecessor e tentando colocar o jogador em situações opostas — ao invés de ser vestido com a falsa profecia de ser “o escolhido”, você só tá tentando achar a cura da maldição undead. O ponto central disso tudo — Drangleic — em oposição à Lordran, é uma terra vista como “a cura de todas as maldições” e os NPCs atuam como viajantes descobrindo o lugar junto com o jogador ao longo do tempo. E por fim, o grande diferencial da narrativa de DSII é que aqui um dos maiores efeitos colaterais da maldição undead é que as pessoas acabam se esquecendo de seus passados e perdendo a perspectiva do futuro — o que dialoga bastante com a proposta de Dark Souls mostrar as consequências de um mundo pós-apocalíptico causadas pela ganância humana e seu sucessor tomando consciência disso, já que muito do jogo é a busca por uma “terceira solução” além das eras do fogo e da escuridão.
Dark Souls II, ao invés de tentar reiterar o que o primeiro jogo fez de bom, aborda seus temas mais metafísicos (como os ciclos da humanidade e as eras do fogo e da escuridão, a maldição undead, os reinos convergindo pelo espaço-tempo, etc). Ele pega signos de seu antecessor para contar algo novo com a justificativa de que as pessoas se esqueceram das coisas que já foram contadas com as múltiplas eras que foram passando e com as maldições se alastrando. É um jogo que o tempo todo tenta se esquecer do que é Dark Souls diretamente (mesmo sendo contextualizado diversas vezes como uma sequência direta dos acontecimentos do primeiro) e acaba criando uma identidade própria com base nessa releitura — mudança repentina na temática de dark fantasy para high fantasy, mecânicas esquisitas e até pouco funcionais pro balanceamento do jogo como um ARPG, conteúdo maximalista com mais de 40 bosses e mais de 30 áreas, etc. É claramente o mais diferente em comparação aos outros dois jogos da trilogia e isso reflete bastante no discurso mencionado anteriormente: o que as pessoas querem dizer com “ótimo jogo, péssimo souls”.
E não só isso, como esse discurso também reflete na noção de que Dark Souls II é um ponto isolado no universo da franquia: esquecer o passado é se desprender de seu antecessor e perder a perspectiva do futuro é não conseguir imaginar o que seria uma sequência ideal para Dark Souls — e é esse o enigma que Dark Souls II tá tentando desvendar.
O Lordvessel quebrado em Majula, Ornstein sem o Smough, gárgulas só que em seis, o rato com o moveset do Sif, as almas dos lordes mencionando os lordes do primeiro jogo… boa parte das referências ao primeiro jogo, quando não são conexões diretas da lore (como por exemplo, os fragmentos de Manus), são extremamente estúpidas e óbvias — o que fortalece todo o ponto de indiferença que DSII tem em relação a seu antecessor.
Mas o que o jogo constrói em cima disso? Dark Souls II é um jogo que se descobre Dark Souls através de suas próprias idiossincrasias ao longo de sua jornada e, com isso, se cria a obra mais aventuresca da trilogia.
Um conto de fadas interativo, com controles que causam estranheza, com um combate mirando a elegância e áreas geograficamente desajustadas, seus caminhos a partir de Majula já configuram uma energia peculiar, que encanta com facilidade — um objetivo um tanto vago, mais de uma opção de rota para seguir e três possíveis chefes iniciais para enfrentar. Muito da exploração desse jogo, mesmo que ludicamente linear em progressão, segue bem os estímulos da curiosidade do jogador — seria melhor seguir em frente para Heide’s Tower e continuar pelo cais dos piratas, ou pegar o caminho da floresta dos gigantes? Diferente do primeiro jogo, onde o jogador tem objetivos fixos mas oportunidades densas para definir sua rota de progressão com diversas mesclas dentro do planejamento, em Dark Souls II é o contrário — a nebulosidade daquela jornada acaba elevando o sentimento de roleplay do jogo, não é mais “por onde eu tenho que ir”, e sim “onde”.
Toda essa confusão fez eu me sentir perdido em certos momentos do jogo, em ocasiões em que eu simplesmente não sabia por onde me aventurar, porque muito da progressão é abstrusa, baseada em itens chave, conversa com NPCs e ordens de rota extremamente desconexas — parece que boa parte daquelas áreas não se encaixam direito na topografia daquele mundo. E é aí que entra parte da magia da interação espacial dentro daquele ambiente: as áreas se assemelham muito à fases individuais de um jogo linear, assim como a estrutura de Demon’s Souls, só que tudo colado em um mapa só. É interessante pensar nisso como um ponto forte de Dark Souls II, um jogo que sacrifica sua lógica espacial e até lúdica (alterando a abordagem de progressão de seu antecessor mesmo seguindo a mesma estrutura) para estimular as sensações causadas através dessa aventura.
E falando sobre sensações, o quão maluco eu iria parecer se eu falasse que pra mim DSII tem o melhor planejamento de áreas de souls? Não necessariamente o level design ou ambientação, mas sim a forma em que a progressão é configurada.
Eu consigo entender a obsessão da From Software com fogo, mas não consigo deixar de achar engraçado — toda área inicial de souls envolve isso. Em Boletaria (1–1) de Demon’s Souls, os inimigos dropam bombas de fogo e turpentina mostrando que são itens úteis contra os falanges (inimigos comuns que se juntam como o chefe da área). Em Dark Souls os inimigos de Undead Burg também dropam bomba de fogo e é super útil contra o Taurus Demon. E chegando na floresta dos gigantes de Dark Souls II… várias armadilhas envolvendo barris explosivos, uma espada imbuída com fogo numa caverna com um lagarto que cospe fogo, uma parede que quebra explodindo, e por aí vai. Eu diria que é uma das áreas mais “convencionais” do jogo junto com a Bastilha no que diz respeito ao level design e progressão, mas gosto muito da mística dela de ser um castelo meio que em ruínas coberto pela floresta.
Heide’s Tower é também uma opção como área inicial proposta pelo jogo, e acho interessante como ela é montada: caminhos super lineares e estreitos que abusam bem da movimentação limitada do jogo, contra golens gigantes tentando te matar a todo custo. É uma área que eu aprendi a gostar com o tempo, porque apesar de ter um layout extremamente simples, é legal pensar na existência dela como uma trilha abaixo do lindo sol de Majula e acima dos mares daquela terra — e também é muito foda ter duas alavancas como recompensa de dois trechos específicos da área, uma para facilitar a luta contra o Dragonrider (o que é bem criativo) e outra pra liberar o Old Dragonslayer. E depois dessa área, chegamos no lugar que eu provavelmente considero a melhor fase do jogo base: o cais dos piratas.
No-Man’s Wharf é a primeira área do jogo em que eu senti a aventura surgindo de uma forma mais mecânica — a progressão da área parte da ideia de uma invasão à um território perturbado e desconhecido. O aggro dos inimigos cobre a área inteira e no começo eu ficava um pouco irritado com isso, mas aí que eu percebi — eles têm alguma culpa de eu estar matando-os e saqueando-os? A forma em que a área é estruturada, de uma forma meio diagonal com casas nos cantos e caminhos envolta, subindo o tempo todo entre as casas até chegar na alavanca com o sino para chamar o navio e descer tudo de volta até o começo da área, assim completando o zig-zag que ela induz você a fazer, é algo que me encanta muito. Tendo como uma ótima opção o uso da mecânica de tochas e iluminação — não só para iluminar o caminho mas também para assustar certos inimigos da área (que têm medo de fogo). É interessante notar também que rolar na água apaga o fogo, o que adiciona um desafio a mais caso você enfrente-os na parte de baixo antes do navio. É uma das minhas áreas favoritas do jogo e também a primeira fase onde ele te estimula a entender um habitat diferente do que já é familiar pro jogador, o que foi uma experiência muito mágica pra mim.
Outra área que se destaca bastante também é Earthen Peak, um moinho estruturado verticalmente cheio de armadilhas e obstáculos que te envenenam — morri MUITO nela e foi muito libertador queimar o moinho pra tirar todo o veneno dele e do pântano que vem antes. Os inimigos batendo e se envenenando com os obstáculos da área me faz pensar o quão idiota é o combate do jogo e suas soluções, e algo que eu aprecio muito dentro disso é o fato dos controles serem lentos, exóticos mas atraentes de certa forma, e as forças externas que te antagonizam serem mais lentas ainda: os mobs do jogo são burros com uma IA simples e um aggro idiota, facilmente loopável e exploitável. E eu gosto bastante disso, porque fortalece a energia simpática do jogo que, de forma verbalizada, é a energia de um jogo que “parece ter sido feito por uma criança” — o combate é lento, pouco desafiador, os inimigos não sabem lutar, a duração dos rolamentos e seus iframes tão presos num atributo que tu precisa upar, as armaduras tão ali pra dano elemental e estilo, os startup frames do parry tem a duração de uma década, e boa parte das builds quebram muito o balanceamento do jogo — mas é aí que tá a graça, mesmo sendo essa bagunça inefável que a jogabilidade é, a união desses fatores resultam em um RPG de ação extremamente divertido e interessante. E voltando pra Earthen Peak, é engraçado como as armadilhas não tão nem perto de serem tão ameaçadoras quanto as de, sei lá, Sen’s Fortress por exemplo, e mesmo assim eu precisei ter um cuidado enorme pra otimizar minhas runs por conta do dano de alguns inimigos (aquelas piromantes imbecis), do dano do VENENO (que é absurdo em comparação aos outros da trilogia) e do posicionamento dos inimigos num geral.
Logo depois da bossfight, você sobe um elevador pra… uma masmorra encima de um… chão de lava? E essa é, por incrivel que pareça, uma das maiores reclamações em certos círculos contra o jogo, e segue justamente o que falei antes: Dark Souls II, em prol de sua fantasia, sacrifica verossimilhança e sentido geográfico de seu mundo para estimular o sensorial. E a chegada em Iron Keep é um dos momentos mais mágicos do jogo — mesmo não sendo o maior fã da área (que por incrível que pareça, é a fase com mais ação no jogo), é absurdo a troca repentina de ambientes e o quanto isso reflete no resto do jogo. Acho que mesmo considerando que DSII talvez não tenha o conjunto de áreas com a maior variedade dentro da trilogia (por questões de consistência), ele definitivamente tem o maior alcance entre as diferenças de configurações delas, principalmente de uma forma temática — começamos pela floresta dos gigantes, fomos até o cais dos piratas e agora estamos falando sobre uma fortaleza de ferro em cima de um piso de lava.
The Gutter, uma das minhas áreas favoritas do jogo, também segue uma progressão bastante criativa: misturando o layout de pisos de madeira mal arranjados que tínhamos em Blighttown + a gimmick da luz apagada similar à de Tomb of the Giants, porque o jogo te força a usar a mecânica das tochas pra iluminar as velas posicionadas pelo caminho e o melhor de tudo é que elas são salvas toda vez que você volta pra bonfire, o que facilita as runbacks e o backtracking da área e deixa a exploração bem mais divertida. Shaded Woods, uma das áreas mais exóticas e subestimadas do jogo, começa com um desafio super interessante: derrotar inimigos invisíveis numa floresta nebulosa — sem lock-on, com pouca visão deles e árvores no meio delimitando seu espaço de combate. A área estimulou muito mais meu cérebro a pensar em diferentes estratégias pra lidar com eles e lootear a área. E logo depois dessa parte, é engraçado pensar que mesmo com um dos inimigos mais fortes do jogo (os leoninos), o maior desafio da área se torna os vasos que amaldiçoam, e eu nunca vou esquecer de quando eu cai no poço de corrosão e quebrei TODO o meu equipamento por ter demorado pra raciocinar o que tava acontecendo. É curioso pensar que você pode pular a área inteira (desde os fantasmas até a parte com os vasos) sem muita dificuldade e ir direto pro boss, porque a forma em que essa área é estruturada é de fato bem esquisita.
Dito tudo isso, minha experiência com cada área do jogo, mesmo que como fases individuais, serve bem para exemplificar o ponto de Dark Souls II ser um jogo com um foco muito maior em aventura do que os outros dois da trilogia, em que a ação é mais presente. Exploração liberada através de dispositivos específicos do mapa, layouts bizarros e pouco intuitivos que atiçam a curiosidade do player de uma forma interessante, formas pouco convencionais de lidar com os desafios que vão além de “matar os inimigos e não morrer”, e por aí vai.
Mas e os chefes? Dark Souls II tem 41 bosses no total e isso é coisa DEMAIS em comparação com os outros dois da trilogia. E mesmo com tudo isso, vários deles seguem alguma mecânica ou quirkzinho específico pra diferenciar a luta, o que deixa as coisas bem mais charmosas na minha cabeça: o Dragonrider podendo ser enfrentado com uma arena maior dependendo da sua progressão na área, o Pursuer que morre com dois tiros de balista (intencionalmente posicionadas pra isso acontecer), a carroça que precisa ser derrotada ou à longa distância ou fechando o portão pra derrubá-la, o Covetous Demon que persegue os undeads dos vasos que você pode quebrar na arena, o Looking Glass Knight que spawna players no meio da luta, e mais um monte de outros detalhes peculiares e criativos que inseriram no meio das lutas.
E tudo isso deixa o jogo não só mais interessante de uma forma lúdica e palpável, mas também sensorial: Dark Souls II não é um jogo de grandes ambições, mas sim de várias ideias e bizarrices que estimulam diversas sensações diferentes. De certa forma, lembra filosofias de RPGs ocidentais passados. Um dos momentos mais memoráveis do jogo pra mim é passar por Shrine of Amana e perceber que só 20% da área é explorável em um caminho extremamente linear e guiado pela canção das Milfanitos, montar estratégias pra lidar com os magos, derrotar o Demon of Song e descobrir que ele tava cantando para atrair humanos e devorá-los — é um dos trechos do jogo que mais brinca com sua fantasia.
É um jogo que não tenta ser grandioso, e até quando tenta ele mantém sua vibe de aventura imaginada por uma criança — como por exemplo, Dragon Eerie, o lar dos dragões.
E é aí que a gente chega nas DLCs. Dungeons grandiosas que são resolvidas através de dispositivos orgânicos dentro do desafio — os “interruptores” de pedra que descem e sobem plataformas em Shulva, o design de progressão lock and key de Brume Tower e o gelo derretido pelas chamas do caos em Eleum Loyce — as três DLCs são monumentos ambiciosos que giram ao redor de puzzles que ajudam a manter o espírito de aventura do jogo.
Se as áreas do jogo base são espaços informais em relação à progressão locais onde são situadas, as DLCs tentam replicar a complexidade de áreas do primeiro Dark Souls com diversos atalhos e trechos detalhados que se interconectam ao longo da progressão — e é na DLC Old Ivory King onde tudo isso se culmina.
Um castelo gigante onde a progressão é baseada num vai e volta extenso através da área, muito de Eleum Loyce me lembra a forma em que as áreas do primeiro jogo são arquitetadas, mas seguindo a própria filosofia de aventura de DSII — você precisa progredir pela área até encontrar o item chave pra conseguir enxergar o Aava, o boss invisível, e derrotar ele descongela metade da área pra tu poder explorar e recrutar os cavaleiros que te ajudam na luta contra o rei de marfim — e a parte mais bizarra disso tudo é que se você for bom o suficiente, pode enfrentar ambos os chefes (o Aava invisível e o Ivory King sem liberar os cavaleiros) e zerar a DLC skippando a área INTEIRA. Eleum Loyce, pra mim, é a melhor área do jogo por ser o melhor exemplo de como a progressão de DSII é estruturada dentro do planejamento das fases.
E aí temos um grande problema: Frigid Outskirts. A área mais única do jogo, e consequentemente… a mais frustrante também. Encontrar um estágio secreto coberto por uma gimmick baseada no clima da área — a tempestade de neve impedindo sua visão, o sol sendo o maior guia para chegar até o boss e os cavalos te perseguindo toda vez que a nevasca chega… é uma das experiências mais únicas que o jogo proporciona. E é engraçado pensar que essa área é um deserto absurdamente grande com pouco loot e poucos inimigos pré-distribuídos, e levando isso em consideração, boa parte do meu apreço pela área tá na sensualidade espacial dela — andar nela com um rumo incerto com seus NPCs como parceiros de jornada enquanto cavalos aparecem do nada dando jumpscare num espaço onde quase nada é visivel, é de fato, uma das coisas mais “Dark Souls II” já feitas.
No fim da DLC, enfrentar o Ivory King é provavelmente meu momento favorito do jogo. É uma luta contra um humanoide onde a experiência se centraliza mais na batalha em equipe, parecendo um xadrez com peças escuras e claras, e aproveitar toda essa cena com a Lucatiel sendo summonável é algo realmente inesquecível.
Com exceção de Eleum Loyce, nada do jogo me “impressiona” exatamente, e muito do que eu aprecio nele é causado por pequenos estímulos ao interagir com a magia dele, com as gracinhas que ele tenta fazer, com o quão patético são certas coisas (um rato gigante que reutiliza o moveset do Sif do primeiro jogo pra causar uma sensação oposta, por exemplo), o quão engraçado o jogo é, o quão humanos e palpáveis são os NPCs, a narrativa, e o quão intimista é essa aventura. É um jogo um tanto infantil, que parece ter sido feito por crianças para impressionar adultos, com suas tentativas imaturas mas charmosas de imaginar algo legal.
Dark Souls II segue sendo uma mentira, um jogo que vive diante à luz de seu antecessor e às sombras de seu sucessor —
“There is no path.
Beyond the scope of light, beyond the reach of Dark…
…what could possibly await us?
And yet, we seek it, insatiably…
Such is our fate.”
e que aborda diversos temas que falam sobre a cronologia dos ciclos da humanidade e de como isso afeta as pessoas na parte ontológica do ser — quem fomos, quem somos e quem seremos. E isso reflete em como o jogo se comporta como sequência de Dark Souls e sua essência dentro da trilogia.
“Sometimes, I feel obsessed… with this insignificant thing called “self”.
But even so, I am compelled to preserve it.
Am I wrong to feel so? Surely you’d do the same, in my shoes?
Maybe we’re all cursed…
From the moment we’re born…”
– Lucatiel of Mirrah
Dark Souls II é um jogo perdido nos confins do espaço-tempo; tanto na situação em que se encontra dentro da trilogia, quanto no imaginário popular que tenta despedaçar sua reputação até o ponto em que um elogio é considerado “revisionismo”, e até mesmo em seu próprio contexto narrativo. Drangleic é uma terra perdida, a utopia dos mentirosos, um refúgio para os sonhadores.
O caso de Dark Souls II é curioso, porque apesar de não ser um jogo exatamente “odiado”, ele é claramente o patinho feio da série: ridicularizado, é feito de vítima por vários pecadores que acabam jogando-o de má fé. Eu só fui descobrir o quão especial esse jogo é ao rejogá-lo, agora no começo desse ano. É um jogo um tanto esquecido, porque o debate ao redor dele nunca muda. São sempre os mesmos discursos rasos sobre o quão ilógico e “mal feito” é seu level design, sobre as minúcias da funcionalidade do combate (sobre ele ser travado, ter hitboxes ruins, ser muito lento, o sistema de ADP ser uma merda, sobre não ter muitos chefes bons, ser pouco desafiador em relação ao primeiro, ser pouco satisfatório em relação ao terceiro, e por aí vai), ao mesmo tempo que elogiam sua rejogabilidade ao redor de uma fama bem concebida em relação ao seu sistema de builds, seu NG+, sua variedade de conteúdo, e por aí vai.
A maior consequência?
Dark Souls II é conhecido por muitos como um “ótimo jogo, péssimo souls”. É um jogo mal visto como parte da trilogia, é esquecido, desconsiderado, irrelevante, a ponto de que tudo isso aí me influenciou a cair no conto de deixar ele por último na primeira vez que joguei.
Mas será que isso é mesmo um ponto negativo da obra? — resposta rápida: não.
O jogo tá constantemente questionando todo o ponto de partida e de conclusão de seu antecessor e tentando colocar o jogador em situações opostas — ao invés de ser vestido com a falsa profecia de ser “o escolhido”, você só tá tentando achar a cura da maldição undead. O ponto central disso tudo — Drangleic — em oposição à Lordran, é uma terra vista como “a cura de todas as maldições” e os NPCs atuam como viajantes descobrindo o lugar junto com o jogador ao longo do tempo. E por fim, o grande diferencial da narrativa de DSII é que aqui um dos maiores efeitos colaterais da maldição undead é que as pessoas acabam se esquecendo de seus passados e perdendo a perspectiva do futuro — o que dialoga bastante com a proposta de Dark Souls mostrar as consequências de um mundo pós-apocalíptico causadas pela ganância humana e seu sucessor tomando consciência disso, já que muito do jogo é a busca por uma “terceira solução” além das eras do fogo e da escuridão.
Dark Souls II, ao invés de tentar reiterar o que o primeiro jogo fez de bom, aborda seus temas mais metafísicos (como os ciclos da humanidade e as eras do fogo e da escuridão, a maldição undead, os reinos convergindo pelo espaço-tempo, etc). Ele pega signos de seu antecessor para contar algo novo com a justificativa de que as pessoas se esqueceram das coisas que já foram contadas com as múltiplas eras que foram passando e com as maldições se alastrando. É um jogo que o tempo todo tenta se esquecer do que é Dark Souls diretamente (mesmo sendo contextualizado diversas vezes como uma sequência direta dos acontecimentos do primeiro) e acaba criando uma identidade própria com base nessa releitura — mudança repentina na temática de dark fantasy para high fantasy, mecânicas esquisitas e até pouco funcionais pro balanceamento do jogo como um ARPG, conteúdo maximalista com mais de 40 bosses e mais de 30 áreas, etc. É claramente o mais diferente em comparação aos outros dois jogos da trilogia e isso reflete bastante no discurso mencionado anteriormente: o que as pessoas querem dizer com “ótimo jogo, péssimo souls”.
E não só isso, como esse discurso também reflete na noção de que Dark Souls II é um ponto isolado no universo da franquia: esquecer o passado é se desprender de seu antecessor e perder a perspectiva do futuro é não conseguir imaginar o que seria uma sequência ideal para Dark Souls — e é esse o enigma que Dark Souls II tá tentando desvendar.
O Lordvessel quebrado em Majula, Ornstein sem o Smough, gárgulas só que em seis, o rato com o moveset do Sif, as almas dos lordes mencionando os lordes do primeiro jogo… boa parte das referências ao primeiro jogo, quando não são conexões diretas da lore (como por exemplo, os fragmentos de Manus), são extremamente estúpidas e óbvias — o que fortalece todo o ponto de indiferença que DSII tem em relação a seu antecessor.
Mas o que o jogo constrói em cima disso? Dark Souls II é um jogo que se descobre Dark Souls através de suas próprias idiossincrasias ao longo de sua jornada e, com isso, se cria a obra mais aventuresca da trilogia.
Um conto de fadas interativo, com controles que causam estranheza, com um combate mirando a elegância e áreas geograficamente desajustadas, seus caminhos a partir de Majula já configuram uma energia peculiar, que encanta com facilidade — um objetivo um tanto vago, mais de uma opção de rota para seguir e três possíveis chefes iniciais para enfrentar. Muito da exploração desse jogo, mesmo que ludicamente linear em progressão, segue bem os estímulos da curiosidade do jogador — seria melhor seguir em frente para Heide’s Tower e continuar pelo cais dos piratas, ou pegar o caminho da floresta dos gigantes? Diferente do primeiro jogo, onde o jogador tem objetivos fixos mas oportunidades densas para definir sua rota de progressão com diversas mesclas dentro do planejamento, em Dark Souls II é o contrário — a nebulosidade daquela jornada acaba elevando o sentimento de roleplay do jogo, não é mais “por onde eu tenho que ir”, e sim “onde”.
Toda essa confusão fez eu me sentir perdido em certos momentos do jogo, em ocasiões em que eu simplesmente não sabia por onde me aventurar, porque muito da progressão é abstrusa, baseada em itens chave, conversa com NPCs e ordens de rota extremamente desconexas — parece que boa parte daquelas áreas não se encaixam direito na topografia daquele mundo. E é aí que entra parte da magia da interação espacial dentro daquele ambiente: as áreas se assemelham muito à fases individuais de um jogo linear, assim como a estrutura de Demon’s Souls, só que tudo colado em um mapa só. É interessante pensar nisso como um ponto forte de Dark Souls II, um jogo que sacrifica sua lógica espacial e até lúdica (alterando a abordagem de progressão de seu antecessor mesmo seguindo a mesma estrutura) para estimular as sensações causadas através dessa aventura.
E falando sobre sensações, o quão maluco eu iria parecer se eu falasse que pra mim DSII tem o melhor planejamento de áreas de souls? Não necessariamente o level design ou ambientação, mas sim a forma em que a progressão é configurada.
Eu consigo entender a obsessão da From Software com fogo, mas não consigo deixar de achar engraçado — toda área inicial de souls envolve isso. Em Boletaria (1–1) de Demon’s Souls, os inimigos dropam bombas de fogo e turpentina mostrando que são itens úteis contra os falanges (inimigos comuns que se juntam como o chefe da área). Em Dark Souls os inimigos de Undead Burg também dropam bomba de fogo e é super útil contra o Taurus Demon. E chegando na floresta dos gigantes de Dark Souls II… várias armadilhas envolvendo barris explosivos, uma espada imbuída com fogo numa caverna com um lagarto que cospe fogo, uma parede que quebra explodindo, e por aí vai. Eu diria que é uma das áreas mais “convencionais” do jogo junto com a Bastilha no que diz respeito ao level design e progressão, mas gosto muito da mística dela de ser um castelo meio que em ruínas coberto pela floresta.
Heide’s Tower é também uma opção como área inicial proposta pelo jogo, e acho interessante como ela é montada: caminhos super lineares e estreitos que abusam bem da movimentação limitada do jogo, contra golens gigantes tentando te matar a todo custo. É uma área que eu aprendi a gostar com o tempo, porque apesar de ter um layout extremamente simples, é legal pensar na existência dela como uma trilha abaixo do lindo sol de Majula e acima dos mares daquela terra — e também é muito foda ter duas alavancas como recompensa de dois trechos específicos da área, uma para facilitar a luta contra o Dragonrider (o que é bem criativo) e outra pra liberar o Old Dragonslayer. E depois dessa área, chegamos no lugar que eu provavelmente considero a melhor fase do jogo base: o cais dos piratas.
No-Man’s Wharf é a primeira área do jogo em que eu senti a aventura surgindo de uma forma mais mecânica — a progressão da área parte da ideia de uma invasão à um território perturbado e desconhecido. O aggro dos inimigos cobre a área inteira e no começo eu ficava um pouco irritado com isso, mas aí que eu percebi — eles têm alguma culpa de eu estar matando-os e saqueando-os? A forma em que a área é estruturada, de uma forma meio diagonal com casas nos cantos e caminhos envolta, subindo o tempo todo entre as casas até chegar na alavanca com o sino para chamar o navio e descer tudo de volta até o começo da área, assim completando o zig-zag que ela induz você a fazer, é algo que me encanta muito. Tendo como uma ótima opção o uso da mecânica de tochas e iluminação — não só para iluminar o caminho mas também para assustar certos inimigos da área (que têm medo de fogo). É interessante notar também que rolar na água apaga o fogo, o que adiciona um desafio a mais caso você enfrente-os na parte de baixo antes do navio. É uma das minhas áreas favoritas do jogo e também a primeira fase onde ele te estimula a entender um habitat diferente do que já é familiar pro jogador, o que foi uma experiência muito mágica pra mim.
Outra área que se destaca bastante também é Earthen Peak, um moinho estruturado verticalmente cheio de armadilhas e obstáculos que te envenenam — morri MUITO nela e foi muito libertador queimar o moinho pra tirar todo o veneno dele e do pântano que vem antes. Os inimigos batendo e se envenenando com os obstáculos da área me faz pensar o quão idiota é o combate do jogo e suas soluções, e algo que eu aprecio muito dentro disso é o fato dos controles serem lentos, exóticos mas atraentes de certa forma, e as forças externas que te antagonizam serem mais lentas ainda: os mobs do jogo são burros com uma IA simples e um aggro idiota, facilmente loopável e exploitável. E eu gosto bastante disso, porque fortalece a energia simpática do jogo que, de forma verbalizada, é a energia de um jogo que “parece ter sido feito por uma criança” — o combate é lento, pouco desafiador, os inimigos não sabem lutar, a duração dos rolamentos e seus iframes tão presos num atributo que tu precisa upar, as armaduras tão ali pra dano elemental e estilo, os startup frames do parry tem a duração de uma década, e boa parte das builds quebram muito o balanceamento do jogo — mas é aí que tá a graça, mesmo sendo essa bagunça inefável que a jogabilidade é, a união desses fatores resultam em um RPG de ação extremamente divertido e interessante. E voltando pra Earthen Peak, é engraçado como as armadilhas não tão nem perto de serem tão ameaçadoras quanto as de, sei lá, Sen’s Fortress por exemplo, e mesmo assim eu precisei ter um cuidado enorme pra otimizar minhas runs por conta do dano de alguns inimigos (aquelas piromantes imbecis), do dano do VENENO (que é absurdo em comparação aos outros da trilogia) e do posicionamento dos inimigos num geral.
Logo depois da bossfight, você sobe um elevador pra… uma masmorra encima de um… chão de lava? E essa é, por incrivel que pareça, uma das maiores reclamações em certos círculos contra o jogo, e segue justamente o que falei antes: Dark Souls II, em prol de sua fantasia, sacrifica verossimilhança e sentido geográfico de seu mundo para estimular o sensorial. E a chegada em Iron Keep é um dos momentos mais mágicos do jogo — mesmo não sendo o maior fã da área (que por incrível que pareça, é a fase com mais ação no jogo), é absurdo a troca repentina de ambientes e o quanto isso reflete no resto do jogo. Acho que mesmo considerando que DSII talvez não tenha o conjunto de áreas com a maior variedade dentro da trilogia (por questões de consistência), ele definitivamente tem o maior alcance entre as diferenças de configurações delas, principalmente de uma forma temática — começamos pela floresta dos gigantes, fomos até o cais dos piratas e agora estamos falando sobre uma fortaleza de ferro em cima de um piso de lava.
The Gutter, uma das minhas áreas favoritas do jogo, também segue uma progressão bastante criativa: misturando o layout de pisos de madeira mal arranjados que tínhamos em Blighttown + a gimmick da luz apagada similar à de Tomb of the Giants, porque o jogo te força a usar a mecânica das tochas pra iluminar as velas posicionadas pelo caminho e o melhor de tudo é que elas são salvas toda vez que você volta pra bonfire, o que facilita as runbacks e o backtracking da área e deixa a exploração bem mais divertida. Shaded Woods, uma das áreas mais exóticas e subestimadas do jogo, começa com um desafio super interessante: derrotar inimigos invisíveis numa floresta nebulosa — sem lock-on, com pouca visão deles e árvores no meio delimitando seu espaço de combate. A área estimulou muito mais meu cérebro a pensar em diferentes estratégias pra lidar com eles e lootear a área. E logo depois dessa parte, é engraçado pensar que mesmo com um dos inimigos mais fortes do jogo (os leoninos), o maior desafio da área se torna os vasos que amaldiçoam, e eu nunca vou esquecer de quando eu cai no poço de corrosão e quebrei TODO o meu equipamento por ter demorado pra raciocinar o que tava acontecendo. É curioso pensar que você pode pular a área inteira (desde os fantasmas até a parte com os vasos) sem muita dificuldade e ir direto pro boss, porque a forma em que essa área é estruturada é de fato bem esquisita.
Dito tudo isso, minha experiência com cada área do jogo, mesmo que como fases individuais, serve bem para exemplificar o ponto de Dark Souls II ser um jogo com um foco muito maior em aventura do que os outros dois da trilogia, em que a ação é mais presente. Exploração liberada através de dispositivos específicos do mapa, layouts bizarros e pouco intuitivos que atiçam a curiosidade do player de uma forma interessante, formas pouco convencionais de lidar com os desafios que vão além de “matar os inimigos e não morrer”, e por aí vai.
Mas e os chefes? Dark Souls II tem 41 bosses no total e isso é coisa DEMAIS em comparação com os outros dois da trilogia. E mesmo com tudo isso, vários deles seguem alguma mecânica ou quirkzinho específico pra diferenciar a luta, o que deixa as coisas bem mais charmosas na minha cabeça: o Dragonrider podendo ser enfrentado com uma arena maior dependendo da sua progressão na área, o Pursuer que morre com dois tiros de balista (intencionalmente posicionadas pra isso acontecer), a carroça que precisa ser derrotada ou à longa distância ou fechando o portão pra derrubá-la, o Covetous Demon que persegue os undeads dos vasos que você pode quebrar na arena, o Looking Glass Knight que spawna players no meio da luta, e mais um monte de outros detalhes peculiares e criativos que inseriram no meio das lutas.
E tudo isso deixa o jogo não só mais interessante de uma forma lúdica e palpável, mas também sensorial: Dark Souls II não é um jogo de grandes ambições, mas sim de várias ideias e bizarrices que estimulam diversas sensações diferentes. De certa forma, lembra filosofias de RPGs ocidentais passados. Um dos momentos mais memoráveis do jogo pra mim é passar por Shrine of Amana e perceber que só 20% da área é explorável em um caminho extremamente linear e guiado pela canção das Milfanitos, montar estratégias pra lidar com os magos, derrotar o Demon of Song e descobrir que ele tava cantando para atrair humanos e devorá-los — é um dos trechos do jogo que mais brinca com sua fantasia.
É um jogo que não tenta ser grandioso, e até quando tenta ele mantém sua vibe de aventura imaginada por uma criança — como por exemplo, Dragon Eerie, o lar dos dragões.
E é aí que a gente chega nas DLCs. Dungeons grandiosas que são resolvidas através de dispositivos orgânicos dentro do desafio — os “interruptores” de pedra que descem e sobem plataformas em Shulva, o design de progressão lock and key de Brume Tower e o gelo derretido pelas chamas do caos em Eleum Loyce — as três DLCs são monumentos ambiciosos que giram ao redor de puzzles que ajudam a manter o espírito de aventura do jogo.
Se as áreas do jogo base são espaços informais em relação à progressão locais onde são situadas, as DLCs tentam replicar a complexidade de áreas do primeiro Dark Souls com diversos atalhos e trechos detalhados que se interconectam ao longo da progressão — e é na DLC Old Ivory King onde tudo isso se culmina.
Um castelo gigante onde a progressão é baseada num vai e volta extenso através da área, muito de Eleum Loyce me lembra a forma em que as áreas do primeiro jogo são arquitetadas, mas seguindo a própria filosofia de aventura de DSII — você precisa progredir pela área até encontrar o item chave pra conseguir enxergar o Aava, o boss invisível, e derrotar ele descongela metade da área pra tu poder explorar e recrutar os cavaleiros que te ajudam na luta contra o rei de marfim — e a parte mais bizarra disso tudo é que se você for bom o suficiente, pode enfrentar ambos os chefes (o Aava invisível e o Ivory King sem liberar os cavaleiros) e zerar a DLC skippando a área INTEIRA. Eleum Loyce, pra mim, é a melhor área do jogo por ser o melhor exemplo de como a progressão de DSII é estruturada dentro do planejamento das fases.
E aí temos um grande problema: Frigid Outskirts. A área mais única do jogo, e consequentemente… a mais frustrante também. Encontrar um estágio secreto coberto por uma gimmick baseada no clima da área — a tempestade de neve impedindo sua visão, o sol sendo o maior guia para chegar até o boss e os cavalos te perseguindo toda vez que a nevasca chega… é uma das experiências mais únicas que o jogo proporciona. E é engraçado pensar que essa área é um deserto absurdamente grande com pouco loot e poucos inimigos pré-distribuídos, e levando isso em consideração, boa parte do meu apreço pela área tá na sensualidade espacial dela — andar nela com um rumo incerto com seus NPCs como parceiros de jornada enquanto cavalos aparecem do nada dando jumpscare num espaço onde quase nada é visivel, é de fato, uma das coisas mais “Dark Souls II” já feitas.
No fim da DLC, enfrentar o Ivory King é provavelmente meu momento favorito do jogo. É uma luta contra um humanoide onde a experiência se centraliza mais na batalha em equipe, parecendo um xadrez com peças escuras e claras, e aproveitar toda essa cena com a Lucatiel sendo summonável é algo realmente inesquecível.
Com exceção de Eleum Loyce, nada do jogo me “impressiona” exatamente, e muito do que eu aprecio nele é causado por pequenos estímulos ao interagir com a magia dele, com as gracinhas que ele tenta fazer, com o quão patético são certas coisas (um rato gigante que reutiliza o moveset do Sif do primeiro jogo pra causar uma sensação oposta, por exemplo), o quão engraçado o jogo é, o quão humanos e palpáveis são os NPCs, a narrativa, e o quão intimista é essa aventura. É um jogo um tanto infantil, que parece ter sido feito por crianças para impressionar adultos, com suas tentativas imaturas mas charmosas de imaginar algo legal.
Dark Souls II segue sendo uma mentira, um jogo que vive diante à luz de seu antecessor e às sombras de seu sucessor —
“There is no path.
Beyond the scope of light, beyond the reach of Dark…
…what could possibly await us?
And yet, we seek it, insatiably…
Such is our fate.”
e que aborda diversos temas que falam sobre a cronologia dos ciclos da humanidade e de como isso afeta as pessoas na parte ontológica do ser — quem fomos, quem somos e quem seremos. E isso reflete em como o jogo se comporta como sequência de Dark Souls e sua essência dentro da trilogia.
“Sometimes, I feel obsessed… with this insignificant thing called “self”.
But even so, I am compelled to preserve it.
Am I wrong to feel so? Surely you’d do the same, in my shoes?
Maybe we’re all cursed…
From the moment we’re born…”
– Lucatiel of Mirrah
Sanabi
2022
no boktai 1 tem um momento que você chega numa área e o jogo te dá uma sequência de quatro dígitos numéricos numa placa, dizendo que é uma senha importante que você precisa memorizar pra conseguir passar de uma parte lá na frente. a dungeon em si envolve muitas operações matemáticas (pra dificultar a memorização dessa sequência), mas mesmo se você anotar a tal sequência, quando precisa digitá-la pra abrir a última porta, vai dizer que está errado. se você voltar pro começo da área de novo, o número vai ter mudado - anote mais uma vez, vá até o final, tente de novo, e vai estar errado. a resolução desse quebra cabeça é que essa senha é, na verdade, a hora marcada no seu relógio de verdade, fora do jogo.
os três jogos são cheios desses momentos de hiperrealidade. o que os difere de qualquer experimento moderno de realidade aumentada em que aparece um pokémon no seu quarto é o vetor. não é o jogo que está vazando no nosso mundo - é o nosso mundo que está vazando pra dentro dele. pequenas coisas que para os personagens não seriam explicadas dentro da ficção (p: por que o sol ficou mais fraco logo agora que eu preciso que ele fique mais fraco pois essa área tem vento que me atrapalha dependendo da intensidade da luz solar? r: pois deus existe e me abençoou, r2: pois eu cobri a fita do meu gba e fiz sombra, r3: porque eu diminuí a luz do sol mudando uma opção no emulador) são manipuladas por um mundo que eles não habitam, entendem ou tocam. a fé que ele tem no que existe dentro de si mesmo é tamanha que só pode inspirar. se sua mensagem final é que, é claro, o futuro depende de nós (como todos os jogos da kojipro) e das nossas pequenas ações diárias e iterativas, a força da mensagem é ainda mais intensa visto que ele mesmo depende dessas pequenas ações de nossa parte que fazem toda a diferença na dificuldade e na verdade que eles enfrentam lá dentro.
a estética faroeste-gótica com todas as cores mais lindas que existem em um mundo que está em estado terminal e precisa demonstrar que a esperança não vem do quão legal era mas do quão legal *é* porque o mundo que temos para restaurar é o do presente casa muito bem com uma história de iconoclastia que é simultaneamente avassaladora e reverente, sendo nostálgica de coisas que estão aqui, ainda, só pensando em quando elas não vão estar mais.
umas semanas atrás eu sonhei que alguém importante me dizia pra jogar esse jogo, e eu resolvi acatar porque não pensava em boktai há anos. erro meu! acredito agora, sem muitas ressalvas, que esse é o melhor jogo do mundo. mas mesmo se não for, fico imaginando quais foram as respostas dele pra essas pequenas vazadas tecnognósticas que ele insiste em ficar fazendo em outras realidades. presumo que seja r mesmo.
os três jogos são cheios desses momentos de hiperrealidade. o que os difere de qualquer experimento moderno de realidade aumentada em que aparece um pokémon no seu quarto é o vetor. não é o jogo que está vazando no nosso mundo - é o nosso mundo que está vazando pra dentro dele. pequenas coisas que para os personagens não seriam explicadas dentro da ficção (p: por que o sol ficou mais fraco logo agora que eu preciso que ele fique mais fraco pois essa área tem vento que me atrapalha dependendo da intensidade da luz solar? r: pois deus existe e me abençoou, r2: pois eu cobri a fita do meu gba e fiz sombra, r3: porque eu diminuí a luz do sol mudando uma opção no emulador) são manipuladas por um mundo que eles não habitam, entendem ou tocam. a fé que ele tem no que existe dentro de si mesmo é tamanha que só pode inspirar. se sua mensagem final é que, é claro, o futuro depende de nós (como todos os jogos da kojipro) e das nossas pequenas ações diárias e iterativas, a força da mensagem é ainda mais intensa visto que ele mesmo depende dessas pequenas ações de nossa parte que fazem toda a diferença na dificuldade e na verdade que eles enfrentam lá dentro.
a estética faroeste-gótica com todas as cores mais lindas que existem em um mundo que está em estado terminal e precisa demonstrar que a esperança não vem do quão legal era mas do quão legal *é* porque o mundo que temos para restaurar é o do presente casa muito bem com uma história de iconoclastia que é simultaneamente avassaladora e reverente, sendo nostálgica de coisas que estão aqui, ainda, só pensando em quando elas não vão estar mais.
umas semanas atrás eu sonhei que alguém importante me dizia pra jogar esse jogo, e eu resolvi acatar porque não pensava em boktai há anos. erro meu! acredito agora, sem muitas ressalvas, que esse é o melhor jogo do mundo. mas mesmo se não for, fico imaginando quais foram as respostas dele pra essas pequenas vazadas tecnognósticas que ele insiste em ficar fazendo em outras realidades. presumo que seja r mesmo.
Demon's Souls
2009
Silent Hill 2
2001
I have a more sympathetic view of James than I think most people do.
At the very least, I believe that my understanding of the game is less emphatic on his flaws and failings than an awful lot of the interpretations I’ve seen others form in fifteen-plus years of playing, thinking about and growing into Silent Hill 2. I also think a lot of these interpretations scrub out a lot of Mary’s worst traits and have a very one-dimensional view of the two’s marriage and relationship, especially given the all-too-great extent to which I can find myself in James’ shoes and understand just what being in the sorts of situations he’s been thrust into can do to you. This isn’t to say that I think Mary is outright an antagonistic figure, that she was necessarily an abusive partner, or that James’ reaction to that pressure coming to a head was justified, nor do I think James is necessarily an innocent or pure soul. I mean, let’s face it, Silent Hill 2 is a 12-hour manifesto about just how much James Sunderland sucks, but… Mary sucks, too. So does Angela. So does Eddie. So does Maria. So do I, and so do you. Don’t we all?
―――――――――――――――――――――――――――――
In spite of Silent Hill 2’s unapologetic and uncompromising portrayal of the rot within the souls of its cast, we’re never given reason to believe that these people necessarily have to be defined by their pain and the maladaptive manners in which it manifests. Not the banality of Americana left to decay nor a grindhouse of grisly guts-and-gore undercut the beating heart within each one of these individuals’ chests; if anything the desolate atmosphere and steady throughline of sorrow amplify the moments of kindness and connection even more.
James, for all of his single-minded spaciness and passive suicidal ideation, routinely makes an effort to treat the people he encounters with dignity and respect, and that effort is often reciprocated if not paid forward in its entirety — though Angela’s concern for James is largely rooted in bouts of self-depreciation and self-loathing, there is still a consistent pattern of the two wishing one another well as they part ways. Even Eddie, who seems to go out of his way to alienate everybody he meets so that he can be truly alone and therefore exempt from judgment, makes a point of awkwardly telling James to take care of himself after their first meeting. While Laura appears to be little more than a menace for much of the story’s runtime, even she pays James’ concern for her safety forward once it becomes clear that they have a common goal in the Lakeview Hotel.
Each of these people are suffering in their own way, and have convinced themselves for one reason or another that they must carry their burdens alone — even James, for all of his tendencies to try and support others where he can, insists on marching upon his chosen path in solitude where he can help it. But even then they appear to acknowledge that perhaps it’s better to be united through suffering, even temporarily and even through acts as evidently-insignificant as acknowledging one another’s hardship. Misery loves company, and even in the midst of a corporeal Hell each and every one of these people are willing to let their innate tendencies towards decency and understanding shine through even as they teeter upon the precipice of their own individual downward spirals. Their best traits and worst traits exist not as compartmentalized aspects that function in dichotomy to one another, but as two parts of a greater whole. They are human. They are people. Silent Hill 2 concerns itself more than perhaps anything else with this duality that exists in all people, the eternal conflict warring within between our best impulses and our worst impulses.
It’s only fitting, then, that each of these people have already let their worst traits win once, before the story even started. Angela, Eddie and most infamously James have all already taken a life before fleeing to Silent Hill, the darkness within them exacerbated and pushed to an irreconcilable breaking point by circumstances largely outside their control. Angela and Eddie are largely victims who were burdened with their worst traits by a lifetime of abuse at the hands of their family and peers respectively, whereas James’ more general negative personality traits and failings were ingrained by systemic prejudice and toxic ideals of manhood and men’s role in a relationship being strained by a marriage slowly falling apart over the course of three years. It isn’t their fault that they have these negative aspects, nobody is born bad (Laura perhaps represents this more than anybody; as a child she is inherently innocent and sees Silent Hill as a normal town for she has no darkness to exploit), but as unfair as the responsibility of keeping these traits in check might be it is a responsibility nonetheless.
As much as I think Angela’s family and (to a lesser extent) Eddie’s bullies had it coming — I am a full-faced proponent of victims’ right to revenge — I think most people would agree that you aren’t allowed to hurt the innocent people around you just because you have been hurt in turn, and that self-destruction often leaves little but a smoldering crater where a person once stood. Angela’s hostility towards James’ attempts at extending a hand (while understandable and outright justified considering James’ own sins and views of women) does little but dig her further into the hole that she was kicked down into as a little girl, and Eddie’s slow descent into serial murder makes him even more of a sinner than the bullies who pushed him to the brink to begin with. Both of these people are given chances to take steps to right their personal wrongs and make an effort to let their best traits emerge victorious, but eventually choose to spiral out and allow themselves to be consumed by their pain, sorrow and trauma. The story frames them with nothing but a level of empathy and respect still largely unseen in game narratives even to this day, and yet it remains frank and up-front about the simple truth of the matter: you cannot heal if you don’t choose to do so.
Where does that leave James, then? What is his role in Silent Hill 2’s portrayal of the eternal struggle between the good in us and the bad in us? His fate is in your hands. As in, you, the player’s.
You see, James is in a unique position compared to the rest of the cast. While he has a backstory, personality traits, characterization and dialogue that is wholly independent of player input, at the end of the day the choices he makes and the ways in which he carries forward in the face of despair are wholly up to the player. Silent Hill 2 actually isn’t a game about killing monsters and surviving in an environment born and bred for hostility. Konami’s been lying to you this entire time, the guns aren’t actually guns. Silent Hill 2 is a game about a man navigating the tightrope path to recovery and trying to make use of the resources presented to him to accept himself, heal, and let go. Will he make it to the other side, shaken and scarred but still breathing, or will he let himself fall and be sent into the depths below?
It’s all up to you.
―――――――――――――――――――――――――――――
You often see people talk about how Silent Hill 2 is actually a pretty easy game all things considered, more or less nixing the “survival” element of “survival horror” wholesale, and I’ve seen a lot of people make a connection between this and James’ apparent need to be coddled and supported unconditionally. I get where they’re coming from there, but I think that Silent Hill 2’s abundance of resources and player agency as far as minute-to-minute gameplay decisions serves a greater narrative purpose. I don’t mean to sound like an “it was all in his head” ass creepypasta dude here, but work with me: weapons and ammo aren’t actually weapons and ammo, health packs aren’t actually health packs, monsters aren’t actually monsters. These are manifestations of James’ ability to fend off negative impulses and the bad parts of himself rearing their head. These are manifestations of his ability to take care of himself and know how to healthily cope when he eventually falters and stumbles on the road to recovery and normality. These are dark thoughts and self-destructive ideations raising up from our subconscious to haunt us, always lurking in the shadows and ready to strike if we aren’t careful. Even Maria’s role as a literal sexual temptress, while certainly representing James’ idea of an ideal, perfect Mary and his desire for gratification battling with his need for catharsis and honesty with himself, embodies the idea that temptation and indulgence in negative thoughts and habits are a means by which we lose touch with the greater picture as far as our mental health goes.
After a point of stumbling around in the dark and eventually making use of whatever resources you can — medication, therapy, the support of friends and loved ones — you begin to get a feel for your own psyche and learn to know yourself, and you also know how to deal with problems when they come up. This is what Silent Hill 2’s gameplay loop is ultimately about, and why James’ minute-to-minute gameplay decisions influence the way his story ends up rather than compartmentalized routes or story choices like most games that play with the idea of multiple endings. If James fails to take care of himself and makes a point of letting his worst traits get the best of him over and over again, then it’s no surprise that his story ends with him viewing redemption as only coming through his own death. If he gives in to temptation and focuses on the wrong things to try and fill the void left by his trauma, he’ll end up stuck in the same situation and look for the wrong way out, repeating the cycle over and over again until something changes.
But — if James is smart, and careful, and puts in the work and effort to take care of himself and fight all of the rot inside him by using the resources and good habits he’s picked up along the way — he might not be able to really ever get better, but he can live with it. He can start to define himself by his best traits again. He can heal. He can look at all the pain that’s got him to where he is now, turn his back, and leave it all behind.
―――――――――――――――――――――――――――――
The greater Silent Hill fandom has found itself locked in arguments for years over which ending of Silent Hill 2 is canon, the “true” ending, or the one that the developers had in mind when crafting the rest of the story. I understand why — and I understand why people find the framing of Silent Hill 2 as a cautionary tale with the In Water ending compelling — but I think to view it all as a series of compartmentalized possibilities and not as individual parts of the same greater statement is cynical and dehumanizing at absolute best. Silent Hill 2 isn’t about one specific outcome of the duality within us all, but exploring the duality itself and how different people might struggle with it in different ways. At its barest core, it isn’t a game about healing, succumbing, or being trapped in self-perpetuating cycles — it is a game about the very act of struggling and the multitudes that this act encompasses. It understands what it means to grieve, to fear, to hurt, to hate, to decay. It understands what it means to relish, to rejoice, to love, to grow, to live. And it understands more than just about anything else in the world the spaces in the margins where these things meet, intersect, clash and struggle for power.
Myself, though, I have my preferences as far as how I like to view the story ending. I find myself in James’ shoes more and more often these days. It’s been a really rough eighteen months or so, man. It just keeps getting worse. Some of it is through circumstances out of my control, some of it is my own doing, but all of it is mine to deal with and mine to choose what to learn from. I’ve lived the selfish, petulant parts of James who doesn’t want anything more than to be loved unconditionally without concern for the people doing the loving. I’ve lived the same experiences as the James who puts his neck out for the people around him only to get bitten and drained dry in turn. I’ve done much the same as James when he lashes out and hurts people around him to try and make sense of his own pain. I’ve been in the same position of James where I have to let people take advantage of me by letting them hurt me and then acting as their solid rock of support immediately after. More often than not these days I’m the James that we see at the very beginning of his descent into Silent Hill: glass-eyed and empty of the spirit, moving on auto pilot as if not quite sure he’s really here to begin with.
But I don’t want to feel this way forever. I don’t think anybody does. Silent Hill 2 understands that, and it understands that getting better isn’t as easy as it might sound on paper. But I’m trying, man, I really am. I want to let the best parts of me prosper and emerge victorious over all of the worst parts of me. I want to return to the point where better days seem like they’re on the horizon and not twenty miles behind me.
And I want to one day be able to look at all of this that I’m experiencing, turn my back on it, and leave.
At the very least, I believe that my understanding of the game is less emphatic on his flaws and failings than an awful lot of the interpretations I’ve seen others form in fifteen-plus years of playing, thinking about and growing into Silent Hill 2. I also think a lot of these interpretations scrub out a lot of Mary’s worst traits and have a very one-dimensional view of the two’s marriage and relationship, especially given the all-too-great extent to which I can find myself in James’ shoes and understand just what being in the sorts of situations he’s been thrust into can do to you. This isn’t to say that I think Mary is outright an antagonistic figure, that she was necessarily an abusive partner, or that James’ reaction to that pressure coming to a head was justified, nor do I think James is necessarily an innocent or pure soul. I mean, let’s face it, Silent Hill 2 is a 12-hour manifesto about just how much James Sunderland sucks, but… Mary sucks, too. So does Angela. So does Eddie. So does Maria. So do I, and so do you. Don’t we all?
―――――――――――――――――――――――――――――
In spite of Silent Hill 2’s unapologetic and uncompromising portrayal of the rot within the souls of its cast, we’re never given reason to believe that these people necessarily have to be defined by their pain and the maladaptive manners in which it manifests. Not the banality of Americana left to decay nor a grindhouse of grisly guts-and-gore undercut the beating heart within each one of these individuals’ chests; if anything the desolate atmosphere and steady throughline of sorrow amplify the moments of kindness and connection even more.
James, for all of his single-minded spaciness and passive suicidal ideation, routinely makes an effort to treat the people he encounters with dignity and respect, and that effort is often reciprocated if not paid forward in its entirety — though Angela’s concern for James is largely rooted in bouts of self-depreciation and self-loathing, there is still a consistent pattern of the two wishing one another well as they part ways. Even Eddie, who seems to go out of his way to alienate everybody he meets so that he can be truly alone and therefore exempt from judgment, makes a point of awkwardly telling James to take care of himself after their first meeting. While Laura appears to be little more than a menace for much of the story’s runtime, even she pays James’ concern for her safety forward once it becomes clear that they have a common goal in the Lakeview Hotel.
Each of these people are suffering in their own way, and have convinced themselves for one reason or another that they must carry their burdens alone — even James, for all of his tendencies to try and support others where he can, insists on marching upon his chosen path in solitude where he can help it. But even then they appear to acknowledge that perhaps it’s better to be united through suffering, even temporarily and even through acts as evidently-insignificant as acknowledging one another’s hardship. Misery loves company, and even in the midst of a corporeal Hell each and every one of these people are willing to let their innate tendencies towards decency and understanding shine through even as they teeter upon the precipice of their own individual downward spirals. Their best traits and worst traits exist not as compartmentalized aspects that function in dichotomy to one another, but as two parts of a greater whole. They are human. They are people. Silent Hill 2 concerns itself more than perhaps anything else with this duality that exists in all people, the eternal conflict warring within between our best impulses and our worst impulses.
It’s only fitting, then, that each of these people have already let their worst traits win once, before the story even started. Angela, Eddie and most infamously James have all already taken a life before fleeing to Silent Hill, the darkness within them exacerbated and pushed to an irreconcilable breaking point by circumstances largely outside their control. Angela and Eddie are largely victims who were burdened with their worst traits by a lifetime of abuse at the hands of their family and peers respectively, whereas James’ more general negative personality traits and failings were ingrained by systemic prejudice and toxic ideals of manhood and men’s role in a relationship being strained by a marriage slowly falling apart over the course of three years. It isn’t their fault that they have these negative aspects, nobody is born bad (Laura perhaps represents this more than anybody; as a child she is inherently innocent and sees Silent Hill as a normal town for she has no darkness to exploit), but as unfair as the responsibility of keeping these traits in check might be it is a responsibility nonetheless.
As much as I think Angela’s family and (to a lesser extent) Eddie’s bullies had it coming — I am a full-faced proponent of victims’ right to revenge — I think most people would agree that you aren’t allowed to hurt the innocent people around you just because you have been hurt in turn, and that self-destruction often leaves little but a smoldering crater where a person once stood. Angela’s hostility towards James’ attempts at extending a hand (while understandable and outright justified considering James’ own sins and views of women) does little but dig her further into the hole that she was kicked down into as a little girl, and Eddie’s slow descent into serial murder makes him even more of a sinner than the bullies who pushed him to the brink to begin with. Both of these people are given chances to take steps to right their personal wrongs and make an effort to let their best traits emerge victorious, but eventually choose to spiral out and allow themselves to be consumed by their pain, sorrow and trauma. The story frames them with nothing but a level of empathy and respect still largely unseen in game narratives even to this day, and yet it remains frank and up-front about the simple truth of the matter: you cannot heal if you don’t choose to do so.
Where does that leave James, then? What is his role in Silent Hill 2’s portrayal of the eternal struggle between the good in us and the bad in us? His fate is in your hands. As in, you, the player’s.
You see, James is in a unique position compared to the rest of the cast. While he has a backstory, personality traits, characterization and dialogue that is wholly independent of player input, at the end of the day the choices he makes and the ways in which he carries forward in the face of despair are wholly up to the player. Silent Hill 2 actually isn’t a game about killing monsters and surviving in an environment born and bred for hostility. Konami’s been lying to you this entire time, the guns aren’t actually guns. Silent Hill 2 is a game about a man navigating the tightrope path to recovery and trying to make use of the resources presented to him to accept himself, heal, and let go. Will he make it to the other side, shaken and scarred but still breathing, or will he let himself fall and be sent into the depths below?
It’s all up to you.
―――――――――――――――――――――――――――――
You often see people talk about how Silent Hill 2 is actually a pretty easy game all things considered, more or less nixing the “survival” element of “survival horror” wholesale, and I’ve seen a lot of people make a connection between this and James’ apparent need to be coddled and supported unconditionally. I get where they’re coming from there, but I think that Silent Hill 2’s abundance of resources and player agency as far as minute-to-minute gameplay decisions serves a greater narrative purpose. I don’t mean to sound like an “it was all in his head” ass creepypasta dude here, but work with me: weapons and ammo aren’t actually weapons and ammo, health packs aren’t actually health packs, monsters aren’t actually monsters. These are manifestations of James’ ability to fend off negative impulses and the bad parts of himself rearing their head. These are manifestations of his ability to take care of himself and know how to healthily cope when he eventually falters and stumbles on the road to recovery and normality. These are dark thoughts and self-destructive ideations raising up from our subconscious to haunt us, always lurking in the shadows and ready to strike if we aren’t careful. Even Maria’s role as a literal sexual temptress, while certainly representing James’ idea of an ideal, perfect Mary and his desire for gratification battling with his need for catharsis and honesty with himself, embodies the idea that temptation and indulgence in negative thoughts and habits are a means by which we lose touch with the greater picture as far as our mental health goes.
After a point of stumbling around in the dark and eventually making use of whatever resources you can — medication, therapy, the support of friends and loved ones — you begin to get a feel for your own psyche and learn to know yourself, and you also know how to deal with problems when they come up. This is what Silent Hill 2’s gameplay loop is ultimately about, and why James’ minute-to-minute gameplay decisions influence the way his story ends up rather than compartmentalized routes or story choices like most games that play with the idea of multiple endings. If James fails to take care of himself and makes a point of letting his worst traits get the best of him over and over again, then it’s no surprise that his story ends with him viewing redemption as only coming through his own death. If he gives in to temptation and focuses on the wrong things to try and fill the void left by his trauma, he’ll end up stuck in the same situation and look for the wrong way out, repeating the cycle over and over again until something changes.
But — if James is smart, and careful, and puts in the work and effort to take care of himself and fight all of the rot inside him by using the resources and good habits he’s picked up along the way — he might not be able to really ever get better, but he can live with it. He can start to define himself by his best traits again. He can heal. He can look at all the pain that’s got him to where he is now, turn his back, and leave it all behind.
―――――――――――――――――――――――――――――
The greater Silent Hill fandom has found itself locked in arguments for years over which ending of Silent Hill 2 is canon, the “true” ending, or the one that the developers had in mind when crafting the rest of the story. I understand why — and I understand why people find the framing of Silent Hill 2 as a cautionary tale with the In Water ending compelling — but I think to view it all as a series of compartmentalized possibilities and not as individual parts of the same greater statement is cynical and dehumanizing at absolute best. Silent Hill 2 isn’t about one specific outcome of the duality within us all, but exploring the duality itself and how different people might struggle with it in different ways. At its barest core, it isn’t a game about healing, succumbing, or being trapped in self-perpetuating cycles — it is a game about the very act of struggling and the multitudes that this act encompasses. It understands what it means to grieve, to fear, to hurt, to hate, to decay. It understands what it means to relish, to rejoice, to love, to grow, to live. And it understands more than just about anything else in the world the spaces in the margins where these things meet, intersect, clash and struggle for power.
Myself, though, I have my preferences as far as how I like to view the story ending. I find myself in James’ shoes more and more often these days. It’s been a really rough eighteen months or so, man. It just keeps getting worse. Some of it is through circumstances out of my control, some of it is my own doing, but all of it is mine to deal with and mine to choose what to learn from. I’ve lived the selfish, petulant parts of James who doesn’t want anything more than to be loved unconditionally without concern for the people doing the loving. I’ve lived the same experiences as the James who puts his neck out for the people around him only to get bitten and drained dry in turn. I’ve done much the same as James when he lashes out and hurts people around him to try and make sense of his own pain. I’ve been in the same position of James where I have to let people take advantage of me by letting them hurt me and then acting as their solid rock of support immediately after. More often than not these days I’m the James that we see at the very beginning of his descent into Silent Hill: glass-eyed and empty of the spirit, moving on auto pilot as if not quite sure he’s really here to begin with.
But I don’t want to feel this way forever. I don’t think anybody does. Silent Hill 2 understands that, and it understands that getting better isn’t as easy as it might sound on paper. But I’m trying, man, I really am. I want to let the best parts of me prosper and emerge victorious over all of the worst parts of me. I want to return to the point where better days seem like they’re on the horizon and not twenty miles behind me.
And I want to one day be able to look at all of this that I’m experiencing, turn my back on it, and leave.