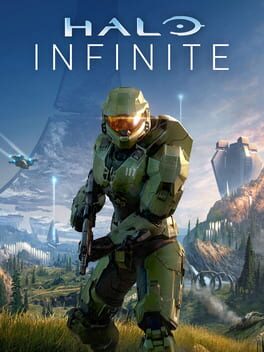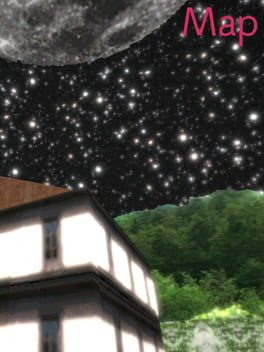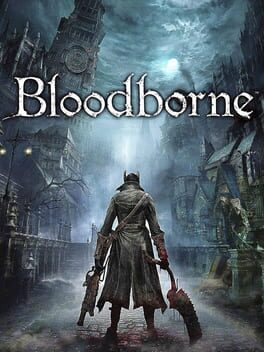Simulacro
11 reviews liked by Simulacro
Rollerdrome
2022
Carnificina rítimica: uma série de mecânicas pequena, mas robusta, que as põe para trabalhar em conjunto com o intuito de criar um loop instigante de pequenas decisões imediatas - basicamente, por alguns momentos, é o ideal platônico de fluxo em gameplay que muitos jogos de ação/arcade buscam. Rollerdrome, em ideia, é brabo assim. Na prática, porém, senti que faltou um encaixe melhor no papel de skill moves no todo - executá-las é vezes divertido, vezes irritante, e engajar com o sistema não é tão recompensante quanto o esforço de ocupar RAM cerebral com as receitas de manobra durante o tiroteio.
Infelizmente, insiste contra sua própria forma através de meta-objetivos diversos e conflitantes - você quer jogar pela diversão, pelo score, ou pra passar de fase? Idealmente, essas respostas viriam da mesma via: tudo ao mesmo tempo. O jogo, porém, te bota pra jogar de formas bem distintas conforme o objetivo, com a liberação de novas fases sendo dependentes de desafios que provocam repetição desnecessária e quebra do fluxo do jogo - até fazer pazes com tudo que precisava pra liberar a fase final, não estava me aproveitando. Cortar itens de uma lista semi-arbitrária é uma melodia muito oposta ao ritmo frenético da arena.
Por trás das arenas, um pano de fundo de uma distopia fascista aparece exatamente o quanto precisa para estabelecer um tom aterrador à toda a razão da sua personagem de engajar nessa furada. Felizmente, por enquanto, o esporte de patins ao alvo segue sendo fictício, e instrumentalização de violência corporal como entretenimento é apenas uma noção fantasiosa. Lacradas à parte; é um bom jogo se você é desses nerds que gostam de platinar S-rank todas as fases de olhos vendados.
Infelizmente, insiste contra sua própria forma através de meta-objetivos diversos e conflitantes - você quer jogar pela diversão, pelo score, ou pra passar de fase? Idealmente, essas respostas viriam da mesma via: tudo ao mesmo tempo. O jogo, porém, te bota pra jogar de formas bem distintas conforme o objetivo, com a liberação de novas fases sendo dependentes de desafios que provocam repetição desnecessária e quebra do fluxo do jogo - até fazer pazes com tudo que precisava pra liberar a fase final, não estava me aproveitando. Cortar itens de uma lista semi-arbitrária é uma melodia muito oposta ao ritmo frenético da arena.
Por trás das arenas, um pano de fundo de uma distopia fascista aparece exatamente o quanto precisa para estabelecer um tom aterrador à toda a razão da sua personagem de engajar nessa furada. Felizmente, por enquanto, o esporte de patins ao alvo segue sendo fictício, e instrumentalização de violência corporal como entretenimento é apenas uma noção fantasiosa. Lacradas à parte; é um bom jogo se você é desses nerds que gostam de platinar S-rank todas as fases de olhos vendados.
Chrono Trigger
1995
Tento sempre desafiar internamente a noção de que jogos “envelhecem mal” - muitas das minhas experiências favoritas estão em jogos mais antigos até do que a minha infância, em tempos em que videogames de alto orçamento eram uma coisa muito mais arriscada e experimental do que as produções gigantescas - e, obrigatoriamente, financeiramente e artisticamente seguras - que temos hoje em dia. Chrono Trigger me intrigava porque era o contrário: um jogo mais velho do que eu, com a fama de não ter envelhecido um dia. E disso não posso discordar - consigo ver como ele foi monumental e revolucionário em basicamente todos os pilares dos RPGs modernos: ambiciosa e detalhista narrativa que se ramifica em vários galhos; um sistema de combate tão liso em sua execução que flui melhor do que muitas iterações atuais de JRPGs; um valor de produção monumental com ilustrações, músicas e gráficos icônicos e um punhado de conteúdo opcional bem escondido para quem tiver o afinco de procurar.
Porém, nada disso importa para mim se o que o jogo me apresenta não me cativa. Sinto que em sua aventura pelos globos e tempos o jogo não se dá tempo de respirar: cada personagem tem pouquíssimo tempo e conectividade com o grupo para brilhar, sempre uma nova batalha ou dungeon épica esperando o próximo momento de um trem-bala narrativo, e com o pouco tempo que tem, entregam menos ainda - o diálogo é constantemente insosso, punhadinho de tropes e frases de efeito que entram num ouvido e saem no outro, uma fachada de caráter moldado, mas não preenchida. Porque me importaria com Chrono, Marle e Lucca? Ainda mais: porque me importaria com a amizade do grupo, se sequer os vejo interagindo, se sequer entendo quem são como individuos? Nunca acreditei na amizade deles, porque o jogo não dá razão para o mesmo. Não sinto a dor deles, pois o próprio jogo não deixa com que sua aventura seja respirada e sentido: em um momento perto do final, uma das personagens descobre que sua mãe morreu tragicamente durante sua ausência; a reação dela pode ser resumida em um “oh não!”, e, se o jogador não quiser comprar um bifinho para começar a sidequest, não se fala mais nisso - o fato do jogo insistir que a personagem mais sem graça (Marle) é a companheira mais importante também é outro ponto que me deixou lelé. Até mesmo um dos pontos em que a história sim se dá o espaço para crescer, na morte de Crono, ela a faz de forma absolutamente bizarra: os stakes emocionais do retorno de Crono são totalmente minados pela quest bizarra que envolve ganhar um boneco aleatório na feira para ressuscitá-lo. Uma trilha sonora com algumas faixas melancólicas muito bonitas não conseguiu me fazer importar nem nos climaxes do jogo, ainda que o espetáculo do final (de Lavos até o adeus de Robo) tenha sido sim um dos pontos mais fortes.
Continuar descascando o jogo seria um exercício fútil diante da conclusão: eu não senti do que Chrono Trigger se trata, e não acho que o jogo fez um trabalho minimamente bom em me envolver. É uma aventura estilo sessão da tarde sobre derrotar o mal? É uma mensagem sobre a futilidade da vida e o passar do tempo, e como devemos aproveitar o que temos diante dessa inexorabilidade, assim como Robo indica no final? Não acho que o jogo tem que ser uma MENSAGEM para ser uma obra de arte que aprecio. O que espero é uma voz artística que ressoa, que me faça entender o que as pessoas por trás da criação de Chrono Trigger estavam sentindo ao fazê-lo, e o que queriam compartilhar comigo deste trabalho monumental que é produzir um jogo. Negar que há paixão no jogo seria um absurdo, e um desrespeito com o trabalho dos desenvolvedores. A triste revelação é que o jogo não me cativou. Respeito o seu legado monumental, e me dei toda chance o possível para tirar alguma pepita da alegria e emoção aqui contidos que tanto toca a quem joga; infelizmente saio de mãos abanando.
Porém, nada disso importa para mim se o que o jogo me apresenta não me cativa. Sinto que em sua aventura pelos globos e tempos o jogo não se dá tempo de respirar: cada personagem tem pouquíssimo tempo e conectividade com o grupo para brilhar, sempre uma nova batalha ou dungeon épica esperando o próximo momento de um trem-bala narrativo, e com o pouco tempo que tem, entregam menos ainda - o diálogo é constantemente insosso, punhadinho de tropes e frases de efeito que entram num ouvido e saem no outro, uma fachada de caráter moldado, mas não preenchida. Porque me importaria com Chrono, Marle e Lucca? Ainda mais: porque me importaria com a amizade do grupo, se sequer os vejo interagindo, se sequer entendo quem são como individuos? Nunca acreditei na amizade deles, porque o jogo não dá razão para o mesmo. Não sinto a dor deles, pois o próprio jogo não deixa com que sua aventura seja respirada e sentido: em um momento perto do final, uma das personagens descobre que sua mãe morreu tragicamente durante sua ausência; a reação dela pode ser resumida em um “oh não!”, e, se o jogador não quiser comprar um bifinho para começar a sidequest, não se fala mais nisso - o fato do jogo insistir que a personagem mais sem graça (Marle) é a companheira mais importante também é outro ponto que me deixou lelé. Até mesmo um dos pontos em que a história sim se dá o espaço para crescer, na morte de Crono, ela a faz de forma absolutamente bizarra: os stakes emocionais do retorno de Crono são totalmente minados pela quest bizarra que envolve ganhar um boneco aleatório na feira para ressuscitá-lo. Uma trilha sonora com algumas faixas melancólicas muito bonitas não conseguiu me fazer importar nem nos climaxes do jogo, ainda que o espetáculo do final (de Lavos até o adeus de Robo) tenha sido sim um dos pontos mais fortes.
Continuar descascando o jogo seria um exercício fútil diante da conclusão: eu não senti do que Chrono Trigger se trata, e não acho que o jogo fez um trabalho minimamente bom em me envolver. É uma aventura estilo sessão da tarde sobre derrotar o mal? É uma mensagem sobre a futilidade da vida e o passar do tempo, e como devemos aproveitar o que temos diante dessa inexorabilidade, assim como Robo indica no final? Não acho que o jogo tem que ser uma MENSAGEM para ser uma obra de arte que aprecio. O que espero é uma voz artística que ressoa, que me faça entender o que as pessoas por trás da criação de Chrono Trigger estavam sentindo ao fazê-lo, e o que queriam compartilhar comigo deste trabalho monumental que é produzir um jogo. Negar que há paixão no jogo seria um absurdo, e um desrespeito com o trabalho dos desenvolvedores. A triste revelação é que o jogo não me cativou. Respeito o seu legado monumental, e me dei toda chance o possível para tirar alguma pepita da alegria e emoção aqui contidos que tanto toca a quem joga; infelizmente saio de mãos abanando.
Death Stranding
2019
(Escrita em 2019)
Death Stranding foi meu jogo mais esperado do ano; dos últimos 5 anos, quiçá. Conhecendo Kojima muito bem, já sabia que desde os primeiros trailers do jogo já começava a experiência de Death Stranding: se adentrar nesse jogo não é apenas o momento de jogá-lo, mas sim também a ideia de dar bola para todas as bobagens que o Kojima fará, dentro e fora dele. É impossível falar de Death Stranding sem falar da personalidade de Hideo Kojima: através de olhos ocidentais se mostra uma personalidade inconsistente, idiossincrática, cujas ideias sempre parecem ganhar e perder na tradução tanto léxica quanto cultural, o resultado disso gerando algo tão descaradamente Kojima, que justifica o meu desejo de abrir esta entrada falando dele. Tendo isto definido: Death Stranding é um jogo de Hideo Kojima como todos outros, com a diferença aqui sendo que ele pôde falar o que quiser e gastar o dinheiro que desejar. Esta ideia me empolgava, pois considero Kojima um dos únicos “autores” reais do mundo dos jogos, e a capacidade de receber uma obra original e guiada por uma visão forte com orçamento infinito parecia uma oportunidade inédita. A minha maior decepção com Death Stranding seria se, com toda essa brecha dada, Kojima não tentasse, ao menos, quebrar a hegemonia da visão de que jogos tem que ser peças de ação estrondosas e que o entretenimento sempre deve ser derivado destes picos de adrenalina. Claro, alguns gêneros são a prova viva de que não precisa ser assim, mas trazer um jogo meditativo para o AAA é algo que só poderia acontecer nas mãos dele.
Fico muito feliz em saber que Death Stranding foi este jogo que quebrou o molde da indústria, e que muita discussão (saudável e não) foi gerada ao redor deste título, que mecanicamente foi quase impecável. É impressionante a forma em que Kojima soube criar uma simulação interessante e divertida do ato de caminhar entre montanhas usando controles deliciosamente precisos e um design de mapa e ferramentas genial, que além de tudo conseguiu ser escondido debaixo de um cenário naturalista lindíssimo. Além disso, considerando os temas de solidão e união através da reconstrução, a ideia do sistema online do jogo foi perfeita, o fluxo entre trilhar ambientes conectados e desconectados representando um contraste emocional claro. Kojima, assim como eu, é uma pessoa que gosta de enxergar momentos de forma bastante cinemática e sensorial, e soube muito bem usar a sua trilha sonora de músicas licenciadas nos momentos exatos, produzindo vários dos meus momentos favoritos de todos os jogos que já joguei através de seu senso cinemático sublime. Passar alguns perrengues em uma caminhada, apenas para logo depois encontrar algo que algum jogador deixou para trás sendo sua salvação, para logo depois disso vir uma música licenciada que só tocará neste momento específico do jogo e contextualizará toda a experiência em algo maior - é fantástico, simplesmente. Eu aprecio que o jogo tenha tantos momentos destes, intencionais ou não, que significam algo único e especial para um jogador que passou pela sua própria pequena narrativa durante a caminhada que gerou este momento. Para um jogo que parece querer provocar a sensação introspectiva de uma trilha solitária e exacerbar a profundidade das pequenas coisas, ele excede todas as expectativas.
Death Stranding é, além disso, o jogo mais polido que já joguei em minha vida. A qualidade das animações, controles e a quantidade de interações possíveis que são muito bem animadas é de se esperar de um jogo do Kojima, porém aqui são elevadas à um novo patamar, graças ao orçamento infinito e as novas (caras) tecnologias. O jogo possui um senso estético fantástico (esperado de Yoji Shinkawa) e as suas qualidades técnicas são provavelmente as melhores que qualquer jogo já teve.
Nem tudo são flores, todavia. A escrita de Kojima sempre beirou uma linha tênue entre tosquice e profundidade, muitas vezes cambaleando para os dois lados no mesmo jogo - eu entendo, essa incongruência tonal é parte de seu charme. Ainda assim, é evidente em Death Stranding que ele escreveu todo o diálogo e pouquíssimo dele foi editado. Para um jogo que se preza pela sua narrativa humanista, em quase momento algum os personagens de Death Stranding conseguem passar através do diálogo a noção de que são seres humanos - o oposto disso, argumentaria, já que o diálogo muitas vezes horrendo acabou me alienando dos personagens, ao invés de me “conectar” a eles, como o jogo queria. Alguns momentos brilham entre a merda e a mediocridade, porém são escassos, e o jogo possui muito do diálogo ruim. Isso me impediu de simpatizar com a missão de meu protagonista, pilha de falas e reações inconsistentes que ele é, e fez com que eu nunca me importasse com os personagens da história em que via (fora do BB, que é calado), e sim mais com qual será a próxima trivela que o Kojima chutará na minha direção. Ainda assim, a narrativa possui alguns momentos especiais, e achei que ela soube se reconstruir muito bem no final, criando um final satisfatório de algo que eu não esperava que fosse dar em muito.
Este é um jogo especial, um projeto que sempre torci para que fosse tudo o que esperava e mais um pouco; a maior destas esperanças sendo a de que me surpreendesse e me oferecesse uma nova perspectiva de ludonarrativa, e fico muito feliz de considerar que as duas foram atingidas com louvor. Algumas falhas de design, como as boss fights repetitivas que não usam das mecânicas principais do jogo e a qualidade baixíssima de roteiro são apenas soluços perto do que esse jogo representou para mim, e das memórias profundamente sensoriais e sentimentais com que ele me deixa.
Death Stranding foi meu jogo mais esperado do ano; dos últimos 5 anos, quiçá. Conhecendo Kojima muito bem, já sabia que desde os primeiros trailers do jogo já começava a experiência de Death Stranding: se adentrar nesse jogo não é apenas o momento de jogá-lo, mas sim também a ideia de dar bola para todas as bobagens que o Kojima fará, dentro e fora dele. É impossível falar de Death Stranding sem falar da personalidade de Hideo Kojima: através de olhos ocidentais se mostra uma personalidade inconsistente, idiossincrática, cujas ideias sempre parecem ganhar e perder na tradução tanto léxica quanto cultural, o resultado disso gerando algo tão descaradamente Kojima, que justifica o meu desejo de abrir esta entrada falando dele. Tendo isto definido: Death Stranding é um jogo de Hideo Kojima como todos outros, com a diferença aqui sendo que ele pôde falar o que quiser e gastar o dinheiro que desejar. Esta ideia me empolgava, pois considero Kojima um dos únicos “autores” reais do mundo dos jogos, e a capacidade de receber uma obra original e guiada por uma visão forte com orçamento infinito parecia uma oportunidade inédita. A minha maior decepção com Death Stranding seria se, com toda essa brecha dada, Kojima não tentasse, ao menos, quebrar a hegemonia da visão de que jogos tem que ser peças de ação estrondosas e que o entretenimento sempre deve ser derivado destes picos de adrenalina. Claro, alguns gêneros são a prova viva de que não precisa ser assim, mas trazer um jogo meditativo para o AAA é algo que só poderia acontecer nas mãos dele.
Fico muito feliz em saber que Death Stranding foi este jogo que quebrou o molde da indústria, e que muita discussão (saudável e não) foi gerada ao redor deste título, que mecanicamente foi quase impecável. É impressionante a forma em que Kojima soube criar uma simulação interessante e divertida do ato de caminhar entre montanhas usando controles deliciosamente precisos e um design de mapa e ferramentas genial, que além de tudo conseguiu ser escondido debaixo de um cenário naturalista lindíssimo. Além disso, considerando os temas de solidão e união através da reconstrução, a ideia do sistema online do jogo foi perfeita, o fluxo entre trilhar ambientes conectados e desconectados representando um contraste emocional claro. Kojima, assim como eu, é uma pessoa que gosta de enxergar momentos de forma bastante cinemática e sensorial, e soube muito bem usar a sua trilha sonora de músicas licenciadas nos momentos exatos, produzindo vários dos meus momentos favoritos de todos os jogos que já joguei através de seu senso cinemático sublime. Passar alguns perrengues em uma caminhada, apenas para logo depois encontrar algo que algum jogador deixou para trás sendo sua salvação, para logo depois disso vir uma música licenciada que só tocará neste momento específico do jogo e contextualizará toda a experiência em algo maior - é fantástico, simplesmente. Eu aprecio que o jogo tenha tantos momentos destes, intencionais ou não, que significam algo único e especial para um jogador que passou pela sua própria pequena narrativa durante a caminhada que gerou este momento. Para um jogo que parece querer provocar a sensação introspectiva de uma trilha solitária e exacerbar a profundidade das pequenas coisas, ele excede todas as expectativas.
Death Stranding é, além disso, o jogo mais polido que já joguei em minha vida. A qualidade das animações, controles e a quantidade de interações possíveis que são muito bem animadas é de se esperar de um jogo do Kojima, porém aqui são elevadas à um novo patamar, graças ao orçamento infinito e as novas (caras) tecnologias. O jogo possui um senso estético fantástico (esperado de Yoji Shinkawa) e as suas qualidades técnicas são provavelmente as melhores que qualquer jogo já teve.
Nem tudo são flores, todavia. A escrita de Kojima sempre beirou uma linha tênue entre tosquice e profundidade, muitas vezes cambaleando para os dois lados no mesmo jogo - eu entendo, essa incongruência tonal é parte de seu charme. Ainda assim, é evidente em Death Stranding que ele escreveu todo o diálogo e pouquíssimo dele foi editado. Para um jogo que se preza pela sua narrativa humanista, em quase momento algum os personagens de Death Stranding conseguem passar através do diálogo a noção de que são seres humanos - o oposto disso, argumentaria, já que o diálogo muitas vezes horrendo acabou me alienando dos personagens, ao invés de me “conectar” a eles, como o jogo queria. Alguns momentos brilham entre a merda e a mediocridade, porém são escassos, e o jogo possui muito do diálogo ruim. Isso me impediu de simpatizar com a missão de meu protagonista, pilha de falas e reações inconsistentes que ele é, e fez com que eu nunca me importasse com os personagens da história em que via (fora do BB, que é calado), e sim mais com qual será a próxima trivela que o Kojima chutará na minha direção. Ainda assim, a narrativa possui alguns momentos especiais, e achei que ela soube se reconstruir muito bem no final, criando um final satisfatório de algo que eu não esperava que fosse dar em muito.
Este é um jogo especial, um projeto que sempre torci para que fosse tudo o que esperava e mais um pouco; a maior destas esperanças sendo a de que me surpreendesse e me oferecesse uma nova perspectiva de ludonarrativa, e fico muito feliz de considerar que as duas foram atingidas com louvor. Algumas falhas de design, como as boss fights repetitivas que não usam das mecânicas principais do jogo e a qualidade baixíssima de roteiro são apenas soluços perto do que esse jogo representou para mim, e das memórias profundamente sensoriais e sentimentais com que ele me deixa.
Halo Infinite
2021
Mais uma vez, Master Chief tem que lutar. Mais uma vez, à deriva no espaço: o começo não importa, os detalhes não importam, e portanto a conclusão menos ainda - mais uma vez, sabemos que a roda vai girar até este ponto zero. Halo Infinite é o Tanker de MGS2 reanimado, desprovido de sua camada transgressiva; um invólucro cansado e vazio sendo forçado mais uma vez à reviver glórias já solidificadas, a dançar com os mesmos companheiros em pele nova - Banished, Novo Covenant, lhes dou um desconto pois Escharum tem carisma raro para vilões da série; Endless, Novo Forerunner, entra por um ouvido e sai pelo outro; Weapon, Nova Cortana, marvelificação de uma laranja que já não tem nem bagaço mais. Master Chief TEM que lutar. Marionete dada vida pela criação via comitê - a armadura se move, mas ninguém está lá dentro.
Ainda assim, é ele. Monolítico. Mais capaz do que nunca, sempre fazendo o impossível. Seja uma bastardização por meio de Far Cry ou um épico de sci-fi, encarnar este titã nunca é uma experiência desagradável. Que venha uma luta vazia, um enxame de demônios conjurados por acionistas, eu estarei lá.
Ainda assim, é ele. Monolítico. Mais capaz do que nunca, sempre fazendo o impossível. Seja uma bastardização por meio de Far Cry ou um épico de sci-fi, encarnar este titã nunca é uma experiência desagradável. Que venha uma luta vazia, um enxame de demônios conjurados por acionistas, eu estarei lá.
Peggle Deluxe
2007
Formativo pra minha infância, mas infelizmente não me interessou muito nos tempos atuais. A apresentação, puro suco de Robot Unicorn Attack late 2000 vibes, é sem dúvidas o ponto mais forte do jogo - EXTREME FEVER é icônico pra dedéu. Ainda assim, adoro bolinhas e todas as variadas atividades que se podem fazer com elas, então ao menos vê-la quicar foi divertido pra mim em um nível primordial.
Map
2021
Halo 4
2012
Os Prometheans são péssimas alternativas ao icônico Covenant - irritantes de se jogar contra, fazendo o jogador sempre apelar para uma estratégia singular - e o design de suas fases abandonam a liberdade de opção antes característica da série; lutas com eles rapidamente se dissolvem em uma poça irreconhecível de maratonas entediantes. Ainda assim, em co-op o jogo continua sendo divertido, e tenho um fraco pela figura mitológica do Chief, por mais que seja nada além de fascismo marketável. O foco em melhor movimentação brilha bastante nas fases em que temos o Covenant como inimigo, trazendo com eles algo além de mudança mal orientada ou rearranjo não inspirado.
(Escrito em 2015)
Devo começar dizendo que esse jogo foi provavelmente a coisa que mais me deixou ansioso em toda a minha vida, tanto antes de seu lançamento quanto depois. Criado pelo genial Hideo Kojima, o desenvolver mais revolucionário e adorado da indústria, Phantom Pain é o “magnum opus” de uma das séries mais influenciais da história dos jogos, é a última dança do cisne de uma obra que ocupou quase metade da vida de seu criador. Não é de se surpreender que alguém de gênio tão forte quanto Kojima não usaria de toda a presença evocada pelo jogo pra gerar um espetáculo que foi muito além do que se passou pela tela e pelos controles. Vale notar também que Phantom Pain foi lançado separado de seu prológo, Ground Zeroes, que não falarei aqui pois acredito que quase tudo que se aplica a Ground Zeroes pode ser visto em Phantom Pain.
Sobre o que exatamente se passou entre as loucuras e tropeços que ocorreram com esse jogo e seu desenvolvimento tanto antes de seu lançamento quanto depois não se cabe falar aqui, mas foram sem dúvidas eventos únicos que definiram a personalidade do jogo e a forma como ele foi aproximado por todos. Aqui, só preciso dizer que Kojima ensinou seus fãs ao longo dos anos à nunca acreditar em suas palavras, por mais certas que pareçam ser. O desenvolver japonês também acreditava em usar de meios não-ortodoxos para gerar discussão sobre um tema qualquer, na maior parte das vezes relacionado à guerra.
A proposta inicial do jogo, em termos mecânicos, era elevar o genêro de stealth à um patamar jamais visto antes. Posso dizer com totalíssima segurança que enquanto estivermos falando da gameplay base do jogo e de seus conceitos, o jogo aplicou sua visão com absoluta perfeição. Nunca um jogo de stealth te permitiu tanta liberdade de movimento, tantas formas de atacar uma só missão e uma atenção mecânica ao detalhe tão absurda. Nunca um jogo também te ofereceu um sistema de controles tão orgânico e bem trabalhado e um polimento e valor de produção que chega a assustar. Incrivelmente otimimizado, Phantom Pain é delicioso de ver visualmente e mecanicamente. Se podemos falar de um jogo roda “liso”, Phantom Pain é o exemplo perfeito disso.
Como disse, enquanto falamos da gameplay base, Phantom Pain é ABSURDO. Simplesmente um deleite de se jogar, horas e horas passam como nada em sua frente. Porém, ao se dar uma análise mais dura ao resto dos elementos que envolvem a gameplay base, principalmente o level design, o jogo peca um pouco. Embora a genialidade na inteligência artificial dos inimigos permite que eles se adaptem às suas táticas e sempre ofereçam um desafio que te obriga a inovar seu métodos, Phantom Pain perdeu em não ter estágios fechados que limitam o jogador, tirando por alguns opcionais. Quase todo Metal Gear anterior possuia um estágio onde o protagonista se encontra limitado e deve usar de sua pura habilidade mecânica para ultrapassar os desafios e Phantom Pain apenas equipa cada vez mais o jogador com opções, ao ponto onde ele acaba querendo começar a se limitar para ter um desafio mais justo. O maior problema proveniente dessa falta de limites estabelecidas ao jogador é o fato disso tornar as MUITAS missões que o jogo possui bem repetitivas. Embora o jogo forneça muitos jeitos e sistemas inteligentíssimos que deixam gritante a atenção ao detalhe dada pelos desenvolvedores, o jogador vai se levar pela criatividade apenas por um limitado tempo, por mais criativo que seja. Após 70 missões secundárias (das 150! existentes no jogo e 50 missões principais), o jogador apenas quer fazer tudo do jeito que se acostumou melhor e é mais eficiente. Isso é bastante triste, pois embora o jogo permita uma liberdade de gameplay jamais vista antes, o seu level design repetitivo acaba afunilando os metódos dos jogadores e desencorajando a criatividade. Mesmo assim, embora repetitivo, é sempre uma alegria ver o quão bem os sistemas presentes na gameplay reagem bem aos seus atos.
O mundo aberto de Phantom Pain não tem muito pra se fazer além das missões especificadas e alguns colecionáveis, o que não é um enorme problema, vendo que os mapas do jogo foram feitos para serem vistos mais como um playground com peças bastante reativas aos seus atos do que como um mundo vivo e imersivo. A única coisa que acredito que faltou foi a presença de elementos aleatórios que adcionariam um “tempero” ao jogo. A Mother Base, seu “hub”, também faltou muito disso. Tirando por duas missões de história, algumas poucas secundárias e um segredo escondido, a sua gigantesca base com a qual você é suposto a criar um enorme laço emocional falha em demonstrar personalidade. A sua customização na base em si é pouca e todas as suas áreas são bem parecidas, com apenas alguns desafios bobos e frustrantes de tiro ao alvo sendo espalhados pela base. Na maior parte das vezes seus soldados apenas andarão por ela soltando frases enlatadas sobre acontecimentos da história, que você irá ouvir sendo repetidos diversas vezes. Não existe um incentivo em visitar a sua “casa” a não ser para liberar cutscenes e tomar banho.
Um enorme vacilo da Konami nesse jogo foi querer ligar os sistemas de gameplay offline ligados ao sistema online. Ter os seus recursos diretamente ligados ao online e tempos de espera de upgrades rolando em tempo real e ligados a um servidor realmente tiram da experiência geral, principalmente pelo fato de serem ridiculamente forçados em cima do jogador. Embora tenha dado um jeito de passar por isso na minha gameplay, assim que foi lançada uma atualização tive de abrir mão da minha liberdade de jogo para ser conectado (ou devo dizer algemado) ao modo multiplayer do jogo, que apenas subtrai da experiência total do singleplayer ao seu misturado com ela.
O tema mais polêmico de MGS V foi a sua história. Os jogos da série são muito conhecidos por suas cutscenes enormes, dialógos cheios de personalidade e bizarrices e personagens que eram do mesmo jeito que os dialógos. Como todos os jogos da série menos o último eram uma experiência linear, o pulo pra um jogo de mundo aberto machucou e muito a habilidade do jogo de contar uma história, além da falta de recursos e tempo para serem alocados ao desenvolvimento do jogo, já que a grande maioria claramente foi para criar essa experiência mecanicamente massiva. O resultado disso foi uma história desconexa, contada na maior parte das vezes por fitas que podem ser ouvidas quando o jogador quiser (e se ele quiser), o que limita muito o “ritmo” que a história pode ser contada. Além disso, a queda brusca na quantidade de cutscenes em relação ao tamanho do jogo machucou muito o desenvolvimento da narrativa e dos personagens. Para um jogo que foi prometido em ser um épico que iria ligar todos os eventos da série em um pacote bem trabalhado, devo admitir que ele deixou muito o que desejar. A presença de vestígios de conteúdo e missões que fechariam a história deixou a idéia de que a história foi deixada em último lugar e foi feita às pressas, sofrendo bastante com isso. Mesmo assim, alguns dos personagens que eu já conhecia e amava da série manteram o seu charme (mesmo que seja uma fração dele), e o resto do jogo ainda te fazia sentir em um Metal Gear Solid, mesmo que seus elementos mais notáveis de narrativa não estavam lá, como chefões bem trabalhados e bizarros, ligações de codec e longas dissertações sobre assuntos relevantes e irrelevantes à história.
Embora mecanicamente esse seja o Metal Gear que melhor executa a visão que Kojima tinha para a sua série, narrativamente Phantom Pain foi de longe o mais fraco da série. Embora sua narrativa tenha contado com algumas partes que realmente foram mais interessantes que nos outros jogos (como a câmera muito bem trabalhada nas cutscenes, adcionando muito estilo), o que recebemos na história foi muito pouco e não muito coerente e charmoso no padrão esperado de um Metal Gear, muito menos o último da série. Dá pra entender que isso veio pela mudança de direção que Kojima queria tomar com o jogo e que com o tempo limitado de desenvolvimento alguns sacrificios tiveram de ser feitos, mas infelizmente isso machucou o produto final e o gosto que ele deixou na minha boca. Embora a jornada tenha sido fantástica, devo admitir que o destino não foi lá grandes coisas. Porém, MGS V: The Phantom Pain foi muito além do que apenas um jogo. Desde seu anúncio até alguns meses após seu lançamento, foi tudo uma enorme jornada. Uma jornada trágica, mas uma jornada fantástica mesmo assim. Só tenho agradecimentos à Hideo Kojima pela sua fantástica série, que me fez rir e me emocionar diversas vezes e me forneceu personagens e cenas tão memoráveis, que carregarei com muito carinho sempre em meu coração. Tenho apenas simpatia e respeito pelo homem que ainda considero como o melhor desenvolvedor que o mundo dos jogos já viu, e como um dos mais corajosos e visionários.
Devo começar dizendo que esse jogo foi provavelmente a coisa que mais me deixou ansioso em toda a minha vida, tanto antes de seu lançamento quanto depois. Criado pelo genial Hideo Kojima, o desenvolver mais revolucionário e adorado da indústria, Phantom Pain é o “magnum opus” de uma das séries mais influenciais da história dos jogos, é a última dança do cisne de uma obra que ocupou quase metade da vida de seu criador. Não é de se surpreender que alguém de gênio tão forte quanto Kojima não usaria de toda a presença evocada pelo jogo pra gerar um espetáculo que foi muito além do que se passou pela tela e pelos controles. Vale notar também que Phantom Pain foi lançado separado de seu prológo, Ground Zeroes, que não falarei aqui pois acredito que quase tudo que se aplica a Ground Zeroes pode ser visto em Phantom Pain.
Sobre o que exatamente se passou entre as loucuras e tropeços que ocorreram com esse jogo e seu desenvolvimento tanto antes de seu lançamento quanto depois não se cabe falar aqui, mas foram sem dúvidas eventos únicos que definiram a personalidade do jogo e a forma como ele foi aproximado por todos. Aqui, só preciso dizer que Kojima ensinou seus fãs ao longo dos anos à nunca acreditar em suas palavras, por mais certas que pareçam ser. O desenvolver japonês também acreditava em usar de meios não-ortodoxos para gerar discussão sobre um tema qualquer, na maior parte das vezes relacionado à guerra.
A proposta inicial do jogo, em termos mecânicos, era elevar o genêro de stealth à um patamar jamais visto antes. Posso dizer com totalíssima segurança que enquanto estivermos falando da gameplay base do jogo e de seus conceitos, o jogo aplicou sua visão com absoluta perfeição. Nunca um jogo de stealth te permitiu tanta liberdade de movimento, tantas formas de atacar uma só missão e uma atenção mecânica ao detalhe tão absurda. Nunca um jogo também te ofereceu um sistema de controles tão orgânico e bem trabalhado e um polimento e valor de produção que chega a assustar. Incrivelmente otimimizado, Phantom Pain é delicioso de ver visualmente e mecanicamente. Se podemos falar de um jogo roda “liso”, Phantom Pain é o exemplo perfeito disso.
Como disse, enquanto falamos da gameplay base, Phantom Pain é ABSURDO. Simplesmente um deleite de se jogar, horas e horas passam como nada em sua frente. Porém, ao se dar uma análise mais dura ao resto dos elementos que envolvem a gameplay base, principalmente o level design, o jogo peca um pouco. Embora a genialidade na inteligência artificial dos inimigos permite que eles se adaptem às suas táticas e sempre ofereçam um desafio que te obriga a inovar seu métodos, Phantom Pain perdeu em não ter estágios fechados que limitam o jogador, tirando por alguns opcionais. Quase todo Metal Gear anterior possuia um estágio onde o protagonista se encontra limitado e deve usar de sua pura habilidade mecânica para ultrapassar os desafios e Phantom Pain apenas equipa cada vez mais o jogador com opções, ao ponto onde ele acaba querendo começar a se limitar para ter um desafio mais justo. O maior problema proveniente dessa falta de limites estabelecidas ao jogador é o fato disso tornar as MUITAS missões que o jogo possui bem repetitivas. Embora o jogo forneça muitos jeitos e sistemas inteligentíssimos que deixam gritante a atenção ao detalhe dada pelos desenvolvedores, o jogador vai se levar pela criatividade apenas por um limitado tempo, por mais criativo que seja. Após 70 missões secundárias (das 150! existentes no jogo e 50 missões principais), o jogador apenas quer fazer tudo do jeito que se acostumou melhor e é mais eficiente. Isso é bastante triste, pois embora o jogo permita uma liberdade de gameplay jamais vista antes, o seu level design repetitivo acaba afunilando os metódos dos jogadores e desencorajando a criatividade. Mesmo assim, embora repetitivo, é sempre uma alegria ver o quão bem os sistemas presentes na gameplay reagem bem aos seus atos.
O mundo aberto de Phantom Pain não tem muito pra se fazer além das missões especificadas e alguns colecionáveis, o que não é um enorme problema, vendo que os mapas do jogo foram feitos para serem vistos mais como um playground com peças bastante reativas aos seus atos do que como um mundo vivo e imersivo. A única coisa que acredito que faltou foi a presença de elementos aleatórios que adcionariam um “tempero” ao jogo. A Mother Base, seu “hub”, também faltou muito disso. Tirando por duas missões de história, algumas poucas secundárias e um segredo escondido, a sua gigantesca base com a qual você é suposto a criar um enorme laço emocional falha em demonstrar personalidade. A sua customização na base em si é pouca e todas as suas áreas são bem parecidas, com apenas alguns desafios bobos e frustrantes de tiro ao alvo sendo espalhados pela base. Na maior parte das vezes seus soldados apenas andarão por ela soltando frases enlatadas sobre acontecimentos da história, que você irá ouvir sendo repetidos diversas vezes. Não existe um incentivo em visitar a sua “casa” a não ser para liberar cutscenes e tomar banho.
Um enorme vacilo da Konami nesse jogo foi querer ligar os sistemas de gameplay offline ligados ao sistema online. Ter os seus recursos diretamente ligados ao online e tempos de espera de upgrades rolando em tempo real e ligados a um servidor realmente tiram da experiência geral, principalmente pelo fato de serem ridiculamente forçados em cima do jogador. Embora tenha dado um jeito de passar por isso na minha gameplay, assim que foi lançada uma atualização tive de abrir mão da minha liberdade de jogo para ser conectado (ou devo dizer algemado) ao modo multiplayer do jogo, que apenas subtrai da experiência total do singleplayer ao seu misturado com ela.
O tema mais polêmico de MGS V foi a sua história. Os jogos da série são muito conhecidos por suas cutscenes enormes, dialógos cheios de personalidade e bizarrices e personagens que eram do mesmo jeito que os dialógos. Como todos os jogos da série menos o último eram uma experiência linear, o pulo pra um jogo de mundo aberto machucou e muito a habilidade do jogo de contar uma história, além da falta de recursos e tempo para serem alocados ao desenvolvimento do jogo, já que a grande maioria claramente foi para criar essa experiência mecanicamente massiva. O resultado disso foi uma história desconexa, contada na maior parte das vezes por fitas que podem ser ouvidas quando o jogador quiser (e se ele quiser), o que limita muito o “ritmo” que a história pode ser contada. Além disso, a queda brusca na quantidade de cutscenes em relação ao tamanho do jogo machucou muito o desenvolvimento da narrativa e dos personagens. Para um jogo que foi prometido em ser um épico que iria ligar todos os eventos da série em um pacote bem trabalhado, devo admitir que ele deixou muito o que desejar. A presença de vestígios de conteúdo e missões que fechariam a história deixou a idéia de que a história foi deixada em último lugar e foi feita às pressas, sofrendo bastante com isso. Mesmo assim, alguns dos personagens que eu já conhecia e amava da série manteram o seu charme (mesmo que seja uma fração dele), e o resto do jogo ainda te fazia sentir em um Metal Gear Solid, mesmo que seus elementos mais notáveis de narrativa não estavam lá, como chefões bem trabalhados e bizarros, ligações de codec e longas dissertações sobre assuntos relevantes e irrelevantes à história.
Embora mecanicamente esse seja o Metal Gear que melhor executa a visão que Kojima tinha para a sua série, narrativamente Phantom Pain foi de longe o mais fraco da série. Embora sua narrativa tenha contado com algumas partes que realmente foram mais interessantes que nos outros jogos (como a câmera muito bem trabalhada nas cutscenes, adcionando muito estilo), o que recebemos na história foi muito pouco e não muito coerente e charmoso no padrão esperado de um Metal Gear, muito menos o último da série. Dá pra entender que isso veio pela mudança de direção que Kojima queria tomar com o jogo e que com o tempo limitado de desenvolvimento alguns sacrificios tiveram de ser feitos, mas infelizmente isso machucou o produto final e o gosto que ele deixou na minha boca. Embora a jornada tenha sido fantástica, devo admitir que o destino não foi lá grandes coisas. Porém, MGS V: The Phantom Pain foi muito além do que apenas um jogo. Desde seu anúncio até alguns meses após seu lançamento, foi tudo uma enorme jornada. Uma jornada trágica, mas uma jornada fantástica mesmo assim. Só tenho agradecimentos à Hideo Kojima pela sua fantástica série, que me fez rir e me emocionar diversas vezes e me forneceu personagens e cenas tão memoráveis, que carregarei com muito carinho sempre em meu coração. Tenho apenas simpatia e respeito pelo homem que ainda considero como o melhor desenvolvedor que o mundo dos jogos já viu, e como um dos mais corajosos e visionários.
Bloodborne
2015
Bloodborne é um daqueles jogos que aparecem uma vez a cada década.
De certa forma, todos os jogos da From Software são assim. Mas tem algo de diferente, algo de especial sobre ele.
Algo que depois que você presencia, nada vai te impedir de pensar nos mistérios do jogo. É impossível de ignorar.
O Combate é fluido e natural, com cada arma tendo um moveset e temáticas únicas e dezenas de possibilidades diferentes que cada uma pode ser usada.
A atmosfera e estética do jogo começa clara, concisa, mas estranhamente desconcertante. Quanto mais você se aproxima do final, mais você descobre o que tornava aquilo desconcertante.
Bloodborne é uma história sobre o que aconteceria se a humanidade tivesse entrado em contato com um poder além da compreensão, e o que fariam pra atingir contato e se tornar seres capazes de entender esse poder pelo próprio benefício. Além de mostrar de forma brutal e crua, as consequências de olhar por tempo demais.
De certa forma, todos os jogos da From Software são assim. Mas tem algo de diferente, algo de especial sobre ele.
Algo que depois que você presencia, nada vai te impedir de pensar nos mistérios do jogo. É impossível de ignorar.
O Combate é fluido e natural, com cada arma tendo um moveset e temáticas únicas e dezenas de possibilidades diferentes que cada uma pode ser usada.
A atmosfera e estética do jogo começa clara, concisa, mas estranhamente desconcertante. Quanto mais você se aproxima do final, mais você descobre o que tornava aquilo desconcertante.
Bloodborne é uma história sobre o que aconteceria se a humanidade tivesse entrado em contato com um poder além da compreensão, e o que fariam pra atingir contato e se tornar seres capazes de entender esse poder pelo próprio benefício. Além de mostrar de forma brutal e crua, as consequências de olhar por tempo demais.
The Walking Dead
2012
O grande responsável por consolidar e firmar os "jogos narrativos" como uma forte e sólida tendência do mercado de jogos eletrônicos. É impossível não colocar The Walking Dead no panteão dos jogos que mudaram e/ou deixaram uma marca gigantesca na indústria.
Muito se discute acerca dos defeitos como um todo, principalmente na época de lançamento, sejam de desempenho ou pela "frustração" de todos os caminhos levarem a um único final, mas comparado aos pontos que tornam ele especial, os defeitos são quase nulos.
The Walking Dead trabalha muito bem com a ideia central do contexto de um apocalipse zumbi, e tem os ingredientes necessários pra uma excelente história. O constante questionamento de que talvez os infectados não sejam a principal ameaça, as dezenas e dezenas de difíceis questões morais repletas de escolhas complicadas, personagens impecáveis que fazem de tudo para sobreviver e proteger a quem amam, e o que podemos chamar de conforto, a relação de Lee e Clementine.
O universo de The Walking Dead é cruel, impiedoso. Muitos dos momentos nos fazem pensar que a esperança é inútil, não vale a pena concentrar os esforços em uma utopia onde a felicidade possa voltar a existir, mas a forma com a qual esses dois tornam tudo mais leve é inexplicável. A cada diálogo, a cada momento, é como se fosse possível acreditar que no final das contas amanhã é um novo dia, e as coisas irão melhorar.
É o começo de uma saga que deixa marcas, cicatrizes e memórias inesquecíveis. Não sei o que me aguarda daqui pra frente, mas tenho certeza de que será algo fantástico.
Muito se discute acerca dos defeitos como um todo, principalmente na época de lançamento, sejam de desempenho ou pela "frustração" de todos os caminhos levarem a um único final, mas comparado aos pontos que tornam ele especial, os defeitos são quase nulos.
The Walking Dead trabalha muito bem com a ideia central do contexto de um apocalipse zumbi, e tem os ingredientes necessários pra uma excelente história. O constante questionamento de que talvez os infectados não sejam a principal ameaça, as dezenas e dezenas de difíceis questões morais repletas de escolhas complicadas, personagens impecáveis que fazem de tudo para sobreviver e proteger a quem amam, e o que podemos chamar de conforto, a relação de Lee e Clementine.
O universo de The Walking Dead é cruel, impiedoso. Muitos dos momentos nos fazem pensar que a esperança é inútil, não vale a pena concentrar os esforços em uma utopia onde a felicidade possa voltar a existir, mas a forma com a qual esses dois tornam tudo mais leve é inexplicável. A cada diálogo, a cada momento, é como se fosse possível acreditar que no final das contas amanhã é um novo dia, e as coisas irão melhorar.
É o começo de uma saga que deixa marcas, cicatrizes e memórias inesquecíveis. Não sei o que me aguarda daqui pra frente, mas tenho certeza de que será algo fantástico.