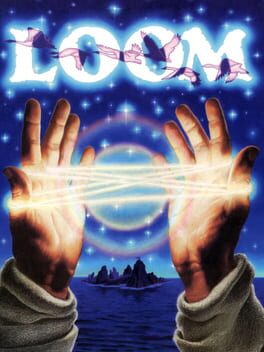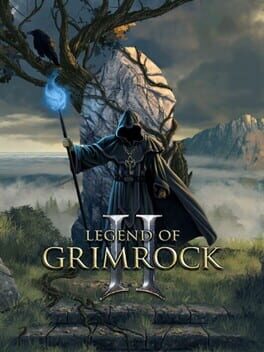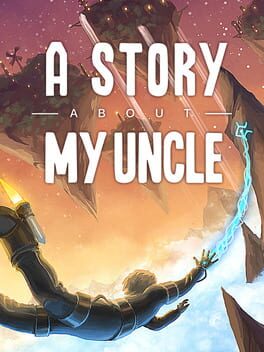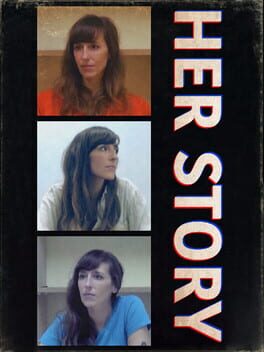cloudycloud
185 Reviews liked by cloudycloud
Mais do que uma tentativa de resgatar a mágica de Symphony of the Night, Bloodstained é uma continuidade do trabalho de Igarashi. Várias de suas ideias desenvolvidas após o clássico estão aqui, com diversos aprimoramentos e adições. É como se o Igarashi nunca tivesse parado de fazer metroidvanias e o longo hiato após Order of Ecclesia só existisse em nossas mentes. Referências à Symphony of the Night estão lá, mas são apenas isso, referências. E se a estrutura do jogo reflete perfeitamente o clássico, é muito mais devido ao fato de ela ser parte intrínseca dos Igavanias do que um esforço consciente em repetir o que deu certo. Bloodstained é um jogo independente, uma nova entrada no cânone de Igarashi, o que já o torna muito mais interessante do que um mero retorno às origens alimentado pela mercantilização da nostalgia.
Ter escapado da armadilha do "retorno às origens" que acomete muitos projetos de veteranos da indústria (vide Yooka-Laylee e Mighty No. 9) não torna Bloodstained um jogo perfeito, de forma alguma. Eu achei o level design bem mediano e muitos inimigos são reciclados, com palete swaps compondo pelo menos metade do bestiário. Mas até em seus erros Bloodstained prova que Igarashi estava mais interessado em prosseguir com seu trabalho do que reeditar seus sucessos. Seu amor e esforço foram focados no sistema de progressão de personagem, equipamentos e crafting, que fazem qualquer um de seus jogos anteriores parecerem meros protótipos nesse sentido. O castelo grande e cheio de inimigos está lá para te dar oportunidades para fazer seu personagem crescer e ficar mais poderoso; explorá-lo é só uma consequência.
Respeito o resultado final, mesmo de não sendo um grande metroidvania. Certamente tem seu público que vai se apaixonar. Se você gosta de grindar e craftar até ter um personagem overpower "perfeito", esse jogo é para você. Agora, se tudo o que você quer é um SotN 2.0, é melhor procurar outro game.
Ter escapado da armadilha do "retorno às origens" que acomete muitos projetos de veteranos da indústria (vide Yooka-Laylee e Mighty No. 9) não torna Bloodstained um jogo perfeito, de forma alguma. Eu achei o level design bem mediano e muitos inimigos são reciclados, com palete swaps compondo pelo menos metade do bestiário. Mas até em seus erros Bloodstained prova que Igarashi estava mais interessado em prosseguir com seu trabalho do que reeditar seus sucessos. Seu amor e esforço foram focados no sistema de progressão de personagem, equipamentos e crafting, que fazem qualquer um de seus jogos anteriores parecerem meros protótipos nesse sentido. O castelo grande e cheio de inimigos está lá para te dar oportunidades para fazer seu personagem crescer e ficar mais poderoso; explorá-lo é só uma consequência.
Respeito o resultado final, mesmo de não sendo um grande metroidvania. Certamente tem seu público que vai se apaixonar. Se você gosta de grindar e craftar até ter um personagem overpower "perfeito", esse jogo é para você. Agora, se tudo o que você quer é um SotN 2.0, é melhor procurar outro game.
Loom
1990
Veredito: Um ótimo adventure chorável, o que infelizmente saiu de moda.
Me lembra um pouco To the Moon e outros jogos da Freebird: é tão curto, linear e limitado que parece até uma visual novel sem ramificações. O foco é 100% na beleza da história e, fora a mecânica a la músicas de Zelda antes de Zelda, Loom tem quase zero jogabilidade além de andar e observar/conversar.
Loom é um jogo infantil com uma história infantil sobre fantasia, poderes mágicos e música. Mas como toda boa história infantil (Peter Pan, Pequeno Príncipe e Corda Bamba vêm logo na cabeça) ele pega temas bem adultos sem deixar de ser acessível pras crianças. O medo, esperança, recomeço, solidão e o limite das nossas capacidades pessoais são pontos chave da trama. A parte visual e (o pouco que tem da) sonora é lindíssima também, o que óbvio não atrapalha.
Também ajuda que joguei com um monte de amigos assistindo no Discord, com direito a lágrimas e a conversas depois sobre o jogo, ressuscitando a ideia (tão rara numa pandemia) de jogos 'para um' sendo uma experiência coletiva.
Espero que outros estúdios além da Freebird peguem carona nesse bonde. Todo mundo só tem a ganhar.
Me lembra um pouco To the Moon e outros jogos da Freebird: é tão curto, linear e limitado que parece até uma visual novel sem ramificações. O foco é 100% na beleza da história e, fora a mecânica a la músicas de Zelda antes de Zelda, Loom tem quase zero jogabilidade além de andar e observar/conversar.
Loom é um jogo infantil com uma história infantil sobre fantasia, poderes mágicos e música. Mas como toda boa história infantil (Peter Pan, Pequeno Príncipe e Corda Bamba vêm logo na cabeça) ele pega temas bem adultos sem deixar de ser acessível pras crianças. O medo, esperança, recomeço, solidão e o limite das nossas capacidades pessoais são pontos chave da trama. A parte visual e (o pouco que tem da) sonora é lindíssima também, o que óbvio não atrapalha.
Também ajuda que joguei com um monte de amigos assistindo no Discord, com direito a lágrimas e a conversas depois sobre o jogo, ressuscitando a ideia (tão rara numa pandemia) de jogos 'para um' sendo uma experiência coletiva.
Espero que outros estúdios além da Freebird peguem carona nesse bonde. Todo mundo só tem a ganhar.
Persona 3 Portable
2009
Uma longa, repetitiva e entediante jornada com um final magnífico. Ok, esse resumo faz o jogo parecer pior do que é. Para ficar claro: é um bom game e tem algumas ideias bem originais, apesar da execução ser por vezes falha.
O grande destaque de P3P é que ele tenta juntar dois estilos de jogatina num só pacote: dungeon crawling e simulador social. Separadamente, esses elementos são repetitivos e rasos, respectivamente. Juntos, ajudam a dar ritmo à narrativa, permitem explorar os personagens e às vezes se reforçam mutuamente. O problema é que os pontos em que essas duas partes se comunicam são limitados: bônus para fusões de personas, algumas missões para resgatar NPCs no Tartarus e... Só. Inicialmente a novidade da abordagem por si só é um atrativo, mas estamos falando de um jogo absurdamente longo, então esse sentimento logo vai embora.
A história em si é OK. O final é excelente (como dito no início) e os personagens bacanas. Mas o miolo dela reflete o jogo como um todo: longa, repetitiva, entediante. Dava pra "enxugar" metade do jogo que ainda ia ficar longo!
Sobre o combate: é legal. Mas, advinha? Isso mesmo: lá pra metade do jogo começa a ficar repetitivo e entendiante! Há pouca variedade de inimigos, com a maioria deles sendo apenas monstros que apareceram antes com uma corzinha diferente e mais fortes.
Nem a simulação social, que é o que os fãs mais amam, escapa muito disso, pra ser honesto. O jogo todo tem apenas 4 músicas para as atividades diurnas e (3 faixas para a escola, que aparecem em momentos distintos do calendário, e 1 faixa para as outras localidades) e só umas ~8 localidades diferentes. As histórias dos personagens coadjuvantes são bem interessantes, mas padecem de outro problema, que é a falta de profundidade. São todas mini-narrativas super-lineares em que suas escolhas nunca levam a caminhos ou finais diferentes — a não ser que você conte "opa, você escolheu a opção de diálogo errada e agora esse personagem está de mal com você" como uma escolha distinta e válida. Já vi gente dizendo que essa parte do jogo é um "simulador de namoro simplificado" e sou obrigado a concordar.
Como só enchi o game de críticas, sou obrigado a salientar de novo: não é um jogo ruim, tendo méritos especialmente na mistura única de gêneros que tenta fazer e nos personagens bem escritos. Não obstante, espero que os Personas posteriores tenham aprendido com os erros dele, capitalizando no que deu certo e fazendo algo mais variado menos agarrado.
O grande destaque de P3P é que ele tenta juntar dois estilos de jogatina num só pacote: dungeon crawling e simulador social. Separadamente, esses elementos são repetitivos e rasos, respectivamente. Juntos, ajudam a dar ritmo à narrativa, permitem explorar os personagens e às vezes se reforçam mutuamente. O problema é que os pontos em que essas duas partes se comunicam são limitados: bônus para fusões de personas, algumas missões para resgatar NPCs no Tartarus e... Só. Inicialmente a novidade da abordagem por si só é um atrativo, mas estamos falando de um jogo absurdamente longo, então esse sentimento logo vai embora.
A história em si é OK. O final é excelente (como dito no início) e os personagens bacanas. Mas o miolo dela reflete o jogo como um todo: longa, repetitiva, entediante. Dava pra "enxugar" metade do jogo que ainda ia ficar longo!
Sobre o combate: é legal. Mas, advinha? Isso mesmo: lá pra metade do jogo começa a ficar repetitivo e entendiante! Há pouca variedade de inimigos, com a maioria deles sendo apenas monstros que apareceram antes com uma corzinha diferente e mais fortes.
Nem a simulação social, que é o que os fãs mais amam, escapa muito disso, pra ser honesto. O jogo todo tem apenas 4 músicas para as atividades diurnas e (3 faixas para a escola, que aparecem em momentos distintos do calendário, e 1 faixa para as outras localidades) e só umas ~8 localidades diferentes. As histórias dos personagens coadjuvantes são bem interessantes, mas padecem de outro problema, que é a falta de profundidade. São todas mini-narrativas super-lineares em que suas escolhas nunca levam a caminhos ou finais diferentes — a não ser que você conte "opa, você escolheu a opção de diálogo errada e agora esse personagem está de mal com você" como uma escolha distinta e válida. Já vi gente dizendo que essa parte do jogo é um "simulador de namoro simplificado" e sou obrigado a concordar.
Como só enchi o game de críticas, sou obrigado a salientar de novo: não é um jogo ruim, tendo méritos especialmente na mistura única de gêneros que tenta fazer e nos personagens bem escritos. Não obstante, espero que os Personas posteriores tenham aprendido com os erros dele, capitalizando no que deu certo e fazendo algo mais variado menos agarrado.
Legend of Grimrock 2
2014
Grimrock 1 é uma carta de amor aos dungeon-crawlers clássicos. Já o 2 é um sucessor de fato: não tenta emular experiências passadas, ele usa o que aprendeu com antecessores para criar sua própria experiência — e, se me permitir a ousadia de assim o dizer, avançar o gênero.
A ambientação numa ilha em vez de um calabouço subterrâneo não é só enfeite. É um jogo variado, não-linear e cheio de segredos em cada canto. Ao mesmo tempo, consegue ser bem intuitivo e muito fácil de pegar, graças ao excelente level design e a narrativa. A liberdade que o jogo te dá não é um ônus, nunca deságua numa forma de paralisia de escolha. A sensação de progressão é constante e engajante. Assim Grimrock consegue superar dois dos problemas comuns a muitos jogos do gênero, a repetitividade e obtusidade.
O melhor de tudo é que Grimrock 2 faz isso sem desrespeitar a inteligência do jogador. Não é um game que vai te carregar pela mão; dominar a ilha do Nexus é desafiante, mas cada passo dessa aventura é recompensador.
A ambientação numa ilha em vez de um calabouço subterrâneo não é só enfeite. É um jogo variado, não-linear e cheio de segredos em cada canto. Ao mesmo tempo, consegue ser bem intuitivo e muito fácil de pegar, graças ao excelente level design e a narrativa. A liberdade que o jogo te dá não é um ônus, nunca deságua numa forma de paralisia de escolha. A sensação de progressão é constante e engajante. Assim Grimrock consegue superar dois dos problemas comuns a muitos jogos do gênero, a repetitividade e obtusidade.
O melhor de tudo é que Grimrock 2 faz isso sem desrespeitar a inteligência do jogador. Não é um game que vai te carregar pela mão; dominar a ilha do Nexus é desafiante, mas cada passo dessa aventura é recompensador.
Super Mario Odyssey
2017
Veredito: O melhor plataforma que já joguei. Não "melhor Mario", "melhor coletaton" ou "melhor plataforma 3D". Melhor plataforma, ponto. (fora Sonic, tudo tem limite)
"Mas então Super Mario Odyssey atinge as expectativas? Para um jogador casual de Mario ou pra alguém que cresceu jogando Mario: acredito que atinja. Ele não se reinventa insanamente para incrementar pra caramba a experiência que você tem com ele. Mas se você está procurando um jogo do Mario com muita coisa pra fazer... Sim, ele vai atingir esse padrão exatamente o tanto quanto você deseja que ele faça.
Porém, se você for um platinador, se você for alguém como eu que gosta de ir de 0 a 100, e depois mais um pouco, pra pegar tudo no jogo... Então ele é EXATAMENTE o que você quer! Esse jogo tem TANTO conteúdo, e ele te recompensa constantemente à medida que você avança! [...] A tal ponto que quando você chegar no final, quando chegar naquele último momento: sim, vão ter coisas de platinador que você irá querer ver e desfrutar pela sua dedicação nesta jornada."
~ Jirard "The Completionist" Khalil. Eu não teria dito melhor. ❤️
"Mas então Super Mario Odyssey atinge as expectativas? Para um jogador casual de Mario ou pra alguém que cresceu jogando Mario: acredito que atinja. Ele não se reinventa insanamente para incrementar pra caramba a experiência que você tem com ele. Mas se você está procurando um jogo do Mario com muita coisa pra fazer... Sim, ele vai atingir esse padrão exatamente o tanto quanto você deseja que ele faça.
Porém, se você for um platinador, se você for alguém como eu que gosta de ir de 0 a 100, e depois mais um pouco, pra pegar tudo no jogo... Então ele é EXATAMENTE o que você quer! Esse jogo tem TANTO conteúdo, e ele te recompensa constantemente à medida que você avança! [...] A tal ponto que quando você chegar no final, quando chegar naquele último momento: sim, vão ter coisas de platinador que você irá querer ver e desfrutar pela sua dedicação nesta jornada."
~ Jirard "The Completionist" Khalil. Eu não teria dito melhor. ❤️
This review contains spoilers
Rejogar é diferente de jogar. Enquanto jogar é imersão, rejogar é análise. Quando jogamos pela primeira vez, estamos agindo e reagindo a tudo como aquele personagem tendo que encarar os desafios, tomar decisões difíceis, agir sob pressão. Somos muito mais tolerantes com o jogo a primeira vez que jogamos e não temos tanto tempo sempre para pensar o que significam nossas ações e o que sentimos sobre elas.
Rejogar é outra história. Você sabe o que está acontecendo. Sabe para onde a história vai e não se surpreende mais com os plot twists. Isso faz com que você se sinta menos imerso naquela história, se sinta menos na pele daquele personagem e consiga enxergar tudo sob um outro ponto de vista.
A primeira vez em que eu joguei "The Last of Us", eu estava na casa de um amigo. Enquanto ele dormia depois do almoço eu ligava o PlayStation 3 dele e ia jogando de pouco em pouco. A história era algo fascinante e era muito impressionante o quando eu me sentia naquele mundo.
A lembrança de ter gostado do jogo foi tanta que eu, anos depois, quando comprei um ps4, decidi comprar o The Last of Us Remastered e rejogar, tentando reviver aquelas sensações todas de viver uma história única.
Isso, no entanto, não aconteceu. Rejogar me fez sentir muito mais no papel de espectador daquela história do que de realmente um agente. Estar nesse novo lugar, distante dos personagens, sabendo a decisão que Joel toma no final mudou totalmente o modo como eu me sentia em relação ao jogo. Enquanto a primeira vez parecia uma aventura em busca de uma esperança, a segunda parecia uma tragédia shakespeariana na qual todos morrem ao final.
A cada mapa, a cada desafio que os personagens enfrentavam, eu só conseguia pensar que nada daquilo valia a pena. Ao chegar no hospital, na última parte do jogo, eu só conseguia pensar que no fim das contas o Joel é um grande vilão dessa história e eu só queria conseguir mudar o final, fazer com que o Joel aceitasse tudo e só fosse embora de lá.
No entanto, não é possível mudar o final do jogo, ao menos desse jogo. Eu tive que matar todos aqueles soldados que, na minha opinião, estavam do lado certo, aqueles médicos que eram grandes heróis, tudo por causa de um egoísmo com o qual eu não me identificava.
Quase deixei para lá o jogo e abandonei, mas decidi seguir até o fim. Não foi um grande final dessa vez. Foi um final amargo, seco e triste.
Rejogar é diferente de jogar porque faz a gente repensar todas aquelas emoções, aquelas opiniões, aquelas decisões tomadas e eu vou pensar com muito cuidado daqui em diante quais jogos vou rejogar ou não.
Rejogar é outra história. Você sabe o que está acontecendo. Sabe para onde a história vai e não se surpreende mais com os plot twists. Isso faz com que você se sinta menos imerso naquela história, se sinta menos na pele daquele personagem e consiga enxergar tudo sob um outro ponto de vista.
A primeira vez em que eu joguei "The Last of Us", eu estava na casa de um amigo. Enquanto ele dormia depois do almoço eu ligava o PlayStation 3 dele e ia jogando de pouco em pouco. A história era algo fascinante e era muito impressionante o quando eu me sentia naquele mundo.
A lembrança de ter gostado do jogo foi tanta que eu, anos depois, quando comprei um ps4, decidi comprar o The Last of Us Remastered e rejogar, tentando reviver aquelas sensações todas de viver uma história única.
Isso, no entanto, não aconteceu. Rejogar me fez sentir muito mais no papel de espectador daquela história do que de realmente um agente. Estar nesse novo lugar, distante dos personagens, sabendo a decisão que Joel toma no final mudou totalmente o modo como eu me sentia em relação ao jogo. Enquanto a primeira vez parecia uma aventura em busca de uma esperança, a segunda parecia uma tragédia shakespeariana na qual todos morrem ao final.
A cada mapa, a cada desafio que os personagens enfrentavam, eu só conseguia pensar que nada daquilo valia a pena. Ao chegar no hospital, na última parte do jogo, eu só conseguia pensar que no fim das contas o Joel é um grande vilão dessa história e eu só queria conseguir mudar o final, fazer com que o Joel aceitasse tudo e só fosse embora de lá.
No entanto, não é possível mudar o final do jogo, ao menos desse jogo. Eu tive que matar todos aqueles soldados que, na minha opinião, estavam do lado certo, aqueles médicos que eram grandes heróis, tudo por causa de um egoísmo com o qual eu não me identificava.
Quase deixei para lá o jogo e abandonei, mas decidi seguir até o fim. Não foi um grande final dessa vez. Foi um final amargo, seco e triste.
Rejogar é diferente de jogar porque faz a gente repensar todas aquelas emoções, aquelas opiniões, aquelas decisões tomadas e eu vou pensar com muito cuidado daqui em diante quais jogos vou rejogar ou não.
The Last Guardian
2016
Estamos a todo momento caminhando em trilhas de convenções sociais, no modo como nos comunicamos, como andamos, como comemos. A verdade é que mesmo quando achamos que estamos fazendo algo totalmente inesperado e inusitado, muitas vezes ainda estamos seguindo algum tipo de convenção.
Você pode dizer que não liga para regras e normas, mas elas estão afetando o seu comportamento, mesmo que seja indicando quais caminhos você não vai seguir. Por isso, mesmo que The Last Guardian seja um jogo único, fico na dúvida se ele está quebrando com convenções de video games.
É claro que não é comum ter um jogo cuja principal mecânica está relacionada com lidar com um animal de comportamento realista e que não obedece direito os seus comandos. Alguma coisa dentro de mim diz que uma hora ou outra um jogo como esse iria surgir.
No entanto, independentemente se o jogo está desafiando convenções ou não, eu fico feliz que existam jogos que me façam pensar nisso, que existam pessoas com coragem de desenvolver ideias pouco usuais. Talvez mais importante do que fazer algo, sem sombras de dúvidas, totalmente novo e inesperado, é o exercício de nunca deixar de tentar chegar nesse nível.
The Last Guardian não é um jogo ótimo, mas é um jogo que traz algumas esperanças de que vale a pena tentar lutar contra convenções para fazer algo único. Talvez, com ideias desse tipo, um dia consigamos chegar realmente a quebrar algumas regras e convenções e trilhar outros caminhos, melhores caminhos, diferentes de tudo o que já vimos até então ou que um dia esperaríamos ver.
Você pode dizer que não liga para regras e normas, mas elas estão afetando o seu comportamento, mesmo que seja indicando quais caminhos você não vai seguir. Por isso, mesmo que The Last Guardian seja um jogo único, fico na dúvida se ele está quebrando com convenções de video games.
É claro que não é comum ter um jogo cuja principal mecânica está relacionada com lidar com um animal de comportamento realista e que não obedece direito os seus comandos. Alguma coisa dentro de mim diz que uma hora ou outra um jogo como esse iria surgir.
No entanto, independentemente se o jogo está desafiando convenções ou não, eu fico feliz que existam jogos que me façam pensar nisso, que existam pessoas com coragem de desenvolver ideias pouco usuais. Talvez mais importante do que fazer algo, sem sombras de dúvidas, totalmente novo e inesperado, é o exercício de nunca deixar de tentar chegar nesse nível.
The Last Guardian não é um jogo ótimo, mas é um jogo que traz algumas esperanças de que vale a pena tentar lutar contra convenções para fazer algo único. Talvez, com ideias desse tipo, um dia consigamos chegar realmente a quebrar algumas regras e convenções e trilhar outros caminhos, melhores caminhos, diferentes de tudo o que já vimos até então ou que um dia esperaríamos ver.
Borderlands 2
2012
Todo mundo, acho, tem um(a) amigo(a) do(a) qual você era inseparável. Nunca tinha dia ruim, ele(a) estava sempre pronto para animar você, fazer piadas, propor aventuras malucas e você era muito feliz do lado dele(a).
Todo mundo também, acho, já teve um momento de reencontrar esse(a) amigo(a) depois de anos sem se falarem e… a princípio é legal, as lembranças, as piadas, é tudo muito nostálgico, mas no fundo você sabe que tem algo errado ali. Você tenta entender o que, mas nada parece estar fora do comum. Aquela amizade está lá do mesmo jeito que sempre foi. Até reparar que o problema é você. Você que mudou, você que não gosta mais daquelas piadas e daquelas aventuras.
Eu sempre vou ter um carinho especial por Borderlands 2. Foi um dois primeiros jogos mais next gen, na época, que eu comprei e eu me acabei com ele, com todas as missões, personagens, armas, cenários etc.
Quando saiu o Borderlands 3 eu sentia que tinha que comprar, não existia a opção de não jogar. Mas a verdade é que não consegui passar dos primeiros minutos até perceber que não era para mim. E isso não é culpa do jogo, mas é minha culpa. Borderlands não é mais uma série que me move, que me surpreende e me motiva. O que eu sinto agora é mais uma nostalgia e um saudosismo, mais do que qualquer coisa.
Isso não que dizer que eu passei a odiar o jogo mas, assim como aquele(a) amigo(a), talvez seja a hora de seguirmos cada um pelo seu caminho e guardarmos conosco somente as boas lembranças do tempo que passamos juntos.
Todo mundo também, acho, já teve um momento de reencontrar esse(a) amigo(a) depois de anos sem se falarem e… a princípio é legal, as lembranças, as piadas, é tudo muito nostálgico, mas no fundo você sabe que tem algo errado ali. Você tenta entender o que, mas nada parece estar fora do comum. Aquela amizade está lá do mesmo jeito que sempre foi. Até reparar que o problema é você. Você que mudou, você que não gosta mais daquelas piadas e daquelas aventuras.
Eu sempre vou ter um carinho especial por Borderlands 2. Foi um dois primeiros jogos mais next gen, na época, que eu comprei e eu me acabei com ele, com todas as missões, personagens, armas, cenários etc.
Quando saiu o Borderlands 3 eu sentia que tinha que comprar, não existia a opção de não jogar. Mas a verdade é que não consegui passar dos primeiros minutos até perceber que não era para mim. E isso não é culpa do jogo, mas é minha culpa. Borderlands não é mais uma série que me move, que me surpreende e me motiva. O que eu sinto agora é mais uma nostalgia e um saudosismo, mais do que qualquer coisa.
Isso não que dizer que eu passei a odiar o jogo mas, assim como aquele(a) amigo(a), talvez seja a hora de seguirmos cada um pelo seu caminho e guardarmos conosco somente as boas lembranças do tempo que passamos juntos.
Furi
2016
Existe algum prazer em apertar botões. Campainhas, interruptores, teclados; botões em eletrodomésticos, em ferramentas, em controles; botões silenciosos, mecânicos barulhentos etc.
Para mim, talvez isso esteja relacionado a criar uma segurança de que você tem o controle sobre algo no mundo. Vivemos em um mundo de milhares de possíveis acontecimentos e de improbabilidades e temos que lidar com isso a todo momento. Você pode, por exemplo, ser o melhor arqueiro do mundo. Pode ter a postura perfeita, estar em um dia perfeito, tudo pronto para atirar a flecha no centro do alvo. No entanto, a partir do momento em que você larga a flecha, tudo pode acontecer. Talvez bata um vento e desvie a fecha, talvez um pássaro passe bem no momento e faça a flecha alterar a direção dela, talvez aconteça um terremoto e o alvo caia no chão.
Botões não são como flechas. Eles fazem exatamente o que você manda eles fazerem, se estiverem funcionando corretamente, pelo menos. Se um botão não está funcionando, é a coisa mais frustrante do mundo, mais do que errar a flechada no alvo. Eu que o diga, pois recentemente descobri que um dos gatilhos do botão fazia o controle achar que eu estava empurrando uma das alavancas e tive que ir até uma assistência arrumar.
Furi é um jogo sobre o prazer de apertar botões. Obviamente, você precisa apertar botões na maioria dos jogos, mas em Furi os botões devem ser apertados de maneira muito mais rítmica e assertiva. Não é um jogo de imersão para mim, mas sim um jogo de sincronização, você menos precisa se sentir na pele do personagem e mais parte do código do jogo.
Nunca foi tão prazeroso apertar botões na hora certa. É um jogo que faz você se esquecer de que o arroz que você sempre faz do mesmo jeito às vezes queima no fundo, que volta e meia você tropeça andando pela rua onde você anda todos os dias. Você sabe que tudo o que você conquista ou fracassa é por causa dos botões que você apertou, e que você pode apertar ainda melhor, e melhor, e melhor.
São tantas repetições, tanto treino tentando apertar botões do melhor jeito que em algum momento você até se esquece que o jogo têm personagens, que tem uma história e um cenário. Pensando bem, talvez eu esteja errado em dizer que esse não é um jogo de imersão. Talvez seja essa a imersão. Se sentir um ser totalmente desinteressado pelos outros, totalmente surdo para os apelos, provocações e avisos. Uma força que segue sempre em frente, não pode ser interrompida por nada e, pior de tudo, sente prazer nisso.
Talvez seja bom no fundo que nem tudo na vida seja como botões, que a gente se iniba com a possibilidade das coisas não acontecerem como planejado, mesmo que tudo ocorra aparentemente como deve ocorrer. Talvez a gente precise do medo da improbabilidade para não se tornar uma força que desconsidera tudo e todos à sua volta. Sejamos imperfeitos, pelo menos fora dos jogos, como um gatilho de controle que também empurra uma alavanca para frente.
Para mim, talvez isso esteja relacionado a criar uma segurança de que você tem o controle sobre algo no mundo. Vivemos em um mundo de milhares de possíveis acontecimentos e de improbabilidades e temos que lidar com isso a todo momento. Você pode, por exemplo, ser o melhor arqueiro do mundo. Pode ter a postura perfeita, estar em um dia perfeito, tudo pronto para atirar a flecha no centro do alvo. No entanto, a partir do momento em que você larga a flecha, tudo pode acontecer. Talvez bata um vento e desvie a fecha, talvez um pássaro passe bem no momento e faça a flecha alterar a direção dela, talvez aconteça um terremoto e o alvo caia no chão.
Botões não são como flechas. Eles fazem exatamente o que você manda eles fazerem, se estiverem funcionando corretamente, pelo menos. Se um botão não está funcionando, é a coisa mais frustrante do mundo, mais do que errar a flechada no alvo. Eu que o diga, pois recentemente descobri que um dos gatilhos do botão fazia o controle achar que eu estava empurrando uma das alavancas e tive que ir até uma assistência arrumar.
Furi é um jogo sobre o prazer de apertar botões. Obviamente, você precisa apertar botões na maioria dos jogos, mas em Furi os botões devem ser apertados de maneira muito mais rítmica e assertiva. Não é um jogo de imersão para mim, mas sim um jogo de sincronização, você menos precisa se sentir na pele do personagem e mais parte do código do jogo.
Nunca foi tão prazeroso apertar botões na hora certa. É um jogo que faz você se esquecer de que o arroz que você sempre faz do mesmo jeito às vezes queima no fundo, que volta e meia você tropeça andando pela rua onde você anda todos os dias. Você sabe que tudo o que você conquista ou fracassa é por causa dos botões que você apertou, e que você pode apertar ainda melhor, e melhor, e melhor.
São tantas repetições, tanto treino tentando apertar botões do melhor jeito que em algum momento você até se esquece que o jogo têm personagens, que tem uma história e um cenário. Pensando bem, talvez eu esteja errado em dizer que esse não é um jogo de imersão. Talvez seja essa a imersão. Se sentir um ser totalmente desinteressado pelos outros, totalmente surdo para os apelos, provocações e avisos. Uma força que segue sempre em frente, não pode ser interrompida por nada e, pior de tudo, sente prazer nisso.
Talvez seja bom no fundo que nem tudo na vida seja como botões, que a gente se iniba com a possibilidade das coisas não acontecerem como planejado, mesmo que tudo ocorra aparentemente como deve ocorrer. Talvez a gente precise do medo da improbabilidade para não se tornar uma força que desconsidera tudo e todos à sua volta. Sejamos imperfeitos, pelo menos fora dos jogos, como um gatilho de controle que também empurra uma alavanca para frente.
Eu queria ser uma pessoa menos cética em relação a tudo a minha volta, mas talvez esse seja um caminho sem volta. Eu não consigo ouvir músicas populares e me deixar sentir alguma coisa por elas sem imaginar que elas são menos uma expressão artística e mais um produto. Não sai da minha cabeça a imagem de uma mesa rodeada de homens de terno apontando quais palavras devem ser usadas e qual é o melhor momento para mudar o tom e tocar pessoas emocionalmente.
Talvez seja pelo fato de ter crescido e começado a vivenciar bastidores do desenvolvimento de produtos. Percebi que a emoção humana é algo que pode ser estudado, previsto e estimulado apertando as teclas certas. Pelo mesmo motivo, não consigo mais ver reportagens televisivas depois de passar por uma faculdade de jornalismo.
De modo algum eu quero dizer com isso que eu sou muito mais “real” que as pessoas, que eu sou especial e consigo ver através as intenções além do que pessoas comuns conseguem ver. Muito pelo contrário. Continuo sem saber se estou me sentindo assim por minha causa ou por que as pessoas desvendaram os pontos certos para me fazer sentir. A diferença é que desconfiando de tudo, eu aproveito muito menos tudo com que eu entro em contato.
Jogar A Story About My Uncle foi muito difícil por isso. A todo momento, quando o jogo tentava me puxar para a imersão, meu ceticismo me puxava para a desconfiança. Por mais sincero que o jogo possa ser em querer contar uma história, parte de aproveitar é de sua responsabilidade como jogador, é se deixar aproveitar, se deixar guiar e se deixar enganar.
Dizem que, por exemplo, hipnose é algo que só funciona se você está disposto a acreditar que ela existe e que você pode ser hipnotizado. Mas como fazer isso? Como voltar para um momento em que você não tinha aquela desconfiança?
Tenho muito medo de não estar aproveitando coisas boas da minha vida por causa dessa desconfiança de tudo. De não estar aproveitando uma festa da firma, um almoço em família, uma mensagem motivacional por ser cético em relação ao que essas coisas representam de fato.
Eu queria poder jogar A Story About My Uncle sem toda essa armadura e me deixar levar por uma história simples de uma aventura fantástica, sobre seres de outra dimensão e tecnologias incríveis. Essa armadura, no entanto, talvez já faça parte de mim, talvez já seja uma carapaça e eu continue tornando experiências piores para mim sem nunca saber se existia um motivo para tanta desconfiança.
Talvez seja pelo fato de ter crescido e começado a vivenciar bastidores do desenvolvimento de produtos. Percebi que a emoção humana é algo que pode ser estudado, previsto e estimulado apertando as teclas certas. Pelo mesmo motivo, não consigo mais ver reportagens televisivas depois de passar por uma faculdade de jornalismo.
De modo algum eu quero dizer com isso que eu sou muito mais “real” que as pessoas, que eu sou especial e consigo ver através as intenções além do que pessoas comuns conseguem ver. Muito pelo contrário. Continuo sem saber se estou me sentindo assim por minha causa ou por que as pessoas desvendaram os pontos certos para me fazer sentir. A diferença é que desconfiando de tudo, eu aproveito muito menos tudo com que eu entro em contato.
Jogar A Story About My Uncle foi muito difícil por isso. A todo momento, quando o jogo tentava me puxar para a imersão, meu ceticismo me puxava para a desconfiança. Por mais sincero que o jogo possa ser em querer contar uma história, parte de aproveitar é de sua responsabilidade como jogador, é se deixar aproveitar, se deixar guiar e se deixar enganar.
Dizem que, por exemplo, hipnose é algo que só funciona se você está disposto a acreditar que ela existe e que você pode ser hipnotizado. Mas como fazer isso? Como voltar para um momento em que você não tinha aquela desconfiança?
Tenho muito medo de não estar aproveitando coisas boas da minha vida por causa dessa desconfiança de tudo. De não estar aproveitando uma festa da firma, um almoço em família, uma mensagem motivacional por ser cético em relação ao que essas coisas representam de fato.
Eu queria poder jogar A Story About My Uncle sem toda essa armadura e me deixar levar por uma história simples de uma aventura fantástica, sobre seres de outra dimensão e tecnologias incríveis. Essa armadura, no entanto, talvez já faça parte de mim, talvez já seja uma carapaça e eu continue tornando experiências piores para mim sem nunca saber se existia um motivo para tanta desconfiança.
Na minha opinião, esse remake é muito melhor do que o original. Sim, houve algumas regressões, dentre elas temos o nado do Zora, a aceleração do Deku e a boss fight do Odolwa, mas tudo que ele adicionou e melhorou compensa, e MUITO, aquilo que foi piorado.
O Bombers Notebook, a possibilidade de salvar em qualquer estátua de coruja (não, isso não quebra a imersão e nem tira o sentido dos loops. Esse jogo saiu para o 3DS, um console portátil. Imagina que a bateria do console esteja acabando e, por conta disso, você é forçado a reiniciar o ciclo pra poder salvar? Seria ridículo), e toda a interface, acessibilidade e dinanismo que os menus do 3DS trazem, principalmente no que diz respeito ao manuseio dos itens, tornam essa a versão definitiva do game.
Agora, discorrendo sobre o Majoa's Mask em si, esse era meu jogo favorito antes do Breath of the Wild. Amo o quanto é ousado e diferente dos jogos "padrões" da franquia. A atmosfera é melancólica e totalmente imersiva, os personagens e seus respectivos arcos são os melhores da franquia inteira, a trilha é ótima, as missões secundárias são espetaculares, as máscaras são divertidíssimas de usar e é um deleito explorar cada dungeon. É surreal pensar no quanto um jogo de 64 é tão vivo e imersivo, ao ponto de dar uma sova em muitos jogos da atualidade, e é mais inacreditável ainda pensar que esse jogo foi produzido em menos de um ano.
Resumindo, este jogo é uma obra-prima e isso não é novidade para ninguém
O Bombers Notebook, a possibilidade de salvar em qualquer estátua de coruja (não, isso não quebra a imersão e nem tira o sentido dos loops. Esse jogo saiu para o 3DS, um console portátil. Imagina que a bateria do console esteja acabando e, por conta disso, você é forçado a reiniciar o ciclo pra poder salvar? Seria ridículo), e toda a interface, acessibilidade e dinanismo que os menus do 3DS trazem, principalmente no que diz respeito ao manuseio dos itens, tornam essa a versão definitiva do game.
Agora, discorrendo sobre o Majoa's Mask em si, esse era meu jogo favorito antes do Breath of the Wild. Amo o quanto é ousado e diferente dos jogos "padrões" da franquia. A atmosfera é melancólica e totalmente imersiva, os personagens e seus respectivos arcos são os melhores da franquia inteira, a trilha é ótima, as missões secundárias são espetaculares, as máscaras são divertidíssimas de usar e é um deleito explorar cada dungeon. É surreal pensar no quanto um jogo de 64 é tão vivo e imersivo, ao ponto de dar uma sova em muitos jogos da atualidade, e é mais inacreditável ainda pensar que esse jogo foi produzido em menos de um ano.
Resumindo, este jogo é uma obra-prima e isso não é novidade para ninguém
Her Story
2015
This review contains spoilers
Eu não suporto discussões desnecessárias. Se o feijão fica em cima do arroz ou o contrário, se o vestido é branco e dourado ou azul e preto, se o certo é dizer biscoito ou bolacha etc. Queria muito entender por qual motivo algumas pessoas decidem gastar essa quantidade finita de minutos nesse planeta levantando e repetindo essas questões que não levam a lugar nenhum.
Umas dessas questões que eu mais odeio é se Capitu traiu ou não Bentinho. Como se o livro não tivesse dado elementos o suficiente para você aproveitar, sentir, pensar, pessoas debatem e rebatem argumentos de pistas existentes e não existentes como se só pudessem aproveitar aquela obra com uma definição.
Mas esse não é um pensamento revolucionário. Professores(as) de literatura há anos falam que é uma história sobre ciúmes, e não sobre uma traição. Não saber faz parte do processo, nem todos os mistérios da nossa vida serão desvendados afinal e vamos morrer deixando muitas pontas e arestas soltas por aí.
Dom Casmurro me faz pensar muito em Her Story. São histórias contadas por narradores(as) não confiáveis, que sequestram sua atenção e mexem com o que você acredita ou não. Lembro quando o jogo lançou ouvir debates de pessoas discutindo se ela tinha mesmo uma irmã gêmea ou não, que os indícios mostravam uma coisa, que as batidas de dedo na mesa diziam outra etc.
Isso me incomoda porque é mais uma discussão inútil. Assim como Dom Casmurro, não importa afinal se o que foi narrado é verdade ou não e o jogo não vai ficar melhor com essa definição. Her Story é menos uma história sobre um assassinato, sobre irmãs gêmeas e mais uma historia sobre como a verdade está sempre escapando pelos nossos dedos como areia. Mesmo pessoas encarregadas de descobrir verdades talvez nunca as encontre de fato, com todas as garantias.
Her Story é um jogo sobre aceitar que algumas coisas nunca serão esclarecidas e tentar esclarecê-las a qualquer custo não vale a quantidade finita de minutos que temos nesse nosso planeta.
Umas dessas questões que eu mais odeio é se Capitu traiu ou não Bentinho. Como se o livro não tivesse dado elementos o suficiente para você aproveitar, sentir, pensar, pessoas debatem e rebatem argumentos de pistas existentes e não existentes como se só pudessem aproveitar aquela obra com uma definição.
Mas esse não é um pensamento revolucionário. Professores(as) de literatura há anos falam que é uma história sobre ciúmes, e não sobre uma traição. Não saber faz parte do processo, nem todos os mistérios da nossa vida serão desvendados afinal e vamos morrer deixando muitas pontas e arestas soltas por aí.
Dom Casmurro me faz pensar muito em Her Story. São histórias contadas por narradores(as) não confiáveis, que sequestram sua atenção e mexem com o que você acredita ou não. Lembro quando o jogo lançou ouvir debates de pessoas discutindo se ela tinha mesmo uma irmã gêmea ou não, que os indícios mostravam uma coisa, que as batidas de dedo na mesa diziam outra etc.
Isso me incomoda porque é mais uma discussão inútil. Assim como Dom Casmurro, não importa afinal se o que foi narrado é verdade ou não e o jogo não vai ficar melhor com essa definição. Her Story é menos uma história sobre um assassinato, sobre irmãs gêmeas e mais uma historia sobre como a verdade está sempre escapando pelos nossos dedos como areia. Mesmo pessoas encarregadas de descobrir verdades talvez nunca as encontre de fato, com todas as garantias.
Her Story é um jogo sobre aceitar que algumas coisas nunca serão esclarecidas e tentar esclarecê-las a qualquer custo não vale a quantidade finita de minutos que temos nesse nosso planeta.
Yooka-Laylee
2017
Quando eu era criança eu tinha certeza de que viveria da minha escrita. Eu vivia escrevendo, no computador, em blogs, em caderninhos que eu levava debaixo do braço. Era um conforto saber naquela época que eu tinha descoberto algo que eu fazia bem, que era especial em mim. Eu sentia que sabia quem eu era por isso e era bom.
Crescer, conhecer outras pessoas, entrar na faculdade foi perceber que o mundo era muito maior do que eu estava acostumado, e nesse novo mundo, eu não era assim tão bom com a escrita. Muita gente escreve, muita gente se acha especial, muita gente é boa nisso e aquela sensação de que eu tinha um dom se estilhaçou em inúmeros pedaços.
A verdade é que nada do que eu tinha feito até então significava alguma coisa. Os textos, as postagens, os elogios de professores(as) e amigos. Esse é o mundo dos adultos e você não ganha um passe livre por achar que tinha um talento quando criança.
Essa sensação é muito parecida com o que eu senti jogando Yooka-Laylee. Você fez algo muito legal no passado, recebeu muitos elogios, pessoas falavam para você que você tinha um dom para a coisa. Mas você não recebe um passe livre por isso. Existem um monte de outros jogos que fazem tudo o que você quer fazer e fazem melhor ainda.
Eu queria gostar desse jogo, queria ver nele algo especial, dizer que apesar dos defeitos é um grande feito de desenvolvedores com um notável talento. Assim como eu gostaria que eu fosse redescoberto, que as pessoas voltassem a me fazer acreditar que tinha algo de especial acontecendo comigo. Mas, assim como eu, Yooka-Laylee é somente uma sombra do seu passado, cheio de comemorações e promessas de sucesso e, infelizmente, eu não vou insistir para saber o final dessa história.
Crescer, conhecer outras pessoas, entrar na faculdade foi perceber que o mundo era muito maior do que eu estava acostumado, e nesse novo mundo, eu não era assim tão bom com a escrita. Muita gente escreve, muita gente se acha especial, muita gente é boa nisso e aquela sensação de que eu tinha um dom se estilhaçou em inúmeros pedaços.
A verdade é que nada do que eu tinha feito até então significava alguma coisa. Os textos, as postagens, os elogios de professores(as) e amigos. Esse é o mundo dos adultos e você não ganha um passe livre por achar que tinha um talento quando criança.
Essa sensação é muito parecida com o que eu senti jogando Yooka-Laylee. Você fez algo muito legal no passado, recebeu muitos elogios, pessoas falavam para você que você tinha um dom para a coisa. Mas você não recebe um passe livre por isso. Existem um monte de outros jogos que fazem tudo o que você quer fazer e fazem melhor ainda.
Eu queria gostar desse jogo, queria ver nele algo especial, dizer que apesar dos defeitos é um grande feito de desenvolvedores com um notável talento. Assim como eu gostaria que eu fosse redescoberto, que as pessoas voltassem a me fazer acreditar que tinha algo de especial acontecendo comigo. Mas, assim como eu, Yooka-Laylee é somente uma sombra do seu passado, cheio de comemorações e promessas de sucesso e, infelizmente, eu não vou insistir para saber o final dessa história.
Minecraft
2011
Nunca é um bom sinal quando eu me percebo jogando Minecraft novamente. Minecraft volta para a minha vida somente quando tem algo de muito errado com ela. Isso porque não é um jogo, para mim, sobre liberdade, criatividade e aventura, mas sim um jogo sobre organização, compulsão e controle.
Não é a toa ele ter sido um dos jogos mais jogados quando eu estava recém formado, desempregado, sem perspectiva de arranjar qualquer emprego. Minha vida estava um caos e tudo o que eu queria era ter certeza sobre alguma coisa, eu queria me sentir no controle do meu destino.
No jogo, eu passava horas colecionando e categorizando blocos, automatizando drops, acumulando recursos, construindo edifícios, tentando juntar as migalhas de qualquer sensação de agência e controle para me sentir vivo.
Não jogo mais Minecraft hoje, mas ele sempre volta em algum momento. Ele fica na espreita, como um urubu olhando o animal moribundo esperando para tirar uma lasca de carniça. O que me resta é esperar que, cada vez mais cedo, eu consiga entender o que realmente significa em cada momento aquela vontade de começar um mundo novo e criar o primeiro workbench.
Não é a toa ele ter sido um dos jogos mais jogados quando eu estava recém formado, desempregado, sem perspectiva de arranjar qualquer emprego. Minha vida estava um caos e tudo o que eu queria era ter certeza sobre alguma coisa, eu queria me sentir no controle do meu destino.
No jogo, eu passava horas colecionando e categorizando blocos, automatizando drops, acumulando recursos, construindo edifícios, tentando juntar as migalhas de qualquer sensação de agência e controle para me sentir vivo.
Não jogo mais Minecraft hoje, mas ele sempre volta em algum momento. Ele fica na espreita, como um urubu olhando o animal moribundo esperando para tirar uma lasca de carniça. O que me resta é esperar que, cada vez mais cedo, eu consiga entender o que realmente significa em cada momento aquela vontade de começar um mundo novo e criar o primeiro workbench.
Doom
2016
O grande reavivamento da franquia é também uma enorme ruptura com os clássicos - tão grande ou maior até mesmo que a de Doom 3. Por baixo de sua estética demoníaca e metaleira noventista, é possível ver que as inspirações do reboot são eminentemente modernas. O level design de Half-Life, as armas e movimentação de Quake, os sistemas de upgrade e habilidades onipresentes em games atuais: dá para repartir cada elemento do game e compará-los diretamente com outros jogos, mas comparações diretas com Doom 1&2 são mais difíceis de achar. Em nenhum momento essa ruptura fica mais evidente que nos mapas clássicos. Tanto a movimentação mais cadente do Doomslayer quanto o comportamento dos novos inimigos parecem realmente "deslocados" dentro daqueles níveis pixelados dos anos 1990. Doom 2016 não atualiza as mecânicas de seus antecessores para uma audiência moderna; ele se comunica com ela usando sua linguagem contemporânea.
O que torna o game tão bem-sucedido e querido tanto por novatos quanto veteranos é como e para quê ele usa essa linguagem familiar. Ele consegue ser uma negação aos shooters modernos usando as mesmas ferramentas que eles. Se em sua forma observamos uma ruptura, em seu conteúdo há um resgate. Doom 1&2 eram mais do que uma inovação tecnológica ou mecânica. Eles eram uma experiência sentimental, uma explícita explosão de violência e visceralidade. É esse sentimento que o reboot resgata de maneira triunfal. Cada mecânica nova, cada upgrade nas armas, cada segredo, estão lá com o solene objetivo de fazer você, o jogador, ter somente uma preocupação: matar demônios.
Sabe aquela sorrisinho malicioso que o Doom Guy fazia nos clássicos sempre que pegava uma BFG, como se ele estivesse dizendo "agora sim eu vou !@#!@@## esses monstros!"? Ele vai estampar a sua cara toda vez que você fizer um glory kill ou sobreviver a um grande tiroteio.
Rip and tear, until it's done.
O que torna o game tão bem-sucedido e querido tanto por novatos quanto veteranos é como e para quê ele usa essa linguagem familiar. Ele consegue ser uma negação aos shooters modernos usando as mesmas ferramentas que eles. Se em sua forma observamos uma ruptura, em seu conteúdo há um resgate. Doom 1&2 eram mais do que uma inovação tecnológica ou mecânica. Eles eram uma experiência sentimental, uma explícita explosão de violência e visceralidade. É esse sentimento que o reboot resgata de maneira triunfal. Cada mecânica nova, cada upgrade nas armas, cada segredo, estão lá com o solene objetivo de fazer você, o jogador, ter somente uma preocupação: matar demônios.
Sabe aquela sorrisinho malicioso que o Doom Guy fazia nos clássicos sempre que pegava uma BFG, como se ele estivesse dizendo "agora sim eu vou !@#!@@## esses monstros!"? Ele vai estampar a sua cara toda vez que você fizer um glory kill ou sobreviver a um grande tiroteio.
Rip and tear, until it's done.