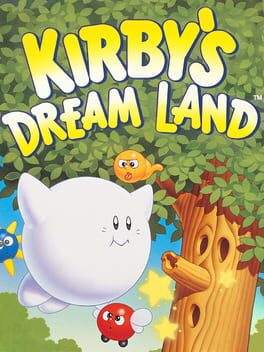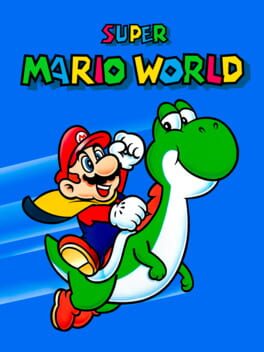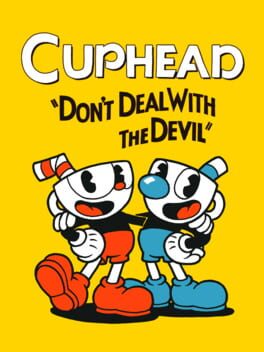2009
Resident Evil 5 é um jogo que se localiza em um limbo esquisito. Como seu antecessor, Resident Evil 4, é um dos jogos mais importantes desse século, é curioso saber quais caminhos a capcom trilha para sua continuação.
O fato é que, já em 2009, o impacto de resident evil 4 tinha desdobramentos nos jogos da época. Principalmente nas imagens de Gears of War e Uncharted, os jogos de ação pegaram o que causou impacto em 2005, e transformaram em mais fluidez
Curiosamente, Resident Evil 5 não. A decisão da direção é manter a gameplay a tão fiel possível quanto do 4, com aprimoramentos gráficos, abandono quase total do horror e uma companion, a Sheva.
Sheva, objeto de muito ódio pela fandom, representa a melhor parte do jogo para mim. Além de ser a única com um arco condizente nessa história tão desperdiçada como essa aqui, o cooperativo é o grande toque de Resident Evil 5. E sem dúvidas, é um dos coops mais divertidos que joguei. Manejar munição, armas, combar socos, a presença de diversas setpieces diferentes e momentos de tensão fazem desse um jogo muito divertido. E não só apenas in game, as cutscenes da reta final, que contêm a escrita mais vagabunda que você consegue imaginar, é de dar risadas.
Mesmo que a gameplay represente o conservadorismo e segurança que o jogo apresenta, ainda é objeto de muita nostalgia e satisfação, mas definitivamente não se articula com as hordas de inimigos que têm aqui. É muito por isso que tenho sentimentos conflitantes do Resident Evil 5: É um jogo que não quer saber muito das convenções dos jogos de ação da época, mas o que cria no lugar por ceder tais convenções não é tão potente.
Por fim, é possível tecer um estudo de caso bem interessante sobre Resident Evil 5 e racismo. É um jogo de uma visão japonesa sobre americanos estando na África. Há muita complexidade nesse espectro. No mesmo capítulo, o Chris diz sobre os horrores que o capitalismo faz em Estados, e logo após uma cena absurdamente gratuita de uma mulher branca sendo sequestrada por um homem negro. Não irei me alongar muito aqui, mas é um campo importante de ser discutido.
Até!
O fato é que, já em 2009, o impacto de resident evil 4 tinha desdobramentos nos jogos da época. Principalmente nas imagens de Gears of War e Uncharted, os jogos de ação pegaram o que causou impacto em 2005, e transformaram em mais fluidez
Curiosamente, Resident Evil 5 não. A decisão da direção é manter a gameplay a tão fiel possível quanto do 4, com aprimoramentos gráficos, abandono quase total do horror e uma companion, a Sheva.
Sheva, objeto de muito ódio pela fandom, representa a melhor parte do jogo para mim. Além de ser a única com um arco condizente nessa história tão desperdiçada como essa aqui, o cooperativo é o grande toque de Resident Evil 5. E sem dúvidas, é um dos coops mais divertidos que joguei. Manejar munição, armas, combar socos, a presença de diversas setpieces diferentes e momentos de tensão fazem desse um jogo muito divertido. E não só apenas in game, as cutscenes da reta final, que contêm a escrita mais vagabunda que você consegue imaginar, é de dar risadas.
Mesmo que a gameplay represente o conservadorismo e segurança que o jogo apresenta, ainda é objeto de muita nostalgia e satisfação, mas definitivamente não se articula com as hordas de inimigos que têm aqui. É muito por isso que tenho sentimentos conflitantes do Resident Evil 5: É um jogo que não quer saber muito das convenções dos jogos de ação da época, mas o que cria no lugar por ceder tais convenções não é tão potente.
Por fim, é possível tecer um estudo de caso bem interessante sobre Resident Evil 5 e racismo. É um jogo de uma visão japonesa sobre americanos estando na África. Há muita complexidade nesse espectro. No mesmo capítulo, o Chris diz sobre os horrores que o capitalismo faz em Estados, e logo após uma cena absurdamente gratuita de uma mulher branca sendo sequestrada por um homem negro. Não irei me alongar muito aqui, mas é um campo importante de ser discutido.
Até!
1992
Sempre admirei kirby de longe, mas decidi hoje dar início a franquia e começo por aqui, com Dream Land.
Existem coisas muito interessantes por aqui. É um jogo bem curto, e o game design é um tanto bagunçado, mas também tanto ambicioso, já que uma das forças do jogo é a capacidade de Kirby voar e estar por toda a tela. As fases progressivamente vão explorando cada vez mais o voo, e o combate tem momentos até que interessantes. Kirby não se transforma em inimigos, mas os engole e projeta eles como munição, e quando voa ele inspira o ar e o ar inspirado também pode ser usado como munição. Seu próprio movimento produz sua capacidade de combate. É bacana!
Sem dúvidas, o maior destaque para mim ficou com sua trilha sonora. É riquíssima e lendária, todas as fases tem músicas marcantes. Minha favorita e a que vai ficar na minha cabeça por algum tempo é essa: https://www.youtube.com/watch?v=1Y7A9lCuIbU
Por fim, as animações são bonitas (o kirby caindo é muito bonitinho), o tema do jogo em si é excentricidade, e os inimigos e bosss transparecem bem isso. Sofre um pouco seu design, mas eu admiro o que tentaram fazer aqui.
Existem coisas muito interessantes por aqui. É um jogo bem curto, e o game design é um tanto bagunçado, mas também tanto ambicioso, já que uma das forças do jogo é a capacidade de Kirby voar e estar por toda a tela. As fases progressivamente vão explorando cada vez mais o voo, e o combate tem momentos até que interessantes. Kirby não se transforma em inimigos, mas os engole e projeta eles como munição, e quando voa ele inspira o ar e o ar inspirado também pode ser usado como munição. Seu próprio movimento produz sua capacidade de combate. É bacana!
Sem dúvidas, o maior destaque para mim ficou com sua trilha sonora. É riquíssima e lendária, todas as fases tem músicas marcantes. Minha favorita e a que vai ficar na minha cabeça por algum tempo é essa: https://www.youtube.com/watch?v=1Y7A9lCuIbU
Por fim, as animações são bonitas (o kirby caindo é muito bonitinho), o tema do jogo em si é excentricidade, e os inimigos e bosss transparecem bem isso. Sofre um pouco seu design, mas eu admiro o que tentaram fazer aqui.
2017
Afinal, o que simboliza Mario? Esperança? Pureza? Alegria? O que o bigodudo italiano traz consigo?
Perguntas que o jogo, em sua odisseia, nos convida a pensar. A estrutura do jogo é baseado em viagens: Mario visita mundos em que Bowser deixou rastros, conhece seus habitantes, derrota os inimigos e explora esse espaço. Mas mais do que isso, constantemente viajamos por toda a história do encanador que por si só se concilia com a história dos video-games; afinal é Ele, o símbolo maior, Mario, que deu ar para indústrias a 40 anos atrás. Aqui, os 8-bits e o 3D se misturam, dançam. Há pequenas fases plataformas que remetem ao primeiro jogo do Mario que fazem parte da exploração.
Explorar, aliás, é o que há. Mario procura as ''Moon Stars'' para consertar sua nave. E para isso temos a presença do ''Cap'', que introduz a mecânica de incorporar objetos e animais que vai ser definidora no jogo todo. Por vezes, senti que o cap não era explorado por inteiro, mas ainda sim adiciona uma dinâmica muito bacana durante a exploração.
O mais bacana é que o Cap também faz parte da movimentação. Podemos usar ele como impulso, quase um double jump. Inclusive o moveset do Mario é o mais completo dentre todos os seus jogos 3D, permitindo pulos incríveis (vejam alguma speedrun do jogo e vejam o que falo. é incrível!). A exploração é tão satisfatório muito por conta por que mover o Mario é incrível, quase terapêutico.
Em relação aos mundos, poucos são desinteressantes, a maioria é muito bacana de explorar e tem segredos bem legais. Os habitantes são um show a parte, e os diálogos são bem engraçadinhos. Eles reagem ao mundo, o que dá uma vida para o povo. O mais memorável talvez seja o Metro Kingdom, o mundo em que Mario visita o que seria Nova York, e que quebra diversos paradigmas. Simplesmente Mario de motoca, quicando em táxis para explorar os prédios e mais. E também é o local em que toda essa homenagem ao Mario que vem sendo construída chega em seu (talvez?) ápice, com o festival da Pauline que canta a belíssima ''Jump Up, Super Star!'' enquanto jogamos Donkey Kong de arcade, a primeira aparição do Mario. Digo talvez por que o último mundo é muito lindo, mas não quero dar spoiler. Vá no youtube!
Enfim, é um jogo lindíssimo tematicamente e graficamente, mas que cai um pouco no seu pós-game, já que a exploração fica um tanto repetitiva. Adiciona umas salas de desafio em que se habita o pico de dificuldade do jogo, algumas moon stars e é isso. O mais legal do pós-game é ver o que acontece com o mundo sem Bowser, com todos os reinos visitando entre si. Talvez seja demais criticar o pós-game do jogo, mas o fato é que a sensação é que o jogo só acaba quando se coleta todas as powers moon, e o que se tem até lá não é tão bacana assim. Até!
Perguntas que o jogo, em sua odisseia, nos convida a pensar. A estrutura do jogo é baseado em viagens: Mario visita mundos em que Bowser deixou rastros, conhece seus habitantes, derrota os inimigos e explora esse espaço. Mas mais do que isso, constantemente viajamos por toda a história do encanador que por si só se concilia com a história dos video-games; afinal é Ele, o símbolo maior, Mario, que deu ar para indústrias a 40 anos atrás. Aqui, os 8-bits e o 3D se misturam, dançam. Há pequenas fases plataformas que remetem ao primeiro jogo do Mario que fazem parte da exploração.
Explorar, aliás, é o que há. Mario procura as ''Moon Stars'' para consertar sua nave. E para isso temos a presença do ''Cap'', que introduz a mecânica de incorporar objetos e animais que vai ser definidora no jogo todo. Por vezes, senti que o cap não era explorado por inteiro, mas ainda sim adiciona uma dinâmica muito bacana durante a exploração.
O mais bacana é que o Cap também faz parte da movimentação. Podemos usar ele como impulso, quase um double jump. Inclusive o moveset do Mario é o mais completo dentre todos os seus jogos 3D, permitindo pulos incríveis (vejam alguma speedrun do jogo e vejam o que falo. é incrível!). A exploração é tão satisfatório muito por conta por que mover o Mario é incrível, quase terapêutico.
Em relação aos mundos, poucos são desinteressantes, a maioria é muito bacana de explorar e tem segredos bem legais. Os habitantes são um show a parte, e os diálogos são bem engraçadinhos. Eles reagem ao mundo, o que dá uma vida para o povo. O mais memorável talvez seja o Metro Kingdom, o mundo em que Mario visita o que seria Nova York, e que quebra diversos paradigmas. Simplesmente Mario de motoca, quicando em táxis para explorar os prédios e mais. E também é o local em que toda essa homenagem ao Mario que vem sendo construída chega em seu (talvez?) ápice, com o festival da Pauline que canta a belíssima ''Jump Up, Super Star!'' enquanto jogamos Donkey Kong de arcade, a primeira aparição do Mario. Digo talvez por que o último mundo é muito lindo, mas não quero dar spoiler. Vá no youtube!
Enfim, é um jogo lindíssimo tematicamente e graficamente, mas que cai um pouco no seu pós-game, já que a exploração fica um tanto repetitiva. Adiciona umas salas de desafio em que se habita o pico de dificuldade do jogo, algumas moon stars e é isso. O mais legal do pós-game é ver o que acontece com o mundo sem Bowser, com todos os reinos visitando entre si. Talvez seja demais criticar o pós-game do jogo, mas o fato é que a sensação é que o jogo só acaba quando se coleta todas as powers moon, e o que se tem até lá não é tão bacana assim. Até!
1990
É o Mario 2D definitivo. Tudo aqui expira uma aura tão astral, quase sagrada: os pixels, modelos, músicas, powerups. O jogo gerou um impacto cultural absurdo, responsável por formar boa parte do que entendemos da identidade do maior símbolo dos games, Mario.
O jogo é lançado junto com O SNES, em 1990, e é tão ambicioso. É o jogo dos segredos, cada área, cada fase clama pela exploração. Tantas passagens secretas, a lendária Star Road, a sensação que é um jogo interminável. E em algum sentido, é mesmo interminável. Koji Kondo, compositor de boa parte da franquia, encontra aqui um tom doce e empolgante. Uma das grandes trilhas sonoras de sua carreira, e essa música ainda irá me matar de nostalgia qualquer hora: https://www.youtube.com/watch?v=waKumDkYrDY.
Enfim, muito gostoso de revisitar. Um verdadeiro clássico. Até!
O jogo é lançado junto com O SNES, em 1990, e é tão ambicioso. É o jogo dos segredos, cada área, cada fase clama pela exploração. Tantas passagens secretas, a lendária Star Road, a sensação que é um jogo interminável. E em algum sentido, é mesmo interminável. Koji Kondo, compositor de boa parte da franquia, encontra aqui um tom doce e empolgante. Uma das grandes trilhas sonoras de sua carreira, e essa música ainda irá me matar de nostalgia qualquer hora: https://www.youtube.com/watch?v=waKumDkYrDY.
Enfim, muito gostoso de revisitar. Um verdadeiro clássico. Até!
2022
Clássico atemporal, e nunca vai deixar de ser. É conciso e se preocupa apenas com o essencial, o que é traduzida pelo tamanho da duração do jogo e o tamanho do seu impacto nessa mídia. Uma única mecânica, abrir e fechar portais, em que o jogo se envolve por ela e permite ao jogador quebrar o design do jogo com a mecânica, se assim ele quiser.
Isso é foda, por que no final das contas, Portal é um jogo sobre ruptura. Somos Chell, uma mera cobaia comandada pela GladOS, até que não somos mais. É uma jornada sobre emancipação a partir da ruptura do exercício de pensar, pensar e pensar nos usos mais mirabolantes que a Portal Gun e toda a fisicalidade que são oferecidas nos permitem.
O bolo é uma mentira, assim como os avisos nas paredes desse laboratório vazio e enigmático nos dizem, mas o que é verdade? Portal 2 nos responde!
Ah, joguei a versão RTX, e é bem bacana e se parece até mais com um remaster por que substituiram bastante texturas e tal, mas é bem pesado e tem muito problema com perfomance. Deu pra tirar ótimos prints, entretanto: https://i.imgur.com/xwvxi04.jpeg
Isso é foda, por que no final das contas, Portal é um jogo sobre ruptura. Somos Chell, uma mera cobaia comandada pela GladOS, até que não somos mais. É uma jornada sobre emancipação a partir da ruptura do exercício de pensar, pensar e pensar nos usos mais mirabolantes que a Portal Gun e toda a fisicalidade que são oferecidas nos permitem.
O bolo é uma mentira, assim como os avisos nas paredes desse laboratório vazio e enigmático nos dizem, mas o que é verdade? Portal 2 nos responde!
Ah, joguei a versão RTX, e é bem bacana e se parece até mais com um remaster por que substituiram bastante texturas e tal, mas é bem pesado e tem muito problema com perfomance. Deu pra tirar ótimos prints, entretanto: https://i.imgur.com/xwvxi04.jpeg
Em comemoração de um dos melhores jogos de plataforma 2D já feitos, Celeste 64 foi desenvolvido em cerca de uma semana pela equipe original do jogo.
O jogo tenta traduzir algumas coisas que fizeram Celeste ser tão especial, principalmente o ''momentum'' da movimentação de Madeline, assim, alguns truques que viraram mecânicas do original retornam aqui. É lógico, o jogo é bem menos complexo em sua movimentação e em sua narrativa, mas ainda assim é uma experiência bem interessante, por que de fato é uma tradução de um gênero (plataforma 2D) para outro (plataforma 3d). É como se estivéssemos jogando um jogo 2D em uma cenário 3D.
Ainda assim, o jogo é um tanto escorregadio, e essa tradução de lógicas sem muito polimento não é tão agradável. Jogar isso me fez querer muito ver um grande jogo de plataforma 3D vindo do estúdio.
Enfim, é muito gostoso encontrar os personagens, esse mundinho e a trilha sonora maravilhosa do jogo. Para quem curtiu o primeiro, recomendo. (Algumas coisas da narrativa avançam!)
O jogo tenta traduzir algumas coisas que fizeram Celeste ser tão especial, principalmente o ''momentum'' da movimentação de Madeline, assim, alguns truques que viraram mecânicas do original retornam aqui. É lógico, o jogo é bem menos complexo em sua movimentação e em sua narrativa, mas ainda assim é uma experiência bem interessante, por que de fato é uma tradução de um gênero (plataforma 2D) para outro (plataforma 3d). É como se estivéssemos jogando um jogo 2D em uma cenário 3D.
Ainda assim, o jogo é um tanto escorregadio, e essa tradução de lógicas sem muito polimento não é tão agradável. Jogar isso me fez querer muito ver um grande jogo de plataforma 3D vindo do estúdio.
Enfim, é muito gostoso encontrar os personagens, esse mundinho e a trilha sonora maravilhosa do jogo. Para quem curtiu o primeiro, recomendo. (Algumas coisas da narrativa avançam!)
2023
É impossível refazer Resident Evil 4. A transformação de câmera, HUD, panorama; a longevidade cultural, o marco, tudo isso é cristalizado. Eterno. O que podemos é reimaginar o que seria Resident Evil 4 em 2023, e o que remake faz com essa transformação do significado de RE4 é o ponto alto do jogo.
É engraçado, por que em maior parte dos ambientes, a composição de cena é a mesma, mas muda os elementos que a formam. É como se estivesse em algo totalmente novo, mas que está circunscrito com o que o original simbolizou pra franquia. E olha, que direção de arte incrível, em? Devo ter mais de 100 prints. Acho que a direção, além das belas composições de cena, consegue transformar todo aquele ambiente num ambiente mais vivo e íntegro. Embora seja um jogo mais linear do que o 2 remake, o que faz com o que o jogo perca a sensação de um lugar único, você consegue ver o castelo desde o lago, por exemplo.
Fora o próprio Leon, gosto do que fizeram com todos os personagens. Ashley é o ponto alto, narrativamente ativa, muito diferente daquele que quase não era personagem no original. E a parte de gameplay dela é MUITO massa, nossa! Talvez o pico de tensão do jogo.
Falando em tensão, acho que ela aparece mais aqui do que no original. Temos o encontro com Garrador, a própria sessão da Ashley, aquele maldito jumpscare do Regenerator (outra que me gelou foi aquelas bolsas de regenerator, caramba!). É um jogo que é mais sombrio, flerta mais com essa nova leva de remakes do que com o original em seu tom. A diferença de tom, no entanto, não me incomoda nada. É natural que uma equipe tenha outra visão daquele história do que a mesma que criou em 2004. Como disse, aquele jogo está cristalizado. Esse, é uma quebra e reconstrução do signo de RE4.
Porém, o jogo em sua maior parte não é composto exatamente pelo horror, mas sessões de ação. E são ótimas. A sessão final, com uma música épica jogando, me senti o próprio Leon. O combate é ótimo, mas o stealth não me pegou. Pelo menos, eu não consegui utiliza-lo livremente, apenas em sessões que pareciam ser pré-estabelecidas o uso do stealth, tipo encontrar três NPCs de costas parados em certa parte do jogo. Me lembrou o stealth do Uncharted 4, absurdamente inútil. Uma adição muito bem vinda, entretanto, foi o parry. Adorei a implementação da mecânica.
Enfim, amei mesmo jogar isso. Me remeteu a infância, mas com um gosto completamente novo. Um dos grandes jogos do ano!
É engraçado, por que em maior parte dos ambientes, a composição de cena é a mesma, mas muda os elementos que a formam. É como se estivesse em algo totalmente novo, mas que está circunscrito com o que o original simbolizou pra franquia. E olha, que direção de arte incrível, em? Devo ter mais de 100 prints. Acho que a direção, além das belas composições de cena, consegue transformar todo aquele ambiente num ambiente mais vivo e íntegro. Embora seja um jogo mais linear do que o 2 remake, o que faz com o que o jogo perca a sensação de um lugar único, você consegue ver o castelo desde o lago, por exemplo.
Fora o próprio Leon, gosto do que fizeram com todos os personagens. Ashley é o ponto alto, narrativamente ativa, muito diferente daquele que quase não era personagem no original. E a parte de gameplay dela é MUITO massa, nossa! Talvez o pico de tensão do jogo.
Falando em tensão, acho que ela aparece mais aqui do que no original. Temos o encontro com Garrador, a própria sessão da Ashley, aquele maldito jumpscare do Regenerator (outra que me gelou foi aquelas bolsas de regenerator, caramba!). É um jogo que é mais sombrio, flerta mais com essa nova leva de remakes do que com o original em seu tom. A diferença de tom, no entanto, não me incomoda nada. É natural que uma equipe tenha outra visão daquele história do que a mesma que criou em 2004. Como disse, aquele jogo está cristalizado. Esse, é uma quebra e reconstrução do signo de RE4.
Porém, o jogo em sua maior parte não é composto exatamente pelo horror, mas sessões de ação. E são ótimas. A sessão final, com uma música épica jogando, me senti o próprio Leon. O combate é ótimo, mas o stealth não me pegou. Pelo menos, eu não consegui utiliza-lo livremente, apenas em sessões que pareciam ser pré-estabelecidas o uso do stealth, tipo encontrar três NPCs de costas parados em certa parte do jogo. Me lembrou o stealth do Uncharted 4, absurdamente inútil. Uma adição muito bem vinda, entretanto, foi o parry. Adorei a implementação da mecânica.
Enfim, amei mesmo jogar isso. Me remeteu a infância, mas com um gosto completamente novo. Um dos grandes jogos do ano!
2023
Impressionado com muita coisa aqui. O alcance do horror ambiental que o jogo traz é de uma execução técnica esplendorosa - talvez nunca antes vista do gênero, que é popular, mas nem sempre rentável na indústria, e por isso recebe orçamentos mais limitantes.
O jogo é angustiante mesmo no ócio, com um trabalho sonoro fantástico: os arranjos arranhados finíssimos ficará marcado em minha alma, assim como as batidas de coração aceleradas que acompanhavam as minhas. Quando parte para a ação, não pestaneja e traz muitas opções e modos de agir diferentes, assim como situações variadas incomuns para o gênero. Abraça o espaço e não larga dele, sempre te lembrando da solidão e loucura desse mundo tão opressivo e escuro.
Surpresa agradável foi a narrativa. Rica, instigante e com reviravoltas até demais até o fim. O mundo construído me deu vontade de jogar a sequência, fato que nem me passava muito pela cabeça.
O jogo é angustiante mesmo no ócio, com um trabalho sonoro fantástico: os arranjos arranhados finíssimos ficará marcado em minha alma, assim como as batidas de coração aceleradas que acompanhavam as minhas. Quando parte para a ação, não pestaneja e traz muitas opções e modos de agir diferentes, assim como situações variadas incomuns para o gênero. Abraça o espaço e não larga dele, sempre te lembrando da solidão e loucura desse mundo tão opressivo e escuro.
Surpresa agradável foi a narrativa. Rica, instigante e com reviravoltas até demais até o fim. O mundo construído me deu vontade de jogar a sequência, fato que nem me passava muito pela cabeça.
2023
É interessante a relação que o jogo tem com a carne. Mais especificamente, a carne (semi)humana sendo triturada das mais inventivas maneiras. E na maior parte do tempo, Dead Island 2 é sobre isso - explorar o grotesco. Unir o prazer com o nojento e brincar constantemente com isso. Por vezes, também, é só sobre isso.
A grande variedade de armas ajuda. A ambiente ser bem interativo é essencial. Então, esse é o passo-a-passo:
Pegue uma arma pesada; Mutile o zumbi inteiro, deixando apenas um braço para ele ter esperança de te pegar; Encharque ele de gasolina; Pegue uma arma com modificação de fogo; Tenha o maior prazer que esse jogo pode te oferecer. Repita 1000x, com pequenas variações.
Admito que esse ciclo da violência, esse looping de qual zumbi eu iria amassar, retirar toda a pele, transformar em absoluta poeira, me pegou por um tempo. Mas essa pouca profundidade no combate, mas principalmente a pouca profundidade na história e no mundo do Dead Island 2 me fizeram questionar a minha questão no mundo. É um jogo que todas motivações dos personagens são INEXISTENTES, tudo é inconsequente e absolutamente nada importa. Mas isso se vira contra mim: Nada importa, portanto, por quê matar esses zumbis? Nada importa, portanto, por quê estou jogando esse jogo?
Bom, o coop amenizou bastante essa aflição. O fetiche para a destruição súbita ganhou dessa vez.
A grande variedade de armas ajuda. A ambiente ser bem interativo é essencial. Então, esse é o passo-a-passo:
Pegue uma arma pesada; Mutile o zumbi inteiro, deixando apenas um braço para ele ter esperança de te pegar; Encharque ele de gasolina; Pegue uma arma com modificação de fogo; Tenha o maior prazer que esse jogo pode te oferecer. Repita 1000x, com pequenas variações.
Admito que esse ciclo da violência, esse looping de qual zumbi eu iria amassar, retirar toda a pele, transformar em absoluta poeira, me pegou por um tempo. Mas essa pouca profundidade no combate, mas principalmente a pouca profundidade na história e no mundo do Dead Island 2 me fizeram questionar a minha questão no mundo. É um jogo que todas motivações dos personagens são INEXISTENTES, tudo é inconsequente e absolutamente nada importa. Mas isso se vira contra mim: Nada importa, portanto, por quê matar esses zumbis? Nada importa, portanto, por quê estou jogando esse jogo?
Bom, o coop amenizou bastante essa aflição. O fetiche para a destruição súbita ganhou dessa vez.
2011
Não é um jogo muito ligado ao terror do primeiro, mas ainda assim tematiza uma história de forma que o horror, sobretudo corporal e ambiental, é circunscrito na ação - com direito com setpieces a la Uncharted. Mas nunca perde a experiência de terror psíquico do Isaac de vista, sempre centralizando a narrativa ao seu trauma.
Uma consequência interessante do jogo ter essa relação mais íntima com a ação são as hordas de inimigos, principalmente no terço final, que extraem tudo que o Isaac possibilita (telecinese, desacelerar o tempo, explorar os usos secundários de todas as armas), o que não acontecia muito no primeiro. Mas, ainda houve algumas sessões que os recursos estavam escassos e tive que pensar no manejo da munição naquele curso. Dessa forma, as dois lados da laranja coexistem aqui.
O level design é o que mais se sente prejudicado de um jogo para o outro. O jogo é uma experiência linear que te tira do seu lugar o tempo todo, nunca alcançando aquele sentimento de familiaridade que Ishimura promovia no primeiro jogo. A noção de completude, e até de solidão são atingidas. Mas ainda assim, aqui tem um das partes mais legais da trilogia até aqui, que é a Igreja da Unitologia e passar pela cidade de Titã em um caos, que o jogador vai descobrindo sua origem durante a jogatina.
Uma consequência interessante do jogo ter essa relação mais íntima com a ação são as hordas de inimigos, principalmente no terço final, que extraem tudo que o Isaac possibilita (telecinese, desacelerar o tempo, explorar os usos secundários de todas as armas), o que não acontecia muito no primeiro. Mas, ainda houve algumas sessões que os recursos estavam escassos e tive que pensar no manejo da munição naquele curso. Dessa forma, as dois lados da laranja coexistem aqui.
O level design é o que mais se sente prejudicado de um jogo para o outro. O jogo é uma experiência linear que te tira do seu lugar o tempo todo, nunca alcançando aquele sentimento de familiaridade que Ishimura promovia no primeiro jogo. A noção de completude, e até de solidão são atingidas. Mas ainda assim, aqui tem um das partes mais legais da trilogia até aqui, que é a Igreja da Unitologia e passar pela cidade de Titã em um caos, que o jogador vai descobrindo sua origem durante a jogatina.
2013
cara, que maravilha!
lá pros meus 11 anos era meu sonho jogar isso aqui, mas quem tinha wiiu aqui no brasil, né?
é a primeira vez que eu jogo nessa maratona mario que estou cumprindo esse ano, e me apaixonei! para ser sincero, nos primeiros três mundos estava achando um jogo razoável, mas é na reta final que esse jogo cresce pra mim. cada fase te surpreende com mecânicas únicas, que são extraídas até o máximo!
vim direto do Mario Odyssey, então senti um claro downgrade do moveset, mas mesmo assim é um jogo que te permite brincar bastante com a movimentação, principalmente da Rosalina, que te permite fazer uns skips bem daora com prática. Falando em Rosalina, o que é aquele último mundo extra inspirado em mario galaxy, em? que maravilha de level design, que maravilha de fanservice!
temos 5 personagens jogáveis, e cada um tem animação e mecânicas únicas, além de que os power-ups interagem de forma diferente com alguns deles. e o power-up gatinho? cara! eu amo cada animação desse power-up. eu amo a arranhada, o salto que vai descendo progressivamente pra baixo, a subida na parede! e esse jogo ainda tem o mario guaxinim, só faltou ter o mario pinguim para completar a tríade dos power-ups.
e um jogo importante para a franquia, afinal de contas.. aqui, instaura esse tema mais ''bobo'', mais teatral da narrativa do Mario. O último 3D antes desse fora o Mario Galaxy, um jogo bem mais contemplativo e lúcido da franquia. No 3D World eu sinto um tom específico que também está em Odyssey, como se tudo o que ocorre ali é uma grande fantasia em forma de brincadeira, tipo o Mario consolando o Bowser no final do Odyssey.. ah, e o último mundo é um prédio do Bowser numa chuva sinistra.. me lembra muito o Metro Kingdom do Odyssey antes de enfrentar o boss e liberar de fato o mundo.
lá pros meus 11 anos era meu sonho jogar isso aqui, mas quem tinha wiiu aqui no brasil, né?
é a primeira vez que eu jogo nessa maratona mario que estou cumprindo esse ano, e me apaixonei! para ser sincero, nos primeiros três mundos estava achando um jogo razoável, mas é na reta final que esse jogo cresce pra mim. cada fase te surpreende com mecânicas únicas, que são extraídas até o máximo!
vim direto do Mario Odyssey, então senti um claro downgrade do moveset, mas mesmo assim é um jogo que te permite brincar bastante com a movimentação, principalmente da Rosalina, que te permite fazer uns skips bem daora com prática. Falando em Rosalina, o que é aquele último mundo extra inspirado em mario galaxy, em? que maravilha de level design, que maravilha de fanservice!
temos 5 personagens jogáveis, e cada um tem animação e mecânicas únicas, além de que os power-ups interagem de forma diferente com alguns deles. e o power-up gatinho? cara! eu amo cada animação desse power-up. eu amo a arranhada, o salto que vai descendo progressivamente pra baixo, a subida na parede! e esse jogo ainda tem o mario guaxinim, só faltou ter o mario pinguim para completar a tríade dos power-ups.
e um jogo importante para a franquia, afinal de contas.. aqui, instaura esse tema mais ''bobo'', mais teatral da narrativa do Mario. O último 3D antes desse fora o Mario Galaxy, um jogo bem mais contemplativo e lúcido da franquia. No 3D World eu sinto um tom específico que também está em Odyssey, como se tudo o que ocorre ali é uma grande fantasia em forma de brincadeira, tipo o Mario consolando o Bowser no final do Odyssey.. ah, e o último mundo é um prédio do Bowser numa chuva sinistra.. me lembra muito o Metro Kingdom do Odyssey antes de enfrentar o boss e liberar de fato o mundo.
Mais divertido do que essas estrelas possam traduzir. O ponto alto, e muito alto do jogo é a capacidade de te transformar em um homem aranha. Experiência que só é possível dentro do videogame, e executada com plenitude. Os movimentos, a fluidez, o combate; passear pela cidade é mágico e foi aonde eu perdi boas horas do jogo.
Sem dúvidas boa parte disso vem do original de 2018, mas existe um movimento próprio do Miles, mais moleque, desengonçado, que adiciona uma camada muito bacana na movimentação. Mas tendo essas bases do anterior, executa os mesmos problemas. A cidade é dualista: o tão viva ela é no tato, morta parece nas aparências. É um problema que foi suavizado aqui com as sidequests, que de certo tem algumas bem bobas, mas outras que realmente te fazem conhecer os cidadãos, o que pensam sobre o espaço e por quê estão ali.
A história é um tanto embaraçosa. Chega a ser cativante, mas os argumentos dos personagens são bem fracos. Mas tem seus momentos.
Enfim, me deixou animado para Spider Man 2, espero que eles deixem essa estrutura da cidade um pouco de lado para algo novo. Até!
Sem dúvidas boa parte disso vem do original de 2018, mas existe um movimento próprio do Miles, mais moleque, desengonçado, que adiciona uma camada muito bacana na movimentação. Mas tendo essas bases do anterior, executa os mesmos problemas. A cidade é dualista: o tão viva ela é no tato, morta parece nas aparências. É um problema que foi suavizado aqui com as sidequests, que de certo tem algumas bem bobas, mas outras que realmente te fazem conhecer os cidadãos, o que pensam sobre o espaço e por quê estão ali.
A história é um tanto embaraçosa. Chega a ser cativante, mas os argumentos dos personagens são bem fracos. Mas tem seus momentos.
Enfim, me deixou animado para Spider Man 2, espero que eles deixem essa estrutura da cidade um pouco de lado para algo novo. Até!
2023
2017