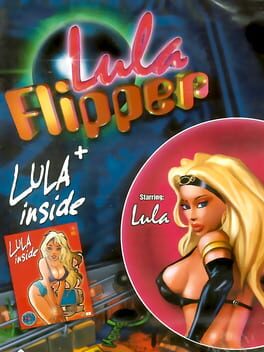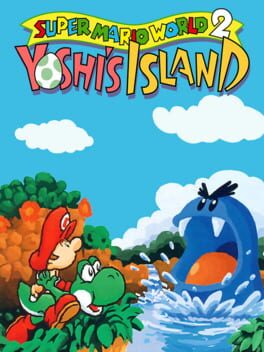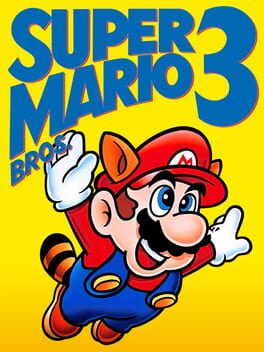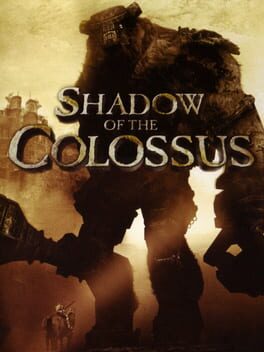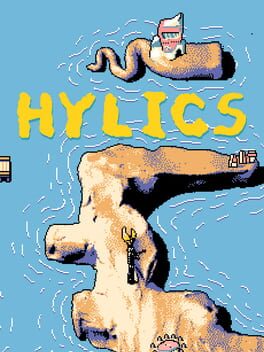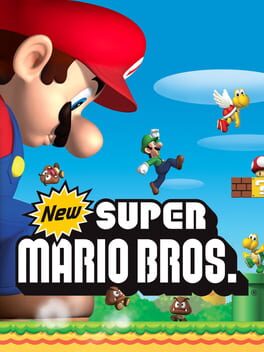lpslucasps
1999
This review contains spoilers
A família da jovem Edith Finch Jr. é amaldiçoada. A morte ronda sua linhagem, levando de forma trágica todos os Finch com exceção de um sobrevivente que consegue chegar à vida adulta e ter descendentes. Após a morte de sua mãe, Edith depara-se como a última sobrevivente de sua geração – e potencialmente a última Finch. Sozinha e procurando algum sentido em sua vida, Edith volta à casa ancestral de sua família pela primeira vez em sete anos. Lá ela pretende desvendar os mistérios que envolvem os Finches, aprender sobre suas mortes e, no processo, refletir sobre sua própria vida e futuro. É com essa premissa que What Remains of Edith Finch insere o jogador num mundo de realismo mágico em que a morte e os construtos sociais e subjetivos que fazemos dela são o tema central.
A mansão da família Finch talvez seja o aspecto mais absurdo da trama e aquele que a deixa no limite entre o realismo mágico e a pura fantasia. Sua arquitetura é bizarra no interior e exterior. Ao a avistarmos pela primeira vez, algo que fica bem evidente é a sua torre de anexo, que parece quase que acoplada de forma não muito segura à estrutura da casa, e dá ao conjunto arquitetônico uma silhueta um tanto surreal – silhueta que, diga-se de passagem, ilustra a capa do jogo.
O edifício tem função puramente simbólica, com sua utilidade como lugar de habitação ficando no segundo plano. A casa é a materialização da árvore genealógica da família Finch, com seu crescimento ascendente desordenado acompanhando a integração de novas gerações à família.
Se por fora a mansão é uma árvore genealógica, por dentro ela é um mausoléu. Cada quarto de um Finch é um pequeno túmulo, preservando artefatos, fotos, pinturas e outros apetrechos que resguardam sua memória e, especialmente, rememoram sua morte trágica. Novos membros da família não ocupam quartos antigos: eles ocupam novos cômodos, que são reapropriados ou construídos conforme a necessidade, até a sua inevitável (e normalmente trágica) morte tornar seu lugar de repouso diário em mais um lugar de repouso eterno.
Esse não é o único túmulo que os Finch ocupam. Além de seus quartos, cada Finch possui pelo menos mais duas sepulturas: uma mais tradicional no cemitério familiar, que se encontra dentro do terreno da mansão, em uma colina próxima; e outra mais abstrato na biblioteca da família.
O acesso de Edith a esses túmulos, não importa a forma que assumam, é limitado no início da narrativa. O cemitério é inacessível no começo do jogo; a biblioteca está trancada e sem uma forma aparente de como acessá-la; e os quartos foram todos selados por Dawn, mãe de Finch, antes de elas abandonarem a casa. De início, Finch pode apenas vislumbrar o interior dos quartos através de olhos mágicos que foram colocados nas portas: um acesso limitado e enviesado à vida de seus antepassados.
Para descobrir os segredos de sua família Edith precisa também descobrir os segredos de sua casa. Em mais um exemplo de seu projeto arquitetônico bizarro, a casa possui diversas passagens secretas que conectam os cômodos de forma inesperada. A chave que a protagonista recebeu de sua mãe como herança, em vez de abrir os portões principais da casa ou algum quarto, destrava uma das passagens secretas. É através dela que Edith inicia a exploração da casa e, por conseguinte, da história de sua família, a começar pelo quarto-túmulo de Molly Finch, sua falecida tia-avó.
Molly nasceu em 11 de dezembro de 1937 e morreu apenas dois dias após completar 10 anos de idade, em 13 de dezembro de 1947. Ela é a última Finch nascida na Noruega: todos os seus irmãos e o resto dos Finch nasceria em solo americano. Seu quarto-túmulo evidencia alguns elementos de sua personalidade enquanto viva. Em maior evidência fica o seu interesse pela natureza, com vários objetos decorativos representando animais e cenários naturais, além da presença de um aquário e uma pequena gaiola para roedores, onde outrora habitavam seu peixinho dourado e gerbilo de estimação.
O objeto de maior interesse para o jogador é o diário da antepassada. Nele temos os últimos escritos da criança na noite de sua morte. Ao manipularmos o objeto, o jogo muda a sua visão, com o jogador assumindo o papel de Molly naquela fatídica noite. Segue-se uma surreal narrativa de seus momentos finais.
Dois dias após seu aniversário, Molly acorda em sua cama sentindo muita fome. Por motivos não especificados ela foi enviada para seu quarto sem jantar naquela noite. Se o jogador tentar abrir a porta do quarto, a encontrará trancada e logo receberá uma bronca de sua mãe (Edith, bisavó da protagonista Edith), mandando-a voltar a dormir. Incapaz de ignorar sua fome, Molly procura em seu próprio quarto algo que a possa satisfazer. Após verificar que seus doces de Halloween acabaram, a garota come um pouco da comida de seu gerbilo. Ainda esfomeada, ela pondera se deve comer seu peixinho Christopher, mas se segura. No banheiro, ela ingere um tubo de pasta de dentes e algumas frutinhas vermelhas que serviam de decoração de natal nas janelas.
Incapaz de se satisfazer, Molly procura por mais alimento. É quando ela escuta chilro de uma pequena ave na janela de seu quarto. Ao tentar alcançá-lo, Molly repentinamente se transforma num gato. O choque da transformação não é o suficiente para diminuir sua fome. Após perseguir a pequena ave em sua forma felina e devorá-la, Molly passa por mais metamorfoses, cada uma delas refletindo sua crescente e insaciável fome: primeiro numa coruja, então num tubarão e finalmente num monstro marinho amorfo e cheio de tentáculos.
Após devorar um navio cheio de tripulantes, o monstro sente um cheiro irresistível. Seguindo-o através do mar até chegar num cano e, além dele, um banheiro, o monstro encontra-se nada menos do que de volta no quarto de Molly. Ele então se esconde debaixo da cama da criança, onde espera silenciosamente.
Molly então volta ao seu corpo, deitada em sua cama. A última coisa que ela escreve em seu diário é que sabe que o monstro está apenas esperando que ela vá dormir para devorá-la, e que ela sabe que será deliciosa. Na manhã seguinte, ela amanhece morta.
A interpretação da história de Molly não é muito difícil. Esfomeada, ela começou a digerir diversas coisas de seu quarto não apropriadas para humanos e potencialmente tóxicas, o que a levou a ter fortes alucinações antes de morrer. Em seus devaneios a garota transpassou os típicos e artificiais limites que colocamos entre seres humanos e o mundo natural; sua fome insaciável e insaciada a aproximou cada vez mais de um estado animalesco, consumindo sua mente até o momento de sua morte. Essa é, pelo menos, a explicação mais plausível. Interessantemente, ela não é elencada pela própria Edith Finch que, após ler o diário de sua antepassada, apenas comenta que não sabe se acredita naquilo tudo – mas afirma que sua bisavó Edith, a matriarca familiar a quem seu nome homenageia, com certeza acreditaria.
Para cada um dos antepassados de Edith Jr. temos uma experiência similar. Após explorar um pouco a casa através de passagens secretas chegamos a um novo quarto-túmulo, decorado de forma a relembrar quem habitava ali. No meio das decorações há algum objeto com o qual o jogador pode interagir e iniciar uma vinheta que reconta de forma dramática, poética e interativa os momentos finais daquele Finch. Mesmo após adentrar as alcovas a visão que Edith tem de seus antepassados continua tão limitada e enviesada quanto quando só podia observá-las através do olho mágico.
Nem todas as vinhetas são longas e variadas como a de Molly. Aquela que vemos imediatamente depois é uma das mais curtas, recontando a história de Odin Finch, trisavô da protagonista Edith Jr., pai da matriarca Edith e o responsável por trazer a família Finch da Noruega para os Estados Unidos.
Assim como a protagonista do jogo, Odin foi o último sobrevivente de sua geração. Tentando literalmente fugir da maldição que assolava sua família, ele emigrou para os Estados Unidos junto de sua filha, genro, neta – e casa, que de forma vagamente explicada no jogo foi transformada numa grande embarcação e levada para o outro lado do Oceano Atlântico. Mas a fuga foi em vão: nas margens de sua nova terra, Odin deparou-se com uma tempestade que afundou sua casa e o matou no processo. O restante de sua família sobreviveu e, na ilha em que atracaram, fundaram a nova casa dos Finch, literalmente sobre as sombras mórbidas da antiga casa, cujas ruínas podiam ser vistas semissubmersas a poucos metros de distância da costa.
Calvin, outro tio-avô de Edith Jr., parece ter herdado a teimosia inconsequente de Odin. Ele morreu aos 11 anos enquanto tentava realizar o sonho louco de muitas crianças e fazer o balanço de árvore em que brincava dar uma volta completa de 360º sobre o galho que estava preso. Apesar de bem-sucedido, como consequência ele foi lançado para fora do balanço em direção ao barranco na beira do mar e falecendo.
Quem reconta a história de Calvin, focando-se principalmente em sua teimosia e obstinação, é seu irmão gêmeo Sam. No quarto-túmulo de Calvin é que encontramos uma nota escrita pelo irmão sobrevivente, intitulada “Como Eu Quero Lembrar de Meu Irmão”.
Ou, sendo mais específico, na metade do quarto que se transformou no túmulo de Calvin. Sendo gêmeos, Calvin e Sam compartilhavam o mesmo cômodo. Mesmo após a morte de seu irmão Sam continuou a habitar o mesmo quarto até atingir a vida adulta. Como Edith Jr. bem elabora, “Meu avô Sam passou 7 anos compartilhando um quarto com seu irmão morto, Calvin.”
Antes de falarmos de Sam (que de diversas formas foi o “sobrevivente” de sua geração), faz-se necessário discorrer sobre seus outros dois irmãos, Barbara e Walter, cujas histórias estão intimamente ligadas.
Barbara foi uma estrela infantil cuja fama já havia acabado quando atingiu a adolescência. Sua juventude foi completamente ordinária, dedicando-se à high school, indo a festivais de música com amigas e realizando trabalhos de meio período para conseguir algum tipo de renda. Em meio a tudo isso ela ainda alimentava o desejo de retornar ao estrelato.
Em seu quarto-túmulo encontramos uma história em quadrinhos que reconta a noite de sua morte. Convidada para participar de um evento com fãs de seus filmes infantis, ela se vê frustrada quando seu pai sofre um acidente doméstico, obrigando-a a faltar ao evento e ficar em casa cuidando do irmão mais novo, Walter, enquanto sua mãe levava o pai ao hospital. Inicialmente acompanhada de seu namorado, depois de uma briga ficam apenas ela e seu irmão na casa. De madrugada, um homem mascarado invade a casa. Barbara luta contra ele e o joga da escada do segundo andar, mas ao descer não o encontra. É então que ela percebe que a casa foi invadida por vários monstros – vampiros, zumbis, lobisomens. Os monstros são na verdade seus fãs, que a devoram em seu “último papel”. Ao retornarem para casa, os pais de Barbara encontram apenas sua orelha esquartejada.
O quadrinho ficcionaliza e exagera grandemente a morte de Barbara, como de praxe nas vinhetas do jogo. De forma mais plausível, Barbara foi assassinada por um invasor humano, talvez o seu próprio namorado que retornou à casa depois da briga.
Não obstante os detalhes da morte de Barbara, Walter, seu irmão mais novo, testemunhou o evento. Durante o momento da invasão ele se escondeu debaixo da cama e viu pelo menos parte da luta de Barbara contra o invasor. Esse evento o traumatizou profundamente. Temendo ser atacado pelo mesmo “monstro” que matou sua irmã, Walter criou para si um bunker no subsolo da casa onde passou 30 anos de sua vida.
Se objetivamente Walter foi o membro de sua geração que viveu por mais tempo, vindo a falecer aos 52 anos em 31 de março de 2005, em termos pode-se dizer que sua vida, se não terminou, congelou no momento em que entrou no bunker. Durante os 30 anos em que ficou isolado no subsolo ele seguia uma mesma rotina repetitiva, em suas próprias palavras, literalmente vivendo o mesmo dia. Até que uma pequena mudança em seu itinerário causada por fatores exteriores – o trem que passava sempre no mesmo horário e lhe servia como um alarme para a hora de comer ficou defeituoso – o fez não aguentar mais o tédio. Após escrever uma carta de despedida, ele pegou uma marreta e destruiu uma das paredes do bunker, ganhando acesso a um túnel ferroviário. Antes que pudesse sair do túnel, ele foi atropelado pelo mesmo trem que durante todos aqueles anos serviu como âncora para sua rotina, consertado depois de uma semana inativo.
Sam, assim, pode não ter sido o membro de sua geração que viveu por mais tempo, mas é definitivamente o “sobrevivente” de sua geração e aquele que mais “viveu”. Sobrevivência, inclusive, é a grande obsessão do avô de Edith. Em vez de tentar fugir da morte, ele decidiu confrontá-la diretamente. Tão logo atingiu a vida adulta, entrou para o exército americano. Depois de sair da instituição, tomou como hobby a caça. Fui numa viagem de caça com sua filha Dawn (a mãe de Edith Jr.) que ele morreu, sendo jogado de um penhasco por um cervo que ele não verificou direito se estava morto.
Sam teve dois filhos além de Dawn, Gregory e Gus. Nenhum deles chegou à vida adulta. Gregory morreu quando ainda era um bebê, afogado numa banheira em que foi de forma negligente deixado enquanto sua mãe estava ao telefone brigando justamente com Sam – os dois estavam separados e em processo de divórcio. Já Gus morreu durante a festa de casamento de seu pai com sua nova esposa. Inconformado com o novo matrimônio do pai, ele ficou do lado de fora da festa soltando uma pipa e recusando-se a entrar ou abrigar-se mesmo com uma tempestade se formando. Durante o vendaval ele foi atingido por uma tenda.
Chegamos então à última geração dos Finches. Dawn, a última sobrevivente dos filhos de Sam e a única a chegar à vida adulta, casou-se com Sanjay Kumar enquanto fazia trabalhos voluntários na Índia. Com ele teve três filhos: Milton, Lewis e Edith Jr., a protagonista do jogo.
A geração de Edith Jr. era fortemente acometida com o que podemos chamar de uma crise de hiper-realidade: a incapacidade de distinguir a realidade da fantasia e, no limite, de perceber o mundo subjetivo como mais real do que o mundo objetivo. Se em toda a família Finch já era possível ver indícios dessa característica, é aqui que ela se demonstra de forma mais exacerbada. Milton e Lewis foram afetados de forma diferente por esse hiper-realismo: o primeiro, tornando sua morte completamente incerta; e no segundo, particularmente trágica.
Não há confirmação da morte de Milton. Aos 11 anos de idade, um ano após a morte de seu pai, o segundo filho de Dawn simplesmente desapareceu. Visitando o seu quarto e revendo suas memórias o destino do rapaz fica ainda mais ambíguo. Segundo a narrativa, certo dia o jovem simplesmente desenhou uma porta para outro mundo e a atravessou. Dawn nunca perdeu as esperanças de que um dia reencontraria o filho, publicando cartazes de “procura-se” até a sua morte e recusando-se a erguer um túmulo para ele no cemitério familiar. Apesar de seus esforços, ela nunca mais encontraria o seu filho.
Já no caso de Lewis, a finalidade de sua morte não poderia ter vindo de forma mais avassaladora para a sua família. O primogênito de Dawn enfrentou problemas com abuso de substâncias narcóticas durante a juventude e foi convencido por sua família a se tratar. A sobriedade trouxe à sua vida também monotonia. Trabalhando de forma mecânica e repetitiva numa fábrica de conservas, ele começou a se isolar do mundo. Para suportar o tédio, enquanto trabalhava criava em sua mente um mundo fantasioso em que ele era um rei aventureiro.
Para simular tanto o tédio quanto o escapismo de Lewis o jogo faz um excelente uso de suas mecânicas lúdicas. Com o mouse, fazendo movimentos repetitivos, o jogador deve pegar os peixes que chegam na linha de produção e decapitar suas cabeças numa navalha. Ao mesmo tempo, usando as teclas WASD do teclado, ele deve controlar um avatar no canto esquerdo da tela, que representa Lewis em seu mundo de fantasia. À medida que o tempo passa, esse mundo de fantasia que ocupa apenas um cantinho da tela começa a ocupar um espaço cada vez maior, ao passo que o jogador já não consegue mais ver os peixes vindo pela esteira – mas ele deve continuar fazendo os mesmos movimentos monótonos e repetitivos com o mouse, caso contrário a fantasia se desfará e ele voltará para o mundo real.
À medida que a fantasia de Lewis se expande ela também se torna cada vez mais imersiva e complexa. O avatar que a princípio era visto de cima para baixo vai ficando mais perto da tela, com a visão do jogo passando para a terceira pessoa sobre o ombro e depois primeira pessoa. Os sons da fantasia vão ficando cada vez mais altos, chegando ao ponto em que já não é mais possível escutar a cacofonia da fábrica de conservas. No ápice de sua fantasia, Lewis tem uma experiência extracorpórea. Como seu próprio avatar fantasioso, ele se vê na linha de produção da fábrica, mecanicamente empurrando os peixes que vêm da esteira para a guilhotina. Absorto completamente em sua fantasia, ele decidiu acabar com a vida de Lewis O Trabalhador da Fábrica de Conservas e viver apenas como Lewis Rei das Terras das Maravilhas. “Minha imaginação é tão real quanto meu corpo”6. Assim decidido, ele tragicamente se suicidou na fábrica em que trabalhava, decapitando-se na guilhotina do trabalho.
A morte de Lewis levou Dawn a tentar romper completamente seus laços com a família e, mais especificamente, com a casa. Ela estava convencida de que a maldição familiar é que havia lhe roubado os dois filhos e, mas especificamente, que o culto às histórias das mortes dos Finches ao qual Edith Sr. era tão dedicada havia sido uma influência determinante para que Lewis se perdesse em seu mundo fantasioso e eventualmente se matasse.
Edith Sr ocupava para toda a família o papel de grande matriarca. Além de ser a “sobrevivente” de sua geração e a Finch viva mais velha (morrendo aos 93 anos), foi ela, com seu marido Sven, quem construiu a casa dos Finches nos EUA após o óbito de Odin. Mas a casa que ela construiu foi dedicada aos mortos, não aos vivos. O primeiro local da nova morada da família a ser planejado e finalizado foi o cemitério, e foi dela a ideia de transformar os quartos de todos os Finches em quartos-túmulo. Além disso, ela se dedicava à decoração dos quartos, ao planejamento dos túmulos, à preservação das histórias trágicas dos Finches na biblioteca da família. Sua obsessão com e memória não apenas dos mortos, mas a memória da morte se estendia até para os animais da família, que tinham um lugar reservado no cemitério familiar. Edie Sr. não praticava um culto aos mortos, mas um culto à morte.
Já a relação de Dawn com a história de sua família e, especialmente, com a morte, era muito mais ambígua. Se por um lado ela via esse culto à morte praticado por sua avó como perigoso e estando na raiz da maldição familiar que levou muitos Finches, por outro ela tinha sua própria forma de comemorar seus antepassados. É interessante, por exemplo, como foi dela a ideia de dar ao gato da família o nome de Molly, e nomeou sua filha Edith em homenagem à matriarca. E a morte, do mesmo jeito que a afastou de Edith Sr. e a levou a sair da casa da família com sua única filha sobrevivente, foi o que inicialmente a aproximou da matriarca e a fez retornar à casa, quando do óbito de seu marido Sanjay.
Central na vida de Edith Sr. estava o culto aos mortos, e o culto à própria morte. Já na vida de Dawn estava o luto: pela morte de seus irmãos, então de seus pais, de seu marido e finalmente de seus filhos.
Edith Sr. morreu na noite em que Dawn e Edith Jr. saíra da casa ancestral da família. Num misto de desgosto, teimosia e insatisfação, ela misturou alguns de seus remédios com álcool e veio a óbito na manhã seguinte. Enquanto isso, Dawn morreu alguns anos depois, acometida por uma doença não identificada, acompanhada por sua filha. Em seu testamento deixou à Edith Jr. a chave que lhe daria acesso às passagens secretas da casa e seria o gatilho para seu retorno à mansão depois de sete anos.
Quando Edith Jr. visita a casa ancestral de sua família ela está grávida. Ela é a última Finch de sua geração, mas não a última Finch. Sua jornada de descoberta não tem o intuito apenas de processar o legado e o trauma familiar que ela carrega – um trauma tão grande que é visto como uma maldição de morte. Seu desejo é processar e entender a história de sua família para que possa comunicá-la ao seu futuro filho. E que, em posse dessa história, em vez de ele cultuar, fugir, confrontar, ignorar ou negar a morte, ele possa apreciar sua vida. “Eu quero que você se sinta maravilhado que qualquer um de nós já teve a chance de estar aqui.”
Ao final, Edith Jr. não é capaz de comunicar isso diretamente ao seu filho, Christopher. Ela vem a falecer durante o parto. Todas as suas considerações e o que ela descobriu da História e histórias de sua família estão em seu diário, que ela escreveu para seu filho. Christopher é o que restou de Edith Finch.
A mansão da família Finch talvez seja o aspecto mais absurdo da trama e aquele que a deixa no limite entre o realismo mágico e a pura fantasia. Sua arquitetura é bizarra no interior e exterior. Ao a avistarmos pela primeira vez, algo que fica bem evidente é a sua torre de anexo, que parece quase que acoplada de forma não muito segura à estrutura da casa, e dá ao conjunto arquitetônico uma silhueta um tanto surreal – silhueta que, diga-se de passagem, ilustra a capa do jogo.
O edifício tem função puramente simbólica, com sua utilidade como lugar de habitação ficando no segundo plano. A casa é a materialização da árvore genealógica da família Finch, com seu crescimento ascendente desordenado acompanhando a integração de novas gerações à família.
Se por fora a mansão é uma árvore genealógica, por dentro ela é um mausoléu. Cada quarto de um Finch é um pequeno túmulo, preservando artefatos, fotos, pinturas e outros apetrechos que resguardam sua memória e, especialmente, rememoram sua morte trágica. Novos membros da família não ocupam quartos antigos: eles ocupam novos cômodos, que são reapropriados ou construídos conforme a necessidade, até a sua inevitável (e normalmente trágica) morte tornar seu lugar de repouso diário em mais um lugar de repouso eterno.
Esse não é o único túmulo que os Finch ocupam. Além de seus quartos, cada Finch possui pelo menos mais duas sepulturas: uma mais tradicional no cemitério familiar, que se encontra dentro do terreno da mansão, em uma colina próxima; e outra mais abstrato na biblioteca da família.
O acesso de Edith a esses túmulos, não importa a forma que assumam, é limitado no início da narrativa. O cemitério é inacessível no começo do jogo; a biblioteca está trancada e sem uma forma aparente de como acessá-la; e os quartos foram todos selados por Dawn, mãe de Finch, antes de elas abandonarem a casa. De início, Finch pode apenas vislumbrar o interior dos quartos através de olhos mágicos que foram colocados nas portas: um acesso limitado e enviesado à vida de seus antepassados.
Para descobrir os segredos de sua família Edith precisa também descobrir os segredos de sua casa. Em mais um exemplo de seu projeto arquitetônico bizarro, a casa possui diversas passagens secretas que conectam os cômodos de forma inesperada. A chave que a protagonista recebeu de sua mãe como herança, em vez de abrir os portões principais da casa ou algum quarto, destrava uma das passagens secretas. É através dela que Edith inicia a exploração da casa e, por conseguinte, da história de sua família, a começar pelo quarto-túmulo de Molly Finch, sua falecida tia-avó.
Molly nasceu em 11 de dezembro de 1937 e morreu apenas dois dias após completar 10 anos de idade, em 13 de dezembro de 1947. Ela é a última Finch nascida na Noruega: todos os seus irmãos e o resto dos Finch nasceria em solo americano. Seu quarto-túmulo evidencia alguns elementos de sua personalidade enquanto viva. Em maior evidência fica o seu interesse pela natureza, com vários objetos decorativos representando animais e cenários naturais, além da presença de um aquário e uma pequena gaiola para roedores, onde outrora habitavam seu peixinho dourado e gerbilo de estimação.
O objeto de maior interesse para o jogador é o diário da antepassada. Nele temos os últimos escritos da criança na noite de sua morte. Ao manipularmos o objeto, o jogo muda a sua visão, com o jogador assumindo o papel de Molly naquela fatídica noite. Segue-se uma surreal narrativa de seus momentos finais.
Dois dias após seu aniversário, Molly acorda em sua cama sentindo muita fome. Por motivos não especificados ela foi enviada para seu quarto sem jantar naquela noite. Se o jogador tentar abrir a porta do quarto, a encontrará trancada e logo receberá uma bronca de sua mãe (Edith, bisavó da protagonista Edith), mandando-a voltar a dormir. Incapaz de ignorar sua fome, Molly procura em seu próprio quarto algo que a possa satisfazer. Após verificar que seus doces de Halloween acabaram, a garota come um pouco da comida de seu gerbilo. Ainda esfomeada, ela pondera se deve comer seu peixinho Christopher, mas se segura. No banheiro, ela ingere um tubo de pasta de dentes e algumas frutinhas vermelhas que serviam de decoração de natal nas janelas.
Incapaz de se satisfazer, Molly procura por mais alimento. É quando ela escuta chilro de uma pequena ave na janela de seu quarto. Ao tentar alcançá-lo, Molly repentinamente se transforma num gato. O choque da transformação não é o suficiente para diminuir sua fome. Após perseguir a pequena ave em sua forma felina e devorá-la, Molly passa por mais metamorfoses, cada uma delas refletindo sua crescente e insaciável fome: primeiro numa coruja, então num tubarão e finalmente num monstro marinho amorfo e cheio de tentáculos.
Após devorar um navio cheio de tripulantes, o monstro sente um cheiro irresistível. Seguindo-o através do mar até chegar num cano e, além dele, um banheiro, o monstro encontra-se nada menos do que de volta no quarto de Molly. Ele então se esconde debaixo da cama da criança, onde espera silenciosamente.
Molly então volta ao seu corpo, deitada em sua cama. A última coisa que ela escreve em seu diário é que sabe que o monstro está apenas esperando que ela vá dormir para devorá-la, e que ela sabe que será deliciosa. Na manhã seguinte, ela amanhece morta.
A interpretação da história de Molly não é muito difícil. Esfomeada, ela começou a digerir diversas coisas de seu quarto não apropriadas para humanos e potencialmente tóxicas, o que a levou a ter fortes alucinações antes de morrer. Em seus devaneios a garota transpassou os típicos e artificiais limites que colocamos entre seres humanos e o mundo natural; sua fome insaciável e insaciada a aproximou cada vez mais de um estado animalesco, consumindo sua mente até o momento de sua morte. Essa é, pelo menos, a explicação mais plausível. Interessantemente, ela não é elencada pela própria Edith Finch que, após ler o diário de sua antepassada, apenas comenta que não sabe se acredita naquilo tudo – mas afirma que sua bisavó Edith, a matriarca familiar a quem seu nome homenageia, com certeza acreditaria.
Para cada um dos antepassados de Edith Jr. temos uma experiência similar. Após explorar um pouco a casa através de passagens secretas chegamos a um novo quarto-túmulo, decorado de forma a relembrar quem habitava ali. No meio das decorações há algum objeto com o qual o jogador pode interagir e iniciar uma vinheta que reconta de forma dramática, poética e interativa os momentos finais daquele Finch. Mesmo após adentrar as alcovas a visão que Edith tem de seus antepassados continua tão limitada e enviesada quanto quando só podia observá-las através do olho mágico.
Nem todas as vinhetas são longas e variadas como a de Molly. Aquela que vemos imediatamente depois é uma das mais curtas, recontando a história de Odin Finch, trisavô da protagonista Edith Jr., pai da matriarca Edith e o responsável por trazer a família Finch da Noruega para os Estados Unidos.
Assim como a protagonista do jogo, Odin foi o último sobrevivente de sua geração. Tentando literalmente fugir da maldição que assolava sua família, ele emigrou para os Estados Unidos junto de sua filha, genro, neta – e casa, que de forma vagamente explicada no jogo foi transformada numa grande embarcação e levada para o outro lado do Oceano Atlântico. Mas a fuga foi em vão: nas margens de sua nova terra, Odin deparou-se com uma tempestade que afundou sua casa e o matou no processo. O restante de sua família sobreviveu e, na ilha em que atracaram, fundaram a nova casa dos Finch, literalmente sobre as sombras mórbidas da antiga casa, cujas ruínas podiam ser vistas semissubmersas a poucos metros de distância da costa.
Calvin, outro tio-avô de Edith Jr., parece ter herdado a teimosia inconsequente de Odin. Ele morreu aos 11 anos enquanto tentava realizar o sonho louco de muitas crianças e fazer o balanço de árvore em que brincava dar uma volta completa de 360º sobre o galho que estava preso. Apesar de bem-sucedido, como consequência ele foi lançado para fora do balanço em direção ao barranco na beira do mar e falecendo.
Quem reconta a história de Calvin, focando-se principalmente em sua teimosia e obstinação, é seu irmão gêmeo Sam. No quarto-túmulo de Calvin é que encontramos uma nota escrita pelo irmão sobrevivente, intitulada “Como Eu Quero Lembrar de Meu Irmão”.
Ou, sendo mais específico, na metade do quarto que se transformou no túmulo de Calvin. Sendo gêmeos, Calvin e Sam compartilhavam o mesmo cômodo. Mesmo após a morte de seu irmão Sam continuou a habitar o mesmo quarto até atingir a vida adulta. Como Edith Jr. bem elabora, “Meu avô Sam passou 7 anos compartilhando um quarto com seu irmão morto, Calvin.”
Antes de falarmos de Sam (que de diversas formas foi o “sobrevivente” de sua geração), faz-se necessário discorrer sobre seus outros dois irmãos, Barbara e Walter, cujas histórias estão intimamente ligadas.
Barbara foi uma estrela infantil cuja fama já havia acabado quando atingiu a adolescência. Sua juventude foi completamente ordinária, dedicando-se à high school, indo a festivais de música com amigas e realizando trabalhos de meio período para conseguir algum tipo de renda. Em meio a tudo isso ela ainda alimentava o desejo de retornar ao estrelato.
Em seu quarto-túmulo encontramos uma história em quadrinhos que reconta a noite de sua morte. Convidada para participar de um evento com fãs de seus filmes infantis, ela se vê frustrada quando seu pai sofre um acidente doméstico, obrigando-a a faltar ao evento e ficar em casa cuidando do irmão mais novo, Walter, enquanto sua mãe levava o pai ao hospital. Inicialmente acompanhada de seu namorado, depois de uma briga ficam apenas ela e seu irmão na casa. De madrugada, um homem mascarado invade a casa. Barbara luta contra ele e o joga da escada do segundo andar, mas ao descer não o encontra. É então que ela percebe que a casa foi invadida por vários monstros – vampiros, zumbis, lobisomens. Os monstros são na verdade seus fãs, que a devoram em seu “último papel”. Ao retornarem para casa, os pais de Barbara encontram apenas sua orelha esquartejada.
O quadrinho ficcionaliza e exagera grandemente a morte de Barbara, como de praxe nas vinhetas do jogo. De forma mais plausível, Barbara foi assassinada por um invasor humano, talvez o seu próprio namorado que retornou à casa depois da briga.
Não obstante os detalhes da morte de Barbara, Walter, seu irmão mais novo, testemunhou o evento. Durante o momento da invasão ele se escondeu debaixo da cama e viu pelo menos parte da luta de Barbara contra o invasor. Esse evento o traumatizou profundamente. Temendo ser atacado pelo mesmo “monstro” que matou sua irmã, Walter criou para si um bunker no subsolo da casa onde passou 30 anos de sua vida.
Se objetivamente Walter foi o membro de sua geração que viveu por mais tempo, vindo a falecer aos 52 anos em 31 de março de 2005, em termos pode-se dizer que sua vida, se não terminou, congelou no momento em que entrou no bunker. Durante os 30 anos em que ficou isolado no subsolo ele seguia uma mesma rotina repetitiva, em suas próprias palavras, literalmente vivendo o mesmo dia. Até que uma pequena mudança em seu itinerário causada por fatores exteriores – o trem que passava sempre no mesmo horário e lhe servia como um alarme para a hora de comer ficou defeituoso – o fez não aguentar mais o tédio. Após escrever uma carta de despedida, ele pegou uma marreta e destruiu uma das paredes do bunker, ganhando acesso a um túnel ferroviário. Antes que pudesse sair do túnel, ele foi atropelado pelo mesmo trem que durante todos aqueles anos serviu como âncora para sua rotina, consertado depois de uma semana inativo.
Sam, assim, pode não ter sido o membro de sua geração que viveu por mais tempo, mas é definitivamente o “sobrevivente” de sua geração e aquele que mais “viveu”. Sobrevivência, inclusive, é a grande obsessão do avô de Edith. Em vez de tentar fugir da morte, ele decidiu confrontá-la diretamente. Tão logo atingiu a vida adulta, entrou para o exército americano. Depois de sair da instituição, tomou como hobby a caça. Fui numa viagem de caça com sua filha Dawn (a mãe de Edith Jr.) que ele morreu, sendo jogado de um penhasco por um cervo que ele não verificou direito se estava morto.
Sam teve dois filhos além de Dawn, Gregory e Gus. Nenhum deles chegou à vida adulta. Gregory morreu quando ainda era um bebê, afogado numa banheira em que foi de forma negligente deixado enquanto sua mãe estava ao telefone brigando justamente com Sam – os dois estavam separados e em processo de divórcio. Já Gus morreu durante a festa de casamento de seu pai com sua nova esposa. Inconformado com o novo matrimônio do pai, ele ficou do lado de fora da festa soltando uma pipa e recusando-se a entrar ou abrigar-se mesmo com uma tempestade se formando. Durante o vendaval ele foi atingido por uma tenda.
Chegamos então à última geração dos Finches. Dawn, a última sobrevivente dos filhos de Sam e a única a chegar à vida adulta, casou-se com Sanjay Kumar enquanto fazia trabalhos voluntários na Índia. Com ele teve três filhos: Milton, Lewis e Edith Jr., a protagonista do jogo.
A geração de Edith Jr. era fortemente acometida com o que podemos chamar de uma crise de hiper-realidade: a incapacidade de distinguir a realidade da fantasia e, no limite, de perceber o mundo subjetivo como mais real do que o mundo objetivo. Se em toda a família Finch já era possível ver indícios dessa característica, é aqui que ela se demonstra de forma mais exacerbada. Milton e Lewis foram afetados de forma diferente por esse hiper-realismo: o primeiro, tornando sua morte completamente incerta; e no segundo, particularmente trágica.
Não há confirmação da morte de Milton. Aos 11 anos de idade, um ano após a morte de seu pai, o segundo filho de Dawn simplesmente desapareceu. Visitando o seu quarto e revendo suas memórias o destino do rapaz fica ainda mais ambíguo. Segundo a narrativa, certo dia o jovem simplesmente desenhou uma porta para outro mundo e a atravessou. Dawn nunca perdeu as esperanças de que um dia reencontraria o filho, publicando cartazes de “procura-se” até a sua morte e recusando-se a erguer um túmulo para ele no cemitério familiar. Apesar de seus esforços, ela nunca mais encontraria o seu filho.
Já no caso de Lewis, a finalidade de sua morte não poderia ter vindo de forma mais avassaladora para a sua família. O primogênito de Dawn enfrentou problemas com abuso de substâncias narcóticas durante a juventude e foi convencido por sua família a se tratar. A sobriedade trouxe à sua vida também monotonia. Trabalhando de forma mecânica e repetitiva numa fábrica de conservas, ele começou a se isolar do mundo. Para suportar o tédio, enquanto trabalhava criava em sua mente um mundo fantasioso em que ele era um rei aventureiro.
Para simular tanto o tédio quanto o escapismo de Lewis o jogo faz um excelente uso de suas mecânicas lúdicas. Com o mouse, fazendo movimentos repetitivos, o jogador deve pegar os peixes que chegam na linha de produção e decapitar suas cabeças numa navalha. Ao mesmo tempo, usando as teclas WASD do teclado, ele deve controlar um avatar no canto esquerdo da tela, que representa Lewis em seu mundo de fantasia. À medida que o tempo passa, esse mundo de fantasia que ocupa apenas um cantinho da tela começa a ocupar um espaço cada vez maior, ao passo que o jogador já não consegue mais ver os peixes vindo pela esteira – mas ele deve continuar fazendo os mesmos movimentos monótonos e repetitivos com o mouse, caso contrário a fantasia se desfará e ele voltará para o mundo real.
À medida que a fantasia de Lewis se expande ela também se torna cada vez mais imersiva e complexa. O avatar que a princípio era visto de cima para baixo vai ficando mais perto da tela, com a visão do jogo passando para a terceira pessoa sobre o ombro e depois primeira pessoa. Os sons da fantasia vão ficando cada vez mais altos, chegando ao ponto em que já não é mais possível escutar a cacofonia da fábrica de conservas. No ápice de sua fantasia, Lewis tem uma experiência extracorpórea. Como seu próprio avatar fantasioso, ele se vê na linha de produção da fábrica, mecanicamente empurrando os peixes que vêm da esteira para a guilhotina. Absorto completamente em sua fantasia, ele decidiu acabar com a vida de Lewis O Trabalhador da Fábrica de Conservas e viver apenas como Lewis Rei das Terras das Maravilhas. “Minha imaginação é tão real quanto meu corpo”6. Assim decidido, ele tragicamente se suicidou na fábrica em que trabalhava, decapitando-se na guilhotina do trabalho.
A morte de Lewis levou Dawn a tentar romper completamente seus laços com a família e, mais especificamente, com a casa. Ela estava convencida de que a maldição familiar é que havia lhe roubado os dois filhos e, mas especificamente, que o culto às histórias das mortes dos Finches ao qual Edith Sr. era tão dedicada havia sido uma influência determinante para que Lewis se perdesse em seu mundo fantasioso e eventualmente se matasse.
Edith Sr ocupava para toda a família o papel de grande matriarca. Além de ser a “sobrevivente” de sua geração e a Finch viva mais velha (morrendo aos 93 anos), foi ela, com seu marido Sven, quem construiu a casa dos Finches nos EUA após o óbito de Odin. Mas a casa que ela construiu foi dedicada aos mortos, não aos vivos. O primeiro local da nova morada da família a ser planejado e finalizado foi o cemitério, e foi dela a ideia de transformar os quartos de todos os Finches em quartos-túmulo. Além disso, ela se dedicava à decoração dos quartos, ao planejamento dos túmulos, à preservação das histórias trágicas dos Finches na biblioteca da família. Sua obsessão com e memória não apenas dos mortos, mas a memória da morte se estendia até para os animais da família, que tinham um lugar reservado no cemitério familiar. Edie Sr. não praticava um culto aos mortos, mas um culto à morte.
Já a relação de Dawn com a história de sua família e, especialmente, com a morte, era muito mais ambígua. Se por um lado ela via esse culto à morte praticado por sua avó como perigoso e estando na raiz da maldição familiar que levou muitos Finches, por outro ela tinha sua própria forma de comemorar seus antepassados. É interessante, por exemplo, como foi dela a ideia de dar ao gato da família o nome de Molly, e nomeou sua filha Edith em homenagem à matriarca. E a morte, do mesmo jeito que a afastou de Edith Sr. e a levou a sair da casa da família com sua única filha sobrevivente, foi o que inicialmente a aproximou da matriarca e a fez retornar à casa, quando do óbito de seu marido Sanjay.
Central na vida de Edith Sr. estava o culto aos mortos, e o culto à própria morte. Já na vida de Dawn estava o luto: pela morte de seus irmãos, então de seus pais, de seu marido e finalmente de seus filhos.
Edith Sr. morreu na noite em que Dawn e Edith Jr. saíra da casa ancestral da família. Num misto de desgosto, teimosia e insatisfação, ela misturou alguns de seus remédios com álcool e veio a óbito na manhã seguinte. Enquanto isso, Dawn morreu alguns anos depois, acometida por uma doença não identificada, acompanhada por sua filha. Em seu testamento deixou à Edith Jr. a chave que lhe daria acesso às passagens secretas da casa e seria o gatilho para seu retorno à mansão depois de sete anos.
Quando Edith Jr. visita a casa ancestral de sua família ela está grávida. Ela é a última Finch de sua geração, mas não a última Finch. Sua jornada de descoberta não tem o intuito apenas de processar o legado e o trauma familiar que ela carrega – um trauma tão grande que é visto como uma maldição de morte. Seu desejo é processar e entender a história de sua família para que possa comunicá-la ao seu futuro filho. E que, em posse dessa história, em vez de ele cultuar, fugir, confrontar, ignorar ou negar a morte, ele possa apreciar sua vida. “Eu quero que você se sinta maravilhado que qualquer um de nós já teve a chance de estar aqui.”
Ao final, Edith Jr. não é capaz de comunicar isso diretamente ao seu filho, Christopher. Ela vem a falecer durante o parto. Todas as suas considerações e o que ela descobriu da História e histórias de sua família estão em seu diário, que ela escreveu para seu filho. Christopher é o que restou de Edith Finch.
Ocarina of Time nunca esteve num pedestal pra mim. Posso com segurança dizer que nunca o superestimei. Tem jogo melhor, tem até Zelda melhor. Mesmo em seu lançamento, apesar de sua excelência artística e técnica, isso já era verdade.
Por outro lado, não creio que sou similarmente culpado do pecado de subestimar Ocarina of Time. Se é contestável dizer que ele é o "melhor jogo de todos os tempos", é inegável que ele é um dos melhores. Mesmo 26 anos depois, isso permanece verdade.
OoT é uma aula de como se fazer uma aventura 3D, aula que até hoje muitos desenvolvedores não absorveram plenamente. Seja em ritmo, controles, world design, dungeons, variedade, atmosfera, temas... Cada um de seus elementos é feito com uma excelência tão profunda que é até compreensível alguns fãs mais animados o conclamarem como perfeito. Isso, é claro, é exagero. Mas bem menos do que se imagina...
P.S.: Joguei a versão decompilada, Ship of Harkinian. Ter a oportunidade de jogar OoT em 1080p, 120fps, com loadings praticamente inexistentes e vários QoL é prova de que pirataria, principalmente de games da Nintendo, é belo e moral.
(pelamor, eu sei que decompilação não é pirataria, me deixa em paz)
Por outro lado, não creio que sou similarmente culpado do pecado de subestimar Ocarina of Time. Se é contestável dizer que ele é o "melhor jogo de todos os tempos", é inegável que ele é um dos melhores. Mesmo 26 anos depois, isso permanece verdade.
OoT é uma aula de como se fazer uma aventura 3D, aula que até hoje muitos desenvolvedores não absorveram plenamente. Seja em ritmo, controles, world design, dungeons, variedade, atmosfera, temas... Cada um de seus elementos é feito com uma excelência tão profunda que é até compreensível alguns fãs mais animados o conclamarem como perfeito. Isso, é claro, é exagero. Mas bem menos do que se imagina...
P.S.: Joguei a versão decompilada, Ship of Harkinian. Ter a oportunidade de jogar OoT em 1080p, 120fps, com loadings praticamente inexistentes e vários QoL é prova de que pirataria, principalmente de games da Nintendo, é belo e moral.
(pelamor, eu sei que decompilação não é pirataria, me deixa em paz)
1985
Fiz um “1cc” de Super Mario Bros. - leia-se, zerar todas as fases (nada de atalhos!) sem game overs (usar vidas tá permitido, mas continuar do último mundo apertando A+Start não). Apesar de já ter zerado esse game mais de uma vez no passado, tenho a impressão de que esta é a primeira vez que o faço nessas condições. É um desafio maior do que eu esperava, o que fica evidente pelas mais de 8 horas totais que levei para concluí-lo.
Zerar SMB com essas limitações me fez reapreciar o quão bem projetado esse game é. É possível ver que por trás de cada goomba, moeda e cogumelo há uma intenção por trás; nada está lá por acaso ou foi jogado de maneira descuidada.
Essa experiência também deixou bem evidente para mim as proximidades de SMB com os jogos de Arcade que o antecederam. A narrativa de que a Nintendo teria sido pioneira em fazer jogos que se afastam dos arcaísmos arcadistas, criando verdadeiramente jogos “de console”, não se sustenta muito. SMB tornou ubíquas tecnologias como parallax scrolling e há concessões em seu design para uma experiência mais “caseira” ou “causal”, mas seu design está com os pés firmemente plantados nos Arcades – coisas como o scoring system ou o fato de ter uma “second run” deixam isso bem claro.
E, por fim, fodam-se os Hammer Bros.
Zerar SMB com essas limitações me fez reapreciar o quão bem projetado esse game é. É possível ver que por trás de cada goomba, moeda e cogumelo há uma intenção por trás; nada está lá por acaso ou foi jogado de maneira descuidada.
Essa experiência também deixou bem evidente para mim as proximidades de SMB com os jogos de Arcade que o antecederam. A narrativa de que a Nintendo teria sido pioneira em fazer jogos que se afastam dos arcaísmos arcadistas, criando verdadeiramente jogos “de console”, não se sustenta muito. SMB tornou ubíquas tecnologias como parallax scrolling e há concessões em seu design para uma experiência mais “caseira” ou “causal”, mas seu design está com os pés firmemente plantados nos Arcades – coisas como o scoring system ou o fato de ter uma “second run” deixam isso bem claro.
E, por fim, fodam-se os Hammer Bros.
Algo que só percebi nessa rezerada é como Yoshi’s Island consegue ser, de maneira genial, ser simultaneamente um dos Marios mais acessíveis e mais hardcores. Zerar as fases é algo relativamente fácil, ainda mais com o moveset quebrado do Yoshi, que pode engolir inimigos, atacar à distância com ovos e flutuar por pouco tempo; e mesmo que você leve algum dano, tem pelo menos 10 segundos para recuperar o Baby Mario e evitar um game over, além de vidas serem bem abundantes caso tudo falhe.
Por outro lado, fazer 100% do game é bem trabalhoso e exige precisão e persistência. As fases são longas e é preciso vasculhar cada cantinho para conseguir pegar tudo, e ter que chegar até o final com 30 estrelas é particularmente desafiador em algumas fases, com um deslize mínimo no final podendo por tudo a perder. Teve fase que levei mais de meia hora para conseguir fazer direito. Isso não é uma crítica: Yoshi’s Island é um dos Marios mais “densos” e mesmo com apenas seis mundos de oito fases é um dos jogos da série que dá para mais aproveitar.
Sem contar que é lindo de morrer.
Por outro lado, fazer 100% do game é bem trabalhoso e exige precisão e persistência. As fases são longas e é preciso vasculhar cada cantinho para conseguir pegar tudo, e ter que chegar até o final com 30 estrelas é particularmente desafiador em algumas fases, com um deslize mínimo no final podendo por tudo a perder. Teve fase que levei mais de meia hora para conseguir fazer direito. Isso não é uma crítica: Yoshi’s Island é um dos Marios mais “densos” e mesmo com apenas seis mundos de oito fases é um dos jogos da série que dá para mais aproveitar.
Sem contar que é lindo de morrer.
Divertidíssimo. Pega formas variadas de gameplay e as une ludonarrativamente num pacote absurdamente charmoso. São basicamente três modos de jogo - porradaria com robô gigante, dungeon-crawling e puzzle - com mais alguns minigames bacanudos. A cola que une isso tudo, obviamente, é a perfeita da Tron Bonne e seus ainda mais perfeitos Servbots. Esse molho especial torna as partes boas do game ainda melhores (dungeon-crawling), e as não tão boas suportáveis (chefões).
1988
Apesar de eu não considerar o melhor jogo de NES (nem mesmo o melhor platformer de NES), é inegável que esse é o jogo que melhor utiliza o console. Se você comparar SMB3 diretamente com SMB1, nem parece que são jogos do mesmo console. É realmente um triunfo técnico, sendo utilizado para se criar um triunfo lúdico que confortavelmente está entre os melhores do gênero até hoje. (mas vsf o último mundo)
2018
Se você começar uma nova partida de ZeroRanger e matar as ondas iniciais de inimigos perfeitamente, uma coisa bem bacana acontece. Quanto mais inimigos você mata em sequência, mais cresce seu multiplicador de pontuação. Se você não errar o alvo nenhuma vez na introdução, vai atingir o multiplicador máximo ao mesmo momento em que as luzes da cidade futurística ao fundo começam a acender. Nesse exato momento, como que motivado pela mudança de cenário, uma voz eletrônica ressoa "MAXIMUM" e a música do jogo começa a ficar mais animada. Tudo isso ocorre nos primeiros 20 segundos iniciais do jogo. 20 segundos. Esse foi o tempo necessário para eu me apaixonar por ZeroRanger.
Toda a sincronia da música, cinética e imagens desses segundos iniciais, a forma como essa cena é cuidadosamente montada para acionar todos os seus sensores de endorfina simultaneamente, me fez na mesma hora pensar "esse é um excelente shmup!" Mas logo comecei a pensar se eu realmente podia dizer isso. Que eu estava lidando com um excelente jogo eu não tinha muitas dúvidas, mas com que autoridade eu poderia dizer que ele era um excelente shmup? Discussões sobre "é um bom jogo mas mau X" raramente têm meu interesse porque costumam ser apenas um subterfúgio para tentar se criticar ou diminuir uma obra sem ofender seus fãs. Minha intenção não é fazer isso com ZeroRanger de forma alguma. Antes, o que estou colocando na balança não são as credenciais do jogo como representante do gênero de shmup, e sim as minhas credenciais como jogador. Afinal, se eu classificar um jogo como um dos melhores de sua categoria, presume-se que eu tenha uma familiaridade razoável com a categoria em questão.
Vejam bem, eu sou um apreciador de shmups, mas dificilmente me consideraria um fã. Eu joguei vários games do gênero, incluindo algumas das principais franquias clássicas como Gradius e Darius, mas nunca me aprofundei o suficiente nos jogos para me tornar um jogador razoavelmente competente. O espetáculo audiovisual sempre me atraiu mais do que a experiência desafiadora e a busca pela perfeição, então nunca tive problemas em jogar em dificuldades menores, usar cheats e até rewind para "completar" os games. Coloco aqui aspas em "completar" devido a um aspecto particular desse tipo de jogo, considerado uma lei universal no fandom e às vezes enforçado nos próprios games: um jogo só é considerado verdadeiramente zerado após se concluir uma "1cc", ou "one-credit clear"; jogar do início ao fim sem usar nenhum continue (ou seja, usando só uma ficha) e, obviamente, nenhuma trapaça. Seguindo esse critério o número de shmups que verdadeiramente zerei não é digno de comentários.
Dito isso, eu diria que joguei, ou pelo menos experimentei uma diversidade o suficiente de jogos de navinha na minha vida para poder divagar um pouco sobre o que eles têm de tão sedutor. E, mesmo que minha compreensão do gênero seja admitidamente superficial, ZeroRanger é tão espetacular que faz com que mesmo com o pouco que eu entendo do gênero eu não tenha medo de dizer: "é, esse é um excelente shmup".
O gênero de de Shoot 'em Up, em seu melhor estado, é expressão máxima da narrativa de Davi contra Golias. Com apenas uma navezinha pequenininha você deve enfrentar um número absurdo de inimigos maiores, mais fortes e que atiram com muito mais frequência. Apesar de haver algum tipo de justificativa narrativa para você ter uma chance miraculosa de sobreviver a missão (normalmente sua nave é alguma espécie de protótipo nunca usado antes capaz de sozinho virar a guerra!), a fragilidade de sua situação é inegável, fragilidade que muitas vezes se manifesta de forma literal no fato de que uma única bala ou colisão pode ser o suficiente para destruir sua nave. Portanto, em vez de uma simples fantasia de empoderamento, shmups são fantasias de superação. Eles te colocam numa situação de extrema desvantagem que só pode ser superada com habilidade e persistência - diferente do caso do rei Davi, intervenções divinas não são muito comuns aqui.
Acontece que esse tipo de fantasia é tão frágil quanto a navinha que você controla. Para ela funcionar, o jogador tem que a todo momento estar com a sensação de que está, de fato, superando algo. O ideal é que desafio esteja sempre um pouquinho além do limite de suas habilidades, o suficiente para ele sentir que evoluiu ao vencer, mas não alto o suficiente para parecer algo injusto ou impossível. Inversamente, se o desafio não é capaz de colocar o jogador no limite, ele será visto como fácil demais ou entendiante. É quando você está na zona limítrofe entre a vida e a morte que o gênero realmente brilha. Jogos de navinha estão sempre tentando buscar esse equilíbrio mágico.
Obviamente, assim como toda mídia interativa, shmups também têm que lidar com o fato de que existem jogadores de diferentes níveis de habilidade. Um jogo em que o desafio está na medida para uma pessoa pode ser fácil ou difícil demais para outra. Isso é algo perfeitamente normal e não exclusivo ao gênero. O que por outro lado é uma peculiaridade dos jogos de navinha é sua fama de falta de acessibilidade. Apesar de existirem STGs mais difíceis e mais fáceis, mais ou menos acessíveis, no discurso público o gênero ganhou a fama de ser exclusivo para os jogadores mais hardcore possíveis. É provável que em sua busca incessante por games que alcançam aquele mítico ponto de equilíbrio entre a vida e a morte os veteranos e devs puxaram as fronteiras do gênero, dando a ele como um todo essa aura de algo inalcançável para novatos. (e, claro, também tem muito circlejerk no fandom)
Andando na contramão dessa tendência, ZeroRanger é (deliberadamente) bem mais acessível que muitos de seus congêneres, quase ao ponto de podermos dizer que é um jogo "fácil" para os padrões da categoria. De fato, numa comparação direta com clássicos famosos como Gradius, a conclusão de que estamos lidando com um jogo bem mais "perdoável" é quase lógica. Por exemplo, sua nave não morre com apenas um tiro: ela começa com um mínimo de 3 de HP, podendo chegar a 5, e tem a chance de recuperar o HP perdido durante as partidas se sua pontuação for alta o suficiente. Colisões com inimigos ou obstáculos, que significam morte sumária em grande parte dos shmups, também tiveram sua punição atenuada, sendo necessário choques repetidos ou muito intensos para lhe causar dano. Se apesar disso tudo você morrer mesmo assim, mais uma vez o jogo lhe dá um empurrãozinho. Apesar de inicialmente você não ter continues, seus pontos acumulados durante a partida enchem uma barra que, quando completa, lhe dão um continue permanente para as próximas partidas. Você pode acumular um total de oito continues assim, um número razoável para você tentar várias vezes e melhorar no jogo sem trivializar tudo com chances infinitas. E, num exemplo final de piedade, você não precisa recomeçar o jogo do zero, podendo selecionar uma nova partida do começo da última fase em que chegou, preservando todos os seus continues e upgrades de armas.
Com tanto generosidade, pode parecer que ZeroRanger só será capaz de colocar naquela zona mágica entre vida e morte, de trazer aquela sensação de constante superação, à pessoas novas no gênero ou não muito experientes. Talvez isso seja mesmo verdade, mas não considero de forma alguma um aspecto negativo. Como um sábio game designer uma vez disse, "é bom lembrarmos que há muito mais crianças e novatos do que gamers". Mas mesmo que seu foco seja novatos, ZeroRanger ainda tenta o levar até esse limite. Ele foge do erro comum de que porque seu público-alvo é mais inexperiente ele deve receber tudo de bandeja. Acessível? Sim. Trivial? De forma alguma.
Vamos reexaminar esses atributos de acessibilidade de ZeroRanger por um momento e ver como os finlandeses da System Erasure implementaram eles sem tornar o jogo trivial.
Primeiramente, o HP. Um limite mínimo de 3 vidas é generoso, mas nada que não tenha sido visto em outros shmups, alguns lendariamente difíceis como DoDonPachi. Além disso, ZeroRanger implementa um sistema sutil sistema de "ranking" que garante que você não se sentirá muito confortável só porque acumulou um pouco de hit points. Quanto maior seu HP e score, mais agressivos os inimigos e rápidas as balas. Seu HP é, portanto, uma forma de puxar os limites do jogo - e quanto mais você os puxa, mais o jogo reage puxando seus limites também.
Os continues também se encaixam nessa mesma lógica de "acessível mas não trivial". Para começar, eles são algo que você conquista, não um mero presente disponível desde o início. Encher a barrinha que te dá continues oito vezes significa que você acumulou um bocado de pontos e, provavelmente, morreu várias vezes em runs variadas. No mais, é preciso salientar que seu número ainda é limitado. Os continues são um recurso duramente conquistado e escasso que, uma vez utilizados, só retornam numa nova partida. Mesmo com oito continues um game over continua sendo uma realidade. Não há mortes impunes neste jogo.
Ademais, como os continues funcionam é algo tão bem planejado quanto a forma de adquirí-los. As duas formas tradicionais de continues funcionarem em shmups é eles te reviverem no exato lugar que você morreu (às vezes sem upgrade algum, então você morrerá imediatamente) ou no início da fase (o que pode ser cansativo se você, por exemplo, está emperrado numa parte no final do estágio e terá que fazer ele todo de novo só pra morrer lá mais uma vez). ZeroRanger tenta, e ouso dizer que consegue, unir o melhor dos dois mundos. Os estágios são divididos em várias seções, compostas por uma onda específica de inimigos - algo que não aparece de forma explícita para o jogador mas ao se familiarizar com o level design você começará a perceber. Quando você morre, você retorna para o início da última seção. Essa abordagem tem duas vantagens enormes. Primeiro, isso impede que você entre num ciclo vicioso de mortes sem fim. Você nunca será revivido no meio de uma chuva de balas ou na frente de trocentos inimigos suicidas. Segundo, isso obriga o jogador a efetivamente vencer aquela determinada seção pelo menos uma vez para prosseguir. Gastar fichas infinitamente e se suicidar sucessivamente para passar de uma parte difícil não é uma estratégia possível aqui. Se você passou de uma parte, mesmo que tenha tentado várias vezes, é porque foi capaz.
Encaixam-se nisso também os upgrades permanentes. Você nunca sentirá que perdeu todas as chances de prosseguir porque perdeu seus upgrades. Em compensação, não é possível acumular armas e tornar sua navinha "overpower". As armas que você ganha são determinadas e, criticamente, muito bem equilibradas. Elas são versáteis e úteis, não projetos de Armagedom. Além disso, como há uma progressão semi-linear para adquirir os upgrades, com cada chefe lhe dando duas opções de armas para adquirir, estágios subsequentes partem do princípio de que podem ser montados com eles em mente, então é melhor você aprender a utilizar suas funções ofensivas e defensivas.
Mais importante do que tentar ser acessível sem trivializar a experiência, ZeroRager também tenta usar sua acessibilidade como um elemento pedagógico sem cair na armadilha de ser condescendente. Veteranos do gênero têm um monte de regras implícitas de como ele funciona, as mais proeminentes sendo a já discutida "1cc" e o foco em adquirir altas pontuações (highscore). A forma como você consegue mais continues em ZeroRanger acaba imbuindo no jogador o mindset de que às vezes é melhor recomeçar do zero do que continuar de onde parou, já que sua pontuação será maior assim e, portanto, você conseguirá encher a barra de continues mais rapidamente. Melhor ainda se o jogador conseguir sobreviver por mais tempo: seu score acumula muito mais rápido quanto mais longe você consegue chegar, então uma única run mais longa pode te dar bem mais pontos (e continues) do que vária runs curtas. Logo você estará num ciclo vicioso, tentando chegar o mais longe possível com apenas uma vida. Sem perceber, e sem a necessidade de que alguém te diga de forma explícita, você estará jogando ZeroRanger do "jeito certo".
Tudo isso culmina no True Final Boss. Quando você pensa que já não tem mais motivos para jogar do "jeito certo", que já adquiriu o máximo de continues e destravou todas as fases, que só lhe resta fazer o último estágio e vencer o chefe final, o jogo mais uma vez lhe dá excelentes motivos para fazer uma 1cc (ou o mais próximo disso) - e, dessa vez, os motivos são mecânicos *e* narrativos.
Há algumas coisas a se considerar em relação a como shmups lidam com a narrativa. Não creio ser exagero dizer que na maioria da cabeça das pessoas esse é um gênero em que elementos narrativos são vistos como secundários, no mínimo. No limite, STGs são vistos como experiências puramente estético-mecânicas por alguns, algo muito próximo do gênero de twitch. Talvez isso seja pelo fato de eles serem um dos primeiros gêneros de games a se consolidarem e por isso mantém essa aura da pureza mecânica ou pelo menos de uma precedência da gameplay ante ao narrativo. Entretanto, mesmo um conhecimento mais superficial do gênero vai te fazer perceber que isso é apenas um estereótipo... Mas como muitos estereótipos perniciosos, ele não rejeita a realidade, apenas a exagera. Sim, muitos shmups têm uma narrativa que fica muito mais implícita e é possível apreciar vários shmups sem prestar atenção a história. Mas eu diria que o mesmo se aplica a gêneros que são vistos como primariamente narrativos ou narrativos por excelência - você, companheiro latino-americano que não falava inglês quando criança e mesmo assim jogava RPGs, sabe que é possível apreciá-los através de aspectos visuais e mecânicos, mesmo que as particularidades da história não sejam capazes de superar a barreira linguística.
ZeroRanger ter uma narrativa encorpada e nada genérica não é nenhuma forma de ineditismo, portanto. Mas os usos que o jogo faz de sua narrativa são, se não únicos (uma palavra que sempre sou temerário em utilizar), muito interessantes em como complementam e se integram aos outros aspectos do jogo. Os devs tiveram uma incrível epifania de usar como seu tema mitos e aspectos das religiões indianas, em especial o conceito de Samsara. Se por acidente ou intenção, só posso dizer que fazer isso foi genial.
Samsara é o eterno ciclo de nascimento, morte e renascimento através dos mundos que rege a cosmologia de várias tradições filosófico-religiosas do leste asiático. Especialmente na perspectiva budista, esse ciclo é doloroso. Com o tempo sua alma se apega à sua vida terrena, apenas para sofrer com doenças, desapontamentos e, por fim, morte - e então recomeçar o ciclo de apego, sofrimento e morte mais uma vez. Os paralelos com a experiência num shump são fáceis de fazer. A medida que você vai mais longe, mata mais chefes, consegue pontuações maiores, cresce seu apego à "vida", sua vontade de vencer, só para uma bala aleatória lhe fazer perder tudo. Começa então um novo ciclo de vida e morte, aparentemente infindável.
Mas é possível escapar desse ciclo. Para as religiões indianas, a única forma de escape é através do acúmulo de perfeita sabedoria, karma e desapego material através de muitas e muitas vidas. Em ZeroRanger, a solução é mais simples: através da persistência. Se cada ciclo traz consigo mais uma vez a perspectiva de novo sofrimento, ele também te traz a certeza de que você está melhorando e superando seus limites.
Que você possa atingir a iluminação.
Toda a sincronia da música, cinética e imagens desses segundos iniciais, a forma como essa cena é cuidadosamente montada para acionar todos os seus sensores de endorfina simultaneamente, me fez na mesma hora pensar "esse é um excelente shmup!" Mas logo comecei a pensar se eu realmente podia dizer isso. Que eu estava lidando com um excelente jogo eu não tinha muitas dúvidas, mas com que autoridade eu poderia dizer que ele era um excelente shmup? Discussões sobre "é um bom jogo mas mau X" raramente têm meu interesse porque costumam ser apenas um subterfúgio para tentar se criticar ou diminuir uma obra sem ofender seus fãs. Minha intenção não é fazer isso com ZeroRanger de forma alguma. Antes, o que estou colocando na balança não são as credenciais do jogo como representante do gênero de shmup, e sim as minhas credenciais como jogador. Afinal, se eu classificar um jogo como um dos melhores de sua categoria, presume-se que eu tenha uma familiaridade razoável com a categoria em questão.
Vejam bem, eu sou um apreciador de shmups, mas dificilmente me consideraria um fã. Eu joguei vários games do gênero, incluindo algumas das principais franquias clássicas como Gradius e Darius, mas nunca me aprofundei o suficiente nos jogos para me tornar um jogador razoavelmente competente. O espetáculo audiovisual sempre me atraiu mais do que a experiência desafiadora e a busca pela perfeição, então nunca tive problemas em jogar em dificuldades menores, usar cheats e até rewind para "completar" os games. Coloco aqui aspas em "completar" devido a um aspecto particular desse tipo de jogo, considerado uma lei universal no fandom e às vezes enforçado nos próprios games: um jogo só é considerado verdadeiramente zerado após se concluir uma "1cc", ou "one-credit clear"; jogar do início ao fim sem usar nenhum continue (ou seja, usando só uma ficha) e, obviamente, nenhuma trapaça. Seguindo esse critério o número de shmups que verdadeiramente zerei não é digno de comentários.
Dito isso, eu diria que joguei, ou pelo menos experimentei uma diversidade o suficiente de jogos de navinha na minha vida para poder divagar um pouco sobre o que eles têm de tão sedutor. E, mesmo que minha compreensão do gênero seja admitidamente superficial, ZeroRanger é tão espetacular que faz com que mesmo com o pouco que eu entendo do gênero eu não tenha medo de dizer: "é, esse é um excelente shmup".
O gênero de de Shoot 'em Up, em seu melhor estado, é expressão máxima da narrativa de Davi contra Golias. Com apenas uma navezinha pequenininha você deve enfrentar um número absurdo de inimigos maiores, mais fortes e que atiram com muito mais frequência. Apesar de haver algum tipo de justificativa narrativa para você ter uma chance miraculosa de sobreviver a missão (normalmente sua nave é alguma espécie de protótipo nunca usado antes capaz de sozinho virar a guerra!), a fragilidade de sua situação é inegável, fragilidade que muitas vezes se manifesta de forma literal no fato de que uma única bala ou colisão pode ser o suficiente para destruir sua nave. Portanto, em vez de uma simples fantasia de empoderamento, shmups são fantasias de superação. Eles te colocam numa situação de extrema desvantagem que só pode ser superada com habilidade e persistência - diferente do caso do rei Davi, intervenções divinas não são muito comuns aqui.
Acontece que esse tipo de fantasia é tão frágil quanto a navinha que você controla. Para ela funcionar, o jogador tem que a todo momento estar com a sensação de que está, de fato, superando algo. O ideal é que desafio esteja sempre um pouquinho além do limite de suas habilidades, o suficiente para ele sentir que evoluiu ao vencer, mas não alto o suficiente para parecer algo injusto ou impossível. Inversamente, se o desafio não é capaz de colocar o jogador no limite, ele será visto como fácil demais ou entendiante. É quando você está na zona limítrofe entre a vida e a morte que o gênero realmente brilha. Jogos de navinha estão sempre tentando buscar esse equilíbrio mágico.
Obviamente, assim como toda mídia interativa, shmups também têm que lidar com o fato de que existem jogadores de diferentes níveis de habilidade. Um jogo em que o desafio está na medida para uma pessoa pode ser fácil ou difícil demais para outra. Isso é algo perfeitamente normal e não exclusivo ao gênero. O que por outro lado é uma peculiaridade dos jogos de navinha é sua fama de falta de acessibilidade. Apesar de existirem STGs mais difíceis e mais fáceis, mais ou menos acessíveis, no discurso público o gênero ganhou a fama de ser exclusivo para os jogadores mais hardcore possíveis. É provável que em sua busca incessante por games que alcançam aquele mítico ponto de equilíbrio entre a vida e a morte os veteranos e devs puxaram as fronteiras do gênero, dando a ele como um todo essa aura de algo inalcançável para novatos. (e, claro, também tem muito circlejerk no fandom)
Andando na contramão dessa tendência, ZeroRanger é (deliberadamente) bem mais acessível que muitos de seus congêneres, quase ao ponto de podermos dizer que é um jogo "fácil" para os padrões da categoria. De fato, numa comparação direta com clássicos famosos como Gradius, a conclusão de que estamos lidando com um jogo bem mais "perdoável" é quase lógica. Por exemplo, sua nave não morre com apenas um tiro: ela começa com um mínimo de 3 de HP, podendo chegar a 5, e tem a chance de recuperar o HP perdido durante as partidas se sua pontuação for alta o suficiente. Colisões com inimigos ou obstáculos, que significam morte sumária em grande parte dos shmups, também tiveram sua punição atenuada, sendo necessário choques repetidos ou muito intensos para lhe causar dano. Se apesar disso tudo você morrer mesmo assim, mais uma vez o jogo lhe dá um empurrãozinho. Apesar de inicialmente você não ter continues, seus pontos acumulados durante a partida enchem uma barra que, quando completa, lhe dão um continue permanente para as próximas partidas. Você pode acumular um total de oito continues assim, um número razoável para você tentar várias vezes e melhorar no jogo sem trivializar tudo com chances infinitas. E, num exemplo final de piedade, você não precisa recomeçar o jogo do zero, podendo selecionar uma nova partida do começo da última fase em que chegou, preservando todos os seus continues e upgrades de armas.
Com tanto generosidade, pode parecer que ZeroRanger só será capaz de colocar naquela zona mágica entre vida e morte, de trazer aquela sensação de constante superação, à pessoas novas no gênero ou não muito experientes. Talvez isso seja mesmo verdade, mas não considero de forma alguma um aspecto negativo. Como um sábio game designer uma vez disse, "é bom lembrarmos que há muito mais crianças e novatos do que gamers". Mas mesmo que seu foco seja novatos, ZeroRanger ainda tenta o levar até esse limite. Ele foge do erro comum de que porque seu público-alvo é mais inexperiente ele deve receber tudo de bandeja. Acessível? Sim. Trivial? De forma alguma.
Vamos reexaminar esses atributos de acessibilidade de ZeroRanger por um momento e ver como os finlandeses da System Erasure implementaram eles sem tornar o jogo trivial.
Primeiramente, o HP. Um limite mínimo de 3 vidas é generoso, mas nada que não tenha sido visto em outros shmups, alguns lendariamente difíceis como DoDonPachi. Além disso, ZeroRanger implementa um sistema sutil sistema de "ranking" que garante que você não se sentirá muito confortável só porque acumulou um pouco de hit points. Quanto maior seu HP e score, mais agressivos os inimigos e rápidas as balas. Seu HP é, portanto, uma forma de puxar os limites do jogo - e quanto mais você os puxa, mais o jogo reage puxando seus limites também.
Os continues também se encaixam nessa mesma lógica de "acessível mas não trivial". Para começar, eles são algo que você conquista, não um mero presente disponível desde o início. Encher a barrinha que te dá continues oito vezes significa que você acumulou um bocado de pontos e, provavelmente, morreu várias vezes em runs variadas. No mais, é preciso salientar que seu número ainda é limitado. Os continues são um recurso duramente conquistado e escasso que, uma vez utilizados, só retornam numa nova partida. Mesmo com oito continues um game over continua sendo uma realidade. Não há mortes impunes neste jogo.
Ademais, como os continues funcionam é algo tão bem planejado quanto a forma de adquirí-los. As duas formas tradicionais de continues funcionarem em shmups é eles te reviverem no exato lugar que você morreu (às vezes sem upgrade algum, então você morrerá imediatamente) ou no início da fase (o que pode ser cansativo se você, por exemplo, está emperrado numa parte no final do estágio e terá que fazer ele todo de novo só pra morrer lá mais uma vez). ZeroRanger tenta, e ouso dizer que consegue, unir o melhor dos dois mundos. Os estágios são divididos em várias seções, compostas por uma onda específica de inimigos - algo que não aparece de forma explícita para o jogador mas ao se familiarizar com o level design você começará a perceber. Quando você morre, você retorna para o início da última seção. Essa abordagem tem duas vantagens enormes. Primeiro, isso impede que você entre num ciclo vicioso de mortes sem fim. Você nunca será revivido no meio de uma chuva de balas ou na frente de trocentos inimigos suicidas. Segundo, isso obriga o jogador a efetivamente vencer aquela determinada seção pelo menos uma vez para prosseguir. Gastar fichas infinitamente e se suicidar sucessivamente para passar de uma parte difícil não é uma estratégia possível aqui. Se você passou de uma parte, mesmo que tenha tentado várias vezes, é porque foi capaz.
Encaixam-se nisso também os upgrades permanentes. Você nunca sentirá que perdeu todas as chances de prosseguir porque perdeu seus upgrades. Em compensação, não é possível acumular armas e tornar sua navinha "overpower". As armas que você ganha são determinadas e, criticamente, muito bem equilibradas. Elas são versáteis e úteis, não projetos de Armagedom. Além disso, como há uma progressão semi-linear para adquirir os upgrades, com cada chefe lhe dando duas opções de armas para adquirir, estágios subsequentes partem do princípio de que podem ser montados com eles em mente, então é melhor você aprender a utilizar suas funções ofensivas e defensivas.
Mais importante do que tentar ser acessível sem trivializar a experiência, ZeroRager também tenta usar sua acessibilidade como um elemento pedagógico sem cair na armadilha de ser condescendente. Veteranos do gênero têm um monte de regras implícitas de como ele funciona, as mais proeminentes sendo a já discutida "1cc" e o foco em adquirir altas pontuações (highscore). A forma como você consegue mais continues em ZeroRanger acaba imbuindo no jogador o mindset de que às vezes é melhor recomeçar do zero do que continuar de onde parou, já que sua pontuação será maior assim e, portanto, você conseguirá encher a barra de continues mais rapidamente. Melhor ainda se o jogador conseguir sobreviver por mais tempo: seu score acumula muito mais rápido quanto mais longe você consegue chegar, então uma única run mais longa pode te dar bem mais pontos (e continues) do que vária runs curtas. Logo você estará num ciclo vicioso, tentando chegar o mais longe possível com apenas uma vida. Sem perceber, e sem a necessidade de que alguém te diga de forma explícita, você estará jogando ZeroRanger do "jeito certo".
Tudo isso culmina no True Final Boss. Quando você pensa que já não tem mais motivos para jogar do "jeito certo", que já adquiriu o máximo de continues e destravou todas as fases, que só lhe resta fazer o último estágio e vencer o chefe final, o jogo mais uma vez lhe dá excelentes motivos para fazer uma 1cc (ou o mais próximo disso) - e, dessa vez, os motivos são mecânicos *e* narrativos.
Há algumas coisas a se considerar em relação a como shmups lidam com a narrativa. Não creio ser exagero dizer que na maioria da cabeça das pessoas esse é um gênero em que elementos narrativos são vistos como secundários, no mínimo. No limite, STGs são vistos como experiências puramente estético-mecânicas por alguns, algo muito próximo do gênero de twitch. Talvez isso seja pelo fato de eles serem um dos primeiros gêneros de games a se consolidarem e por isso mantém essa aura da pureza mecânica ou pelo menos de uma precedência da gameplay ante ao narrativo. Entretanto, mesmo um conhecimento mais superficial do gênero vai te fazer perceber que isso é apenas um estereótipo... Mas como muitos estereótipos perniciosos, ele não rejeita a realidade, apenas a exagera. Sim, muitos shmups têm uma narrativa que fica muito mais implícita e é possível apreciar vários shmups sem prestar atenção a história. Mas eu diria que o mesmo se aplica a gêneros que são vistos como primariamente narrativos ou narrativos por excelência - você, companheiro latino-americano que não falava inglês quando criança e mesmo assim jogava RPGs, sabe que é possível apreciá-los através de aspectos visuais e mecânicos, mesmo que as particularidades da história não sejam capazes de superar a barreira linguística.
ZeroRanger ter uma narrativa encorpada e nada genérica não é nenhuma forma de ineditismo, portanto. Mas os usos que o jogo faz de sua narrativa são, se não únicos (uma palavra que sempre sou temerário em utilizar), muito interessantes em como complementam e se integram aos outros aspectos do jogo. Os devs tiveram uma incrível epifania de usar como seu tema mitos e aspectos das religiões indianas, em especial o conceito de Samsara. Se por acidente ou intenção, só posso dizer que fazer isso foi genial.
Samsara é o eterno ciclo de nascimento, morte e renascimento através dos mundos que rege a cosmologia de várias tradições filosófico-religiosas do leste asiático. Especialmente na perspectiva budista, esse ciclo é doloroso. Com o tempo sua alma se apega à sua vida terrena, apenas para sofrer com doenças, desapontamentos e, por fim, morte - e então recomeçar o ciclo de apego, sofrimento e morte mais uma vez. Os paralelos com a experiência num shump são fáceis de fazer. A medida que você vai mais longe, mata mais chefes, consegue pontuações maiores, cresce seu apego à "vida", sua vontade de vencer, só para uma bala aleatória lhe fazer perder tudo. Começa então um novo ciclo de vida e morte, aparentemente infindável.
Mas é possível escapar desse ciclo. Para as religiões indianas, a única forma de escape é através do acúmulo de perfeita sabedoria, karma e desapego material através de muitas e muitas vidas. Em ZeroRanger, a solução é mais simples: através da persistência. Se cada ciclo traz consigo mais uma vez a perspectiva de novo sofrimento, ele também te traz a certeza de que você está melhorando e superando seus limites.
Que você possa atingir a iluminação.
2019
This review contains spoilers
Outer Wilds é um jogo sobre achar sentido nas coisas. Mais especificamente, é um jogo sobre criar sentido onde não há.
Os Nomai tomaram como o sentido de suas vidas e a missão de sua espécie encontrar o Eye of the Universe, interpretando seu sinal como um literal chamado e até atribuindo-lhe consciência. Mas o Eye apenas... Existe. Ele apenas é. Seu sinal é tão significativo quanto a luz de uma estrela ou as ondas magnéticas de um pulsar; e os fenômenos bizarros que acontecem em sua proximidade tão naturais (e misteriosos, como podem afirmar os astrofísicos de plantão) quanto a gravidade ou o eletromagnetismo.
O sentido que os Nomai deram ao Eye of the Universe foi puramente fabricado. Mas isso não significa que ele não tem importância. Pelo contrário, é graças a esse sentido que eles continuaram explorando, observando, criando e experimentando mesmo diante das inúmeras adversidades que encontraram ao chegar num sistema solar particularmente hostil.
Você, como jogador, também irá procurar em sua aventura um sentido que não existe — e provavelmente criar um. Afinal, as várias perguntas com que você se depara têm que ter uma resposta, certo? Por que o sol está explodindo? Por que você está preso num loop temporal? O que aconteceu com os Nomai? O que é o Eye of the Universe? Qual a relação disso tudo?
Por quê?
No final, várias respostas são encontradas. Mas, em vez de revelar um sentido, elas apenas o destroem. O sol está explodindo porque chegou ao final de seu ciclo de vida. Não há nada de malicioso por trás desse fenômeno: esse é o destino de todas as estrelas do universo. O loop temporal? Um mero acaso, uma coincidência. Uma tecnologia vestigal nomai que foi ativada com a explosão do sol. O destino dos nomai? Mortos pela explosão de um cometa não relacionado, que entrou na órbita do sistema solar. O Eye of the Universe? Um fenômeno natural que não vai salvar sua vida ou a do seu sistema solar, por mais intrigante que seja. A relação disso tudo? Aquela que você criar em sua cabeça.
Por quê? Porque sim.
Nada faz sentido. Mas nada precisa fazer sentido. E só porque as coisas não têm um sentido inerente não quer dizer que você não pode apreciar e se importar com as coisas que aprendeu, pessoas que conheceu e lugares que descobriu. Um dia tudo chegará ao fim. O próprio Universo está destinado a morrer. Mas, até lá, podemos apreciar a jornada.
O sentido da vida é dar sentido à vida.
Os Nomai tomaram como o sentido de suas vidas e a missão de sua espécie encontrar o Eye of the Universe, interpretando seu sinal como um literal chamado e até atribuindo-lhe consciência. Mas o Eye apenas... Existe. Ele apenas é. Seu sinal é tão significativo quanto a luz de uma estrela ou as ondas magnéticas de um pulsar; e os fenômenos bizarros que acontecem em sua proximidade tão naturais (e misteriosos, como podem afirmar os astrofísicos de plantão) quanto a gravidade ou o eletromagnetismo.
O sentido que os Nomai deram ao Eye of the Universe foi puramente fabricado. Mas isso não significa que ele não tem importância. Pelo contrário, é graças a esse sentido que eles continuaram explorando, observando, criando e experimentando mesmo diante das inúmeras adversidades que encontraram ao chegar num sistema solar particularmente hostil.
Você, como jogador, também irá procurar em sua aventura um sentido que não existe — e provavelmente criar um. Afinal, as várias perguntas com que você se depara têm que ter uma resposta, certo? Por que o sol está explodindo? Por que você está preso num loop temporal? O que aconteceu com os Nomai? O que é o Eye of the Universe? Qual a relação disso tudo?
Por quê?
No final, várias respostas são encontradas. Mas, em vez de revelar um sentido, elas apenas o destroem. O sol está explodindo porque chegou ao final de seu ciclo de vida. Não há nada de malicioso por trás desse fenômeno: esse é o destino de todas as estrelas do universo. O loop temporal? Um mero acaso, uma coincidência. Uma tecnologia vestigal nomai que foi ativada com a explosão do sol. O destino dos nomai? Mortos pela explosão de um cometa não relacionado, que entrou na órbita do sistema solar. O Eye of the Universe? Um fenômeno natural que não vai salvar sua vida ou a do seu sistema solar, por mais intrigante que seja. A relação disso tudo? Aquela que você criar em sua cabeça.
Por quê? Porque sim.
Nada faz sentido. Mas nada precisa fazer sentido. E só porque as coisas não têm um sentido inerente não quer dizer que você não pode apreciar e se importar com as coisas que aprendeu, pessoas que conheceu e lugares que descobriu. Um dia tudo chegará ao fim. O próprio Universo está destinado a morrer. Mas, até lá, podemos apreciar a jornada.
O sentido da vida é dar sentido à vida.
Um dos mundos mais interessantes e imersivos já criados. É esse mundo que sempre me faz retornar ao game depois de algum tempo. Os colossi que o habitam são só a cereja do bolo.
Dois elementos da Forbidden Lands a tornam tão especiais para mim.
Primeiro, elas não foram feitas para você, o jogador. É normal em games que as coisas sejam feitas levando o jogador em consideração, de maneira positiva ou negativa. Então, na maioria dos jogos, os mundos foram projetados milimetricamente para tornar a experiência prazerosa para quem joga. O contrário também não é incomum: mundos hostis que parecem querer te matar de todas as formas possíveis - pense em Dark Souls. Já as Forbidden Lands parecem completamente apáticas à sua presença. As ruínas dali são de um povo há muito tempo desaparecido e seu propósito agora é abrigar os colossi. Você não passa de um intruso, literalmente entrando em terras proibidas.
O segundo elemento que gostaria de destacar é o vazio e solidão das Forbidden Lands. Ou, melhor, o seu vazio na medida certa. O mapa de SotC não é completamente vazio. Mas ele é ocupado apenas com o suficiente para que sua mente preencha o resto. É por isso que depois de tantos anos várias pessoas continuam explorando cada canto da Forbidden Lands, procurando por segredos que não estão lá mas que sua mente te diz que têm que estar.
Anyways, jogão, grande clássico, yadda yadda.
Dois elementos da Forbidden Lands a tornam tão especiais para mim.
Primeiro, elas não foram feitas para você, o jogador. É normal em games que as coisas sejam feitas levando o jogador em consideração, de maneira positiva ou negativa. Então, na maioria dos jogos, os mundos foram projetados milimetricamente para tornar a experiência prazerosa para quem joga. O contrário também não é incomum: mundos hostis que parecem querer te matar de todas as formas possíveis - pense em Dark Souls. Já as Forbidden Lands parecem completamente apáticas à sua presença. As ruínas dali são de um povo há muito tempo desaparecido e seu propósito agora é abrigar os colossi. Você não passa de um intruso, literalmente entrando em terras proibidas.
O segundo elemento que gostaria de destacar é o vazio e solidão das Forbidden Lands. Ou, melhor, o seu vazio na medida certa. O mapa de SotC não é completamente vazio. Mas ele é ocupado apenas com o suficiente para que sua mente preencha o resto. É por isso que depois de tantos anos várias pessoas continuam explorando cada canto da Forbidden Lands, procurando por segredos que não estão lá mas que sua mente te diz que têm que estar.
Anyways, jogão, grande clássico, yadda yadda.
Sempre estive na periferia dos jogos de Luta, numa relação não muito diferente da que tinha com shmups: acho eles bonitos, gosto de jogar de vez em quando e entendo o apelo, mas nunca tive a dedicação necessária para me aprofundar no gênero.
YOMI HUSTLE é a exceção à regra. Ele elimina completamente uma das maiores barreiras para se dominar o gênero — a execução de comandos —, traduzindo de maneira genial a experiência de um fightan para um jogo baseado em turnos. Com isso, sobram apenas os mind games e combos alucinantes que tornam jogos de luta tão atrativos.
A interface do jogo assusta um pouco no começo e seu visual aparentemente simplista pode fazer alguns questionarem onde está o apelo. Mas é só uma questão de costume. Fora o fato de ser em turnos, YOMIH segue fielmente os princípios do gênero. Se você já jogou algum fightan, já está mais que preparado para aprender a jogar YOMIH e até dominá-lo em duas ou três partidas. E se por um acaso você não conhece nada do gênero, YOMIH é uma excelente porta de entrada, com sua acessibilidade incomparável e a forma como expõe explicitamente e didaticamente alguns conceitos mais espartanos do gênero como Frame Advantage e Directiona Influence.
Outra coisa que YOMIH fez comigo que nenhum jogo de Luta antes conseguiu: tornar até a experiência de perder divertida. Ao final de cada partida há um replay com todas as ações sendo executadas em tempo real. Esses replays curtos, que raramente passam dos 30 segundos, são maneiríssimos e servem como uma recompensa por você ter ficado até o fim da partida, ganhando ou perdendo. Mesmo levando sovas humilhantes várias vezes eu sempre saía de uma luta bem satisfeito por causa disso — mas claro, quando eu vencia a sensação era ainda melhor, e mostrar o replay daquela vitória incrível para os amiguinhos é legal demais.
O único "problema" do jogo é que o sistema online é apenas funcional. Não há ladders ou um sistema de matchmaking no jogo base, com servidores rankeados sendo uma adição da comunidade através de mods e toda a nascente cena competitiva sendo gerenciada puramente pela comunidade. Coloco "problema" entre aspas porque o jogo foi feito por literalmente apenas um cara e custa míseros 5 dólares (ou 16 reais), então, na moral, é o tipo de coisa que seria legal mas é perfeitamente compreensível não ter.
YOMI HUSTLE é a exceção à regra. Ele elimina completamente uma das maiores barreiras para se dominar o gênero — a execução de comandos —, traduzindo de maneira genial a experiência de um fightan para um jogo baseado em turnos. Com isso, sobram apenas os mind games e combos alucinantes que tornam jogos de luta tão atrativos.
A interface do jogo assusta um pouco no começo e seu visual aparentemente simplista pode fazer alguns questionarem onde está o apelo. Mas é só uma questão de costume. Fora o fato de ser em turnos, YOMIH segue fielmente os princípios do gênero. Se você já jogou algum fightan, já está mais que preparado para aprender a jogar YOMIH e até dominá-lo em duas ou três partidas. E se por um acaso você não conhece nada do gênero, YOMIH é uma excelente porta de entrada, com sua acessibilidade incomparável e a forma como expõe explicitamente e didaticamente alguns conceitos mais espartanos do gênero como Frame Advantage e Directiona Influence.
Outra coisa que YOMIH fez comigo que nenhum jogo de Luta antes conseguiu: tornar até a experiência de perder divertida. Ao final de cada partida há um replay com todas as ações sendo executadas em tempo real. Esses replays curtos, que raramente passam dos 30 segundos, são maneiríssimos e servem como uma recompensa por você ter ficado até o fim da partida, ganhando ou perdendo. Mesmo levando sovas humilhantes várias vezes eu sempre saía de uma luta bem satisfeito por causa disso — mas claro, quando eu vencia a sensação era ainda melhor, e mostrar o replay daquela vitória incrível para os amiguinhos é legal demais.
O único "problema" do jogo é que o sistema online é apenas funcional. Não há ladders ou um sistema de matchmaking no jogo base, com servidores rankeados sendo uma adição da comunidade através de mods e toda a nascente cena competitiva sendo gerenciada puramente pela comunidade. Coloco "problema" entre aspas porque o jogo foi feito por literalmente apenas um cara e custa míseros 5 dólares (ou 16 reais), então, na moral, é o tipo de coisa que seria legal mas é perfeitamente compreensível não ter.
2002
"Jankiness". Aquele famoso termo usado para de forma pouco criteriosa por gamers para significar qualquer game em que os controles não são imediatamente satisfatórios. Apesar de normalmente utilizado de forma derrogatória, essa qualidade por si só não é negativa. Talvez ser difícil de controlar faça sentido ludonarrativo; talvez haja apenas uma barreira inicial de habilidade e o jogo se prove responsivo e satisfatório para os que persistirem.
Em Super Mario Sunshine os dois casos se aplicam. É como se o game tivesse duas camadas sobrepostas de "jankiness", e quando você pensa que soube lidar com uma esbarra na outra. O Mario é o mesmo acrobata do jogo anterior (Super Mario 64), mas a física parece ainda mais sensível e às vezes um mínimo detalhe pode te lançar para a morte. Mas agora ele é equipado com sua mochila-à-jato-movida-à-água FLUDD, que permite flutuar por certo tempo no ar e fazer outras manobras. Entretanto, às vezes o FLUDD mais atrapalha do que ajuda, sendo meio pesado de controlar e um tanto situacional. Essa interação entre Mario e FLUDD é às vezes interessante, mas muitas vezes também estressante. Mesmo depois de horas jogando, em nenhum momento senti que era capaz de mover o Mario com a fluidez e elegância que consegui em Mario 64.
Também não ajuda que alguns níveis são bem ruins e o jogo tem umas decisões de caráter... duvidoso, para dizer o mínimo. Não poder pegar o shine de 100 moedas durante a execução de uma missão, por exemplo, foi uma péssima decisão, e algumas blue coins são um inferno de se achar.
Não que eu odeie o jogo ou coisa do tipo. Gosto da ambientação tropical, curto bastante certos níveis como o Hotel ou Noki Bay, e os shines secretos, que tiram o FLUDD e fazem uso só das habilidades acrobáticas do Mario em níveis super abstratos, são um deleite. Mas é preciso relevar bastante coisa para se aproveitar essa aventura, algo que chega a destoar do espírito de diversão imediata que tornou a franquia tão popular.
Em Super Mario Sunshine os dois casos se aplicam. É como se o game tivesse duas camadas sobrepostas de "jankiness", e quando você pensa que soube lidar com uma esbarra na outra. O Mario é o mesmo acrobata do jogo anterior (Super Mario 64), mas a física parece ainda mais sensível e às vezes um mínimo detalhe pode te lançar para a morte. Mas agora ele é equipado com sua mochila-à-jato-movida-à-água FLUDD, que permite flutuar por certo tempo no ar e fazer outras manobras. Entretanto, às vezes o FLUDD mais atrapalha do que ajuda, sendo meio pesado de controlar e um tanto situacional. Essa interação entre Mario e FLUDD é às vezes interessante, mas muitas vezes também estressante. Mesmo depois de horas jogando, em nenhum momento senti que era capaz de mover o Mario com a fluidez e elegância que consegui em Mario 64.
Também não ajuda que alguns níveis são bem ruins e o jogo tem umas decisões de caráter... duvidoso, para dizer o mínimo. Não poder pegar o shine de 100 moedas durante a execução de uma missão, por exemplo, foi uma péssima decisão, e algumas blue coins são um inferno de se achar.
Não que eu odeie o jogo ou coisa do tipo. Gosto da ambientação tropical, curto bastante certos níveis como o Hotel ou Noki Bay, e os shines secretos, que tiram o FLUDD e fazem uso só das habilidades acrobáticas do Mario em níveis super abstratos, são um deleite. Mas é preciso relevar bastante coisa para se aproveitar essa aventura, algo que chega a destoar do espírito de diversão imediata que tornou a franquia tão popular.
2015
O corolário da forma ser o conteúdo é que o conteúdo é parte intrínseca da forma. Por mais que o visual em claymation de Hylics seja fascinante, se ele não é acompanhado de uma desconstrução ou execução inesperada das mecânicas e narrativa de seu gênero (RPG), seu pretenso surrealismo estará para sempre incompleto. O resultado é um jogo que não se parece com nenhum outro RPG que você já viu mas se joga como qualquer outro RPG que você já jogou.
Quanto mais rejogo esse game menos pareço apreciá-lo. Ele era um de meus favoritos no NDS, mas a idade, se não mais sábio, me deixou mais fresco.
New Super Mario Bros. é chato. Pronto, falei. Das mais de 12 horas que levei para platiná-lo, não deve ter nem uma hora inteira que me deixou plenamente engajado. Por quase toda a experiência senti apenas que estava fazendo os niveis no automático.
O problema nem é tanto o fato de der um jogo fácil. Praticamente todo Mario moderno é facinho, feito para que até bebês possam zerá-lo. Mas mesmo os Marios mais fáceis sabem manter os jogadores experientes engajados. Normalmente, com a mistura de duas coisas: primeiro, se zerar o game é trivial, platinar exige um envolvimento maior; e segundo, há níveis secretos e não-obrigatórios que podem ser surpreendentemente desafiadores.
NSMB tem tanto coisas opcionais nos níveis para platinadores quanto níveis (e mundos inteiros!) opcionais. E mesmo assim ele dá sono. Até há alguns níveis legais, mas eles demoram bastante pra aparecer — o primeiro nível que me fez pensar "opa, isso foi bom" foi lá pro sexto mundo, e mesmo com mais da metade do game pra trás o caminho até o final ainda foi permeado de níveis completamente esquecíveis.
Se bem me recordo a série NSMB fica bem melhor no Wii. Acho que em breve saberei se isso também é só uma boa memória.
New Super Mario Bros. é chato. Pronto, falei. Das mais de 12 horas que levei para platiná-lo, não deve ter nem uma hora inteira que me deixou plenamente engajado. Por quase toda a experiência senti apenas que estava fazendo os niveis no automático.
O problema nem é tanto o fato de der um jogo fácil. Praticamente todo Mario moderno é facinho, feito para que até bebês possam zerá-lo. Mas mesmo os Marios mais fáceis sabem manter os jogadores experientes engajados. Normalmente, com a mistura de duas coisas: primeiro, se zerar o game é trivial, platinar exige um envolvimento maior; e segundo, há níveis secretos e não-obrigatórios que podem ser surpreendentemente desafiadores.
NSMB tem tanto coisas opcionais nos níveis para platinadores quanto níveis (e mundos inteiros!) opcionais. E mesmo assim ele dá sono. Até há alguns níveis legais, mas eles demoram bastante pra aparecer — o primeiro nível que me fez pensar "opa, isso foi bom" foi lá pro sexto mundo, e mesmo com mais da metade do game pra trás o caminho até o final ainda foi permeado de níveis completamente esquecíveis.
Se bem me recordo a série NSMB fica bem melhor no Wii. Acho que em breve saberei se isso também é só uma boa memória.
1993