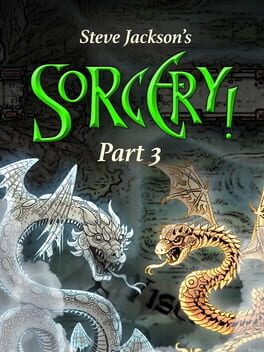lpslucasps
2001
Mais interessante do que eu presumi que seria. Assim como a maioria dos Mega Man portáteis, ele reutiliza conteúdo dos jogos de console. Mas, felizmente, ele pega um pouco do exemplo dos melhores games do robô azul nas telinhas e adiciona seu próprio conteúdo original por cima, manifestado em sua maior parte nos níveis. Alguns estágios são apenas versões remixadas de jogos anteriores, mas outros são bem originais. Blast Hornet, em especial, me parece ser um estágio completamente novo e é bem bom.
Mesmo nos níveis mais idênticos ao visto originalmente nos consoles há ainda uma novidade notável: você pode completá-los com o Zero! Refazer estágios de MMX2 e 3 com ele é um sonho que meu Eu Criança certamente tinha e vê-lo realizado, mesmo que numa versão portátil meio capada, é bem legal.
Infelizmente, fora os níveis, o resto é tudo reaproveitado de jogos anteriores... E nem sempre de maneira otimizada para a tela pequena do GBC. E, pior, ele repete a encheção de linguiça do primeiro Xtreme de te obrigar a zerar o jogo no mínimo três vezes para ver tudo o que ele tem a oferecer. Não obstante, é melhor que o primeiro Xtreme, e uma bom platformer portátil para se jogar em sessões curtas.
Mesmo nos níveis mais idênticos ao visto originalmente nos consoles há ainda uma novidade notável: você pode completá-los com o Zero! Refazer estágios de MMX2 e 3 com ele é um sonho que meu Eu Criança certamente tinha e vê-lo realizado, mesmo que numa versão portátil meio capada, é bem legal.
Infelizmente, fora os níveis, o resto é tudo reaproveitado de jogos anteriores... E nem sempre de maneira otimizada para a tela pequena do GBC. E, pior, ele repete a encheção de linguiça do primeiro Xtreme de te obrigar a zerar o jogo no mínimo três vezes para ver tudo o que ele tem a oferecer. Não obstante, é melhor que o primeiro Xtreme, e uma bom platformer portátil para se jogar em sessões curtas.
1993
Uma transformação criativa e interessante do Mega Man para o gênero de RPG... Com várias arestas a aparar e o mal costume de querer te fazer perder tempo. Um clássico caso de "ótima ideia, execução não tão boa".
Eu gosto bastante do combate, que consegue preservar o foco na movimentação e tiro que o Mega Man é tão conhecido, mas com uma camada tática por cima. Adicione a isso o tempero especial da sorte típico de qualquer deck building. É um resultado bem legal, o que é ótimo porque você passa 90% do tempo do jogo em combate.
O que não gosto tanto é do level/world design. Por mais que a ambientação seja em princípio bacanuda, andar pela internet e as "dungeons" do jogo é um saco. É tudo igual, é confuso de navegar, os puzzles são um saco e você é interrompido toda santa hora por causa dos encontros aleatórios. Pior, em duas oportunidades o game te faz sair no meio da dungeon só para falar com algum NPC aleatório insignificante no "mundo real", para então voltar pra net e refazer a dungeon desde o início.
Mas como primeira entrada numa subsérie de um gênero completamente diferente do que se está acostumado, MMBN mostra bastante potencial - que, pelo o que já li e ouvi falar, é bem aproveitado em entradas futuras.
Eu gosto bastante do combate, que consegue preservar o foco na movimentação e tiro que o Mega Man é tão conhecido, mas com uma camada tática por cima. Adicione a isso o tempero especial da sorte típico de qualquer deck building. É um resultado bem legal, o que é ótimo porque você passa 90% do tempo do jogo em combate.
O que não gosto tanto é do level/world design. Por mais que a ambientação seja em princípio bacanuda, andar pela internet e as "dungeons" do jogo é um saco. É tudo igual, é confuso de navegar, os puzzles são um saco e você é interrompido toda santa hora por causa dos encontros aleatórios. Pior, em duas oportunidades o game te faz sair no meio da dungeon só para falar com algum NPC aleatório insignificante no "mundo real", para então voltar pra net e refazer a dungeon desde o início.
Mas como primeira entrada numa subsérie de um gênero completamente diferente do que se está acostumado, MMBN mostra bastante potencial - que, pelo o que já li e ouvi falar, é bem aproveitado em entradas futuras.
Com certeza um dos Marios de todos os tempos. Qualquer tentativa que essa série tinha de fazer algo novo morreu com o NSMBW, tornando o "New" em seu título um oxímoro. Mas pelo menos não senti a absoluta apatia que tive com NSMB2. Progresso...?
O teoricamente grande ponto positivo desse game é o visual. Esse é, afinal, o primeiro Super Mario em Full HD. Mas, sendo bem sincero, os visuais não fedem nem cheiram. São uma versão ainda mais estéril do visual iniciado no primeiro New Super Mario Bros.
Mesmo que a direção de arte fosse fenomenal, só ser bonito não ajudaria muito o jogo. O gênero de plataforma é um dos que mais consegue utilizar as possibilidades gráficas dos consoles modernos para afetar a experiência de forma substancial e não ficar só no "é, é bonito". Pega qualquer Kirby da vida com seus experimentos malucos com background e foreground pra você ver.
NSMBU é mais do mesmo do mesmo do mesmo. Considerando o histórico inovador da série, isso chega a doer.
O teoricamente grande ponto positivo desse game é o visual. Esse é, afinal, o primeiro Super Mario em Full HD. Mas, sendo bem sincero, os visuais não fedem nem cheiram. São uma versão ainda mais estéril do visual iniciado no primeiro New Super Mario Bros.
Mesmo que a direção de arte fosse fenomenal, só ser bonito não ajudaria muito o jogo. O gênero de plataforma é um dos que mais consegue utilizar as possibilidades gráficas dos consoles modernos para afetar a experiência de forma substancial e não ficar só no "é, é bonito". Pega qualquer Kirby da vida com seus experimentos malucos com background e foreground pra você ver.
NSMBU é mais do mesmo do mesmo do mesmo. Considerando o histórico inovador da série, isso chega a doer.
Não tem nada de tecnicamente errado com esse jogo. Se qualquer coisa, New Super Mario Bros. 2 é um jogo de plataforma bem competente. Visual agradável, música que faz seu trabalho, controles bem precisos e mecânicas sólidas. Só faltou uma coisa: alma. Ele é tão absurdamente genérico e sem nada de especial que jogá-lo me colocou num estado de completa apatia. Nunca um jogo conseguiu desligar meu cérebro de forma tão eficiente. Ao final de minhas jogatinas eu nem chegava a estar entediado... Era como se algumas horas da minha vida simplesmente tivessem passado sem a minha presença.
Eu não lembrava de absolutamente nada desse jogo e agora que zerei de novo (com direito a platina) continuarei não lembrando de nada.
Eu não lembrava de absolutamente nada desse jogo e agora que zerei de novo (com direito a platina) continuarei não lembrando de nada.
2011
3D Land é o puro suco de Mario destilado para caber numa tela portátil. Dá para pegar ele em qualquer momento, qualquer nível, e ter uma sensação de diversão e se sentir satisfeito em coisas de minutos. É como um gerador de gratificação instantânea na palma de suas mãos.
3D Land é também, ao mesmo tempo, originalíssimo e um resgatador de legados. Ele é um novo jeito de se fazer Mario, diferente do visto tanto nos side-scrollers quanto nos 3Ds. Mas ele cria esse novo jeito pegando inspirações fortes dos Marios de NES e GB. Ele é o "verdadeiro" New Super Mario Bros. que New Super Mario Bros. jamais foi.
E, acima de tudo, 3D Land é um jogo bom. Consistentemente bom, do início ao fim. Bom, bom, bom.
Mas não excelente.
Não sei muito bem explicar essa sensação. Me diverti rejogando 3D Land do início ao fim, sem nenhum momento sequer de tédio. Até me espantei com o quão rápido zerei ele - fiz tudo em apenas umas 3 sessões de jogatina, completando de 2 a 3 mundos inteiros de uma vez só. Esse é um jogo muito fácil de pegar e só jogar, jogar, jogar.
Entretanto, se jogar 3D Land foi uma experiência sem vales, também foi sem nenhum pico memorável. E se tem uma coisa que eu sei que essa série é capaz de fazer é criar momentos marcantes de quase êxtase.
Bom em tudo, excelente em nada. Acho que essa é o elogio mais cruel que posso dar a Super Mario 3D Land.
3D Land é também, ao mesmo tempo, originalíssimo e um resgatador de legados. Ele é um novo jeito de se fazer Mario, diferente do visto tanto nos side-scrollers quanto nos 3Ds. Mas ele cria esse novo jeito pegando inspirações fortes dos Marios de NES e GB. Ele é o "verdadeiro" New Super Mario Bros. que New Super Mario Bros. jamais foi.
E, acima de tudo, 3D Land é um jogo bom. Consistentemente bom, do início ao fim. Bom, bom, bom.
Mas não excelente.
Não sei muito bem explicar essa sensação. Me diverti rejogando 3D Land do início ao fim, sem nenhum momento sequer de tédio. Até me espantei com o quão rápido zerei ele - fiz tudo em apenas umas 3 sessões de jogatina, completando de 2 a 3 mundos inteiros de uma vez só. Esse é um jogo muito fácil de pegar e só jogar, jogar, jogar.
Entretanto, se jogar 3D Land foi uma experiência sem vales, também foi sem nenhum pico memorável. E se tem uma coisa que eu sei que essa série é capaz de fazer é criar momentos marcantes de quase êxtase.
Bom em tudo, excelente em nada. Acho que essa é o elogio mais cruel que posso dar a Super Mario 3D Land.
2010
Ainda acho SMG2 melhor que seu antecessor. Mas, ao mesmo tempo, já não o acho mais o supremo jogo de plataforma que achava antes. Talvez ainda meu platformer 3D favorito, mas outros 2D e metroidvanias que joguei nos últimos anos ficam na frente dele quando levo em conta o gênero como um todo.
Claro, é tudo relativo. Se há games que considero melhores que SMG2, não quer dizer que SMG2 não continua sendo um jogo especial. Se qualquer coisa, o fato de ele ainda estar entre meus favoritos de todos os tempos mesmo depois de quase uma década sem platiná-lo é prova de sua qualidade.
Claro, é tudo relativo. Se há games que considero melhores que SMG2, não quer dizer que SMG2 não continua sendo um jogo especial. Se qualquer coisa, o fato de ele ainda estar entre meus favoritos de todos os tempos mesmo depois de quase uma década sem platiná-lo é prova de sua qualidade.
2021
The Forgotten City me acerta em cheio em várias coisas. Para começar na ambientação, que é uma das melhores representações que já vi da cultura romana. Fizeram um fidedigno trabalho antropológico criando personagens cujo comportamento moral esbanja autenticidade. Os devs claramente têm um forte embasamento em retórica, filosofia e política romanas, e souberam utilizá-lo para criar uma narrativa que te prende desde o início.
E te prende até o final também, mas não com a mesma força. Depois de vários tropeços de amadorismo compreensíveis no meio, e seções completamente desnecessárias de ação que não deveriam estar nesse jogo, a conclusão de sua trajetória pela cidade esquecida é... Memorável, mas não exatamente pelos motivos corretos. Mas interessante de qualquer forma. E o posfácio é bem satisfatório!
E te prende até o final também, mas não com a mesma força. Depois de vários tropeços de amadorismo compreensíveis no meio, e seções completamente desnecessárias de ação que não deveriam estar nesse jogo, a conclusão de sua trajetória pela cidade esquecida é... Memorável, mas não exatamente pelos motivos corretos. Mas interessante de qualquer forma. E o posfácio é bem satisfatório!
2023
As duas inspirações mais óbvias se Moonring são Ultima IV: Quest of the Avatar e Rogue. Do primeiro, temos o overworld, o sistema de progressão não-tradicional, a ambientação e quest design; do segundo, as dungeons geradas proceduralmente e o combate tático e dinâmico.
Só por suas influências este jogo já é notável. São pouquíssimos os games que tentam emular a série clássica de Richard Garriot para além da interface... Tão poucos que, sendo bem sincero, só conheço mesmo a série Ultima! Bem, conhecia, porque Moonring faz um excelente trabalho sendo um sucessor espiritual, com bastante foco na conversa com NPCs, bastante exploração das cidades, uma quest com várias pegadas de adventure e um enredo mais filosófico.
Mas por mais que eu ame Ultima por essas coisas, a série é um Oldschool RPG com O maiúsculo, então tem uma boa parcela de combate e dungeon crawling. E Moonring também, mas nesses aspectos sua inspiração é Rogue, não Ultima. Sempre que você entra em uma dungeon o nível é gerado proceduralmente e todo o combate é top-down e por turnos. O gerenciamento de recursos e uso tático de suas habilidades e itens é de suma importância — grindar níveis não é realmente uma opção, e apesar de equipamentos melhores fazerem uma boa diferença, mesmo com o básico do começo do jogo dá pra se virar. Se você morrer, volta pro início e um novo layout da dungeon é gerado. Há variedade o suficiente de inimigos e layouts para não tornar a experiência cansativa e o combate é bem divertido.
O quest e world design de Ultima com o combate e dungeon crawl de Rogue. O melhor de dois mundos. Não tem como dar errado, certo?
... E realmente não dá! Moonring usa suas influências de forma bem consciente para fazer um RPG que poderia muito bem ter saído no início dos anos 1980, mas sempre com sua abordagem única para o resultado ser mais que uma mera cópia. Melhor, mesmo podendo caminhar confortavelmente ao lado de suas inspirações, Moonring não deixa de ser eminentemente moderno, com várias funções que aumentam sua usabilidade para audiências modernas: palavras-chave são marcadas durante o diálogo, há um sistema de notas automáticas muito útil, auto mapping, auto saving, NPCs que você não conversou são marcados, dá pra controlar usando só o mouse ou só teclado, e vários outros toques.
Tudo isso pelo baratíssimo preço de De Graça.
Só por suas influências este jogo já é notável. São pouquíssimos os games que tentam emular a série clássica de Richard Garriot para além da interface... Tão poucos que, sendo bem sincero, só conheço mesmo a série Ultima! Bem, conhecia, porque Moonring faz um excelente trabalho sendo um sucessor espiritual, com bastante foco na conversa com NPCs, bastante exploração das cidades, uma quest com várias pegadas de adventure e um enredo mais filosófico.
Mas por mais que eu ame Ultima por essas coisas, a série é um Oldschool RPG com O maiúsculo, então tem uma boa parcela de combate e dungeon crawling. E Moonring também, mas nesses aspectos sua inspiração é Rogue, não Ultima. Sempre que você entra em uma dungeon o nível é gerado proceduralmente e todo o combate é top-down e por turnos. O gerenciamento de recursos e uso tático de suas habilidades e itens é de suma importância — grindar níveis não é realmente uma opção, e apesar de equipamentos melhores fazerem uma boa diferença, mesmo com o básico do começo do jogo dá pra se virar. Se você morrer, volta pro início e um novo layout da dungeon é gerado. Há variedade o suficiente de inimigos e layouts para não tornar a experiência cansativa e o combate é bem divertido.
O quest e world design de Ultima com o combate e dungeon crawl de Rogue. O melhor de dois mundos. Não tem como dar errado, certo?
... E realmente não dá! Moonring usa suas influências de forma bem consciente para fazer um RPG que poderia muito bem ter saído no início dos anos 1980, mas sempre com sua abordagem única para o resultado ser mais que uma mera cópia. Melhor, mesmo podendo caminhar confortavelmente ao lado de suas inspirações, Moonring não deixa de ser eminentemente moderno, com várias funções que aumentam sua usabilidade para audiências modernas: palavras-chave são marcadas durante o diálogo, há um sistema de notas automáticas muito útil, auto mapping, auto saving, NPCs que você não conversou são marcados, dá pra controlar usando só o mouse ou só teclado, e vários outros toques.
Tudo isso pelo baratíssimo preço de De Graça.
Uma sequência significativamente melhor em tudo. Diferente do primeiro jogo da série New, esse aqui não dá sono e nem ofende suas habilidades com uma dificuldade irrisória. E ainda assim não consideraria um jogo fenomenal - talvez com a solene exceção do coop, que consegue ser surpreendentemente caótico e muitíssimo divertido.
Talvez eu esteja sendo um pouco maldoso com o game e ficando rabugento com o passar dos anos. Lembro que gostava bastante dele quando saiu, e rejogando com o poder da emulação deixando tudo em resolução full HD e rodando lisinho dá para ver que é um game bem bonito e harmonioso, a despeito de sua plataforma. Mas tem Mario que veio antes e depois melhor... E, bem, acho que tem piores também, então NSMBW acaba ficando com distinta distinção de não ter distinção alguma.
Talvez eu esteja sendo um pouco maldoso com o game e ficando rabugento com o passar dos anos. Lembro que gostava bastante dele quando saiu, e rejogando com o poder da emulação deixando tudo em resolução full HD e rodando lisinho dá para ver que é um game bem bonito e harmonioso, a despeito de sua plataforma. Mas tem Mario que veio antes e depois melhor... E, bem, acho que tem piores também, então NSMBW acaba ficando com distinta distinção de não ter distinção alguma.
2017
Mais do mesmo. O que de forma alguma é algo ruim. Assim como seu antecessor, cada mísero frame poderia ser capturado isoladamento e transformado num papel de parede. É um pouco mais curto e mais fácil que o original, mas acho que ninguém joga Monument Valley querendo quebrar a cabeça com puzzles. O negócio aqui é sentir as vibes, e vibes são o que sobram aqui.
2016
Uma conclusão digna da saga. Seu design é mais próximo que o de Sorcery! 2, a começar pelo fato de se passar majoritariamente em uma única cidade, e o sucesso da quest depender principalmente da coleta de informações. Considerando que o segundo game foi meu favorito, isso é algo bem positivo para mim.
Algumas coisas apresentadas no game anterior ganham bem mais espaço aqui e há subversões no plot e mecânicas bem interessantes. No papel tinha tudo para ser o melhor da série e, num sentido puramente técnico, é difícil discordar disso.
Entretanto, ainda acho que o segundo game da série é o melhor, e esse aqui supera os outros por não muito. O problema? A recompensa.
Desde o primeiro game, Sorcery explicitamente deixa várias "sementes" no meio do caminho com a promessa de que veremos seus frutos no capítulo final. Chegado o desfecho da aventura, o resultado é... Não muito impressionante, para ser sincero. Talvez a culpa seja minha e minha experiência esteja sendo prejudicada por expectativas que criei. Talvez eu devesse considerar o jogo sob seus próprios méritos, não a partir daquilo que criei em minha cabeça. Mas talvez também eu pudesse ser um ser humano funcional, e estamos aí.
Dito isso, mesmo colocando minhas expectativas de lado, gostei mais dos encontros e as ramificações narrativas de Sorcery! 2 e até do 3 (que tem outros problemas, mas não vem ao caso). Não que o resultado seja ruim, muito pelo contrário: é uma história bem engajante e que valeu a pena experienciar.
Algumas coisas apresentadas no game anterior ganham bem mais espaço aqui e há subversões no plot e mecânicas bem interessantes. No papel tinha tudo para ser o melhor da série e, num sentido puramente técnico, é difícil discordar disso.
Entretanto, ainda acho que o segundo game da série é o melhor, e esse aqui supera os outros por não muito. O problema? A recompensa.
Desde o primeiro game, Sorcery explicitamente deixa várias "sementes" no meio do caminho com a promessa de que veremos seus frutos no capítulo final. Chegado o desfecho da aventura, o resultado é... Não muito impressionante, para ser sincero. Talvez a culpa seja minha e minha experiência esteja sendo prejudicada por expectativas que criei. Talvez eu devesse considerar o jogo sob seus próprios méritos, não a partir daquilo que criei em minha cabeça. Mas talvez também eu pudesse ser um ser humano funcional, e estamos aí.
Dito isso, mesmo colocando minhas expectativas de lado, gostei mais dos encontros e as ramificações narrativas de Sorcery! 2 e até do 3 (que tem outros problemas, mas não vem ao caso). Não que o resultado seja ruim, muito pelo contrário: é uma história bem engajante e que valeu a pena experienciar.
Tears of the Kingdom corrige vários problemas que eu tinha com o antecessor, repete um bocado deles e cria sua própria parcela de novos problemas. São dez passos para trás para dar 11 pra frente enquanto faz piruetas que não saem do lugar. É impressionante, às vezes um pouco desesperador, mas no final vale a pena, apesar da sensação de "já deu, mas não vamos mais fazer o mesmo de novo, por favor".
Quando analisei Breath of the Wild ano passado disse que o game parecia uma reconstrução incompleta da fórmula clássica de Zelda: ao dissecarem o esquema "Mundo > Templo > Item > Chefe > Repete", parece que os devs focaram a maior parte de suas forças no primeiro elemento ("mundo"), com resultados fantásticos, enquanto no restante dos elementos a sensação de que estávamos vendo algo meramente prototípico ou superficial era incontornável. Para mim o maior sucesso de TotK é ter eliminado de vez essa sensação. Nada aqui é um conceito a ser explorado em jogos futuros: estamos lidando com um game completo, ao ponto de os devs nem estarem planejando um DLC para ele.
Sendo uma sequência direta que utiliza muitos dos recursos e game design do jogo anterior, incluindo todo o mapa, pode até parecer besteira dizer que TotK não tem cara de protótipo. Que ele desenvolveria a base criada por BotW é praticamente uma obviedade. Mas essa obviedade pode esconder um pouco o quanto TotK adicionou e mudou de BotW.
Pra começar, mesmo que a superfície seja a mesma, trata-se de um lugar com mais profundidade — literalmente. A adição de cavernas e poços por todos os cantos enche lugares familiares com novos segredos. Há
Há também uma "profundidade" num sentido muito mais literal: as apropriademente chamadas Profundezas (Depths) um segundo mapa subterrâneo do mesmo tamanho da superfície que a espelha de varias maneiras. As Depths têm a particularidade de serem um breu completo inicialmente, sendo necessário usar plantas luminosas para iluminar o seu caminho, pelo menos até você acionar uma Lightroot que revela grande parte do mapa. Cada Lightroot está diretamente abaixo de um Shrine da superfície. Diferente dos já tradicionais Shrines, não há puzzle com as Lightroots, é só chegar e acionar.
A superfície e as profundezas são duas formas distintas e complementares de exploração. Na superfície temos uma vibe mais tranquila, idêntica àquela do jogo anterior, que recompensa uma exploração mais metódica e detalhada de cada cantinho. No subterrâneo já há uma sensação mais opressiva, seja pelo ambiente trevoso, seja pela nova mecânica de gloom, que diminui sua quantidade máxima de corações. Há apenas o brilho fraco das Lightroots na distância para te guiar e um montão de inimigos no seu caminho.
O subterrâneo é repetitivo e vazio, mas isso não o torna ruim. Explorá-lo é uma ótima forma de desligar o cérebro e toda expedição nele sempre te deixa cheio de recursos no final. É uma mudança de ritmo para quando a superfície começa a ficar meio enjoativa.
E se isso também começar a cansar, temos também as ilhas do céu, provavelmente a adição mais alardeada do jogo. Elas são, de longe, a melhor e mais prazerosa parte de TotK. São muito menores que os outros dois mapas e, quiçá justamente por isso, esbanjam esmero em cada pedacinho. E as vibes delas são imaculadas.
Acaba-se criando um loop bem legal entre Superfície-Subsolo-Céus, cada um com seu estilo e ritmo e você transitando entre eles ao seu bel-prazer. O mais impressionante de tudo é a forma contígua que você transita entre os ambientes. Você pode pegar uma torre na superfície, ir parar lá no céu, então pular de uma ilha flutuante qualquer e fazer skydiving até um chasm e parar lá nas profundezas, tudo isso sem menus ou telas de loading óbvias. O fato disso tudo rodar de forma satisfatória num tablet defasado me deixa embasbacado.
Mais que criar novos mapas, TotK lhe dá novas formas de explorá-los e atravessá-los. Se BotW já era um dos jogos de mundo aberto com melhor sistema de travessia e locomoção que eu tive o prazer de jogar, TotK simplesmente o humilha. Adicionado ao paraglider a a capacidade de escalar praticamente qualquer superfície temos novas habilidades e uma inédita e expansiva mecânica de construção.
As novas habilidades são mais do que apenas uma melhoria das vistas no jogo anterior. Ainda que algumas sejam análogas às antigas (como ultrahand, que têm várias funções da magnesis), o escopo delas e a forma como afetam a exploração do mundo são muito diferentes. Temos Ascend, que é basicamente um cheat de no clip vertical; Recall, que faz objetos "rebobinarem" para posições anteriores; Fuse, que permite fundir armas e escudos com materiais; e Ultrahand, a grande estrela do jogo.
Mesmo horas e horas dentro do jogo alguns usos dessas habilidades continuavam a me surpreender. Quando usei Recall pela primeira vez numa pedra que caiu do céu e fui parar lá na superfície minha cabeça quase explodiu. E combinar Recall e Ascend pode ser uma maneira absurdamente quebrada de se chegar em alguns lugares.
Mas é a Ultrahand mesmo que merece destaque. Ela permite manipular basicamente qualquer objeto do jogo e grudá-los em novas estruturas. Seu uso mais interessante é com os novos Zonai Devices, pequenos objetos tecnológicos com várias funções como ventoinhas ou rodas motorizadas. Com a Ultrahand você pode criar carros, planadores, barcos, armas automáticas, rampas, pontes... Coisas úteis e inúteis, algumas não muito funcionais mas todas interessantes.
No começo do jogo há poucos materiais e você também tem poucas baterias, então o uso de suas criações pode der um tanto limitado e pontual. Mas o jogo te dá várias formas de lidar com as limitações iniciais, por exemplo com baterias extra pequenas e grandes que são bem comuns, ou zonai charges, sem contar que aumentar dua bateria base não é difícil ou demorado. Em pouco tempo seu limite se torna apenas sua imaginação.
Suas criações são usadas principalmente em dois contextos: para de locomover no mundo e para solucionar puzzles em shrines e cavernas. E nesse último que o jogo recebeu sua maior e imho mais positiva mudança.
BotW teve a ideia transformar os templos em shrines, basicamente pulverizando os desafios e puzzles dos jogos anteriores da franquia por todo o mapa. Os resultados foram duvidosos, pra dizer o mínimo, com vários shrines sendo chatos ou esquecíveis. TotK segue com o conceito de shrines, mas tem a ousada ideia de mudar completamente dua abordagem em relação aos puzzles e desafios que eles abrigam. Enquanto em BotW o objetivo dos shrines era solucionar um puzzle, em TotK o objetivo é construir soluções para um problema. Foco na palavra "construir". Raramente os problemas que você vai encontrar têm uma única solução e mesmo que o jogo tente te guiar para uma solução ótima ou óbvia nada te impede de usar as habilidades e construções para criar soluções alternativas. O mais divertido é achar uma solução "roubada" ou, melhor ainda, fazer alguma gambiarra que por um milagre funciona.
Assim como em BotW há shrines não focados em puzzles, e sim no combate. Aqui também houve uma melhora sensível. Em vez de exatamente o mesmo inimigo, os shrines de combate de TotK têm uma variedade bem maior e, para completar, costumam ter algum "tema" interessante para te incentivar a usar suas habilidades novas, como criar veículos de combate ou criar armadilhas. Ou se você quiser pode só ir na força bruta mesmo — o jogo não vai te impedir e respeito a beça isso.
Outra forma de shrine, e uma de minha favoritas, são os cristais. É um conceito bem simples: leve o cristal que está no ponto A até a entrada do shrine e pegue sua recompensa. Mas o cristal, além de pesado, costuma estar em lugar inacessível. O desafio é criar um veículo e pensar na travessia, e normalmente só usar seu veículo favorito (cof cof, hoverbik, cof) não costuma funcionar.
Essa nova abordagem de "construa uma solução" em vez de "ache uma solução" não se limita aos shrines. Tomemos os koroks como exemplo. Apesar de ainda existirem vários (leia-se: 800) koroks que funcionam como em BotW, há a adição se 100 "pares de koroks". Enquanto no primeiro caso o objetivo é simplesmente achá-los, no segundo sua missão é unir dois koroks que foram separados. Eles costumam ficar beeeeem longe um do outro, ou separados por rios ou montanhas, exigindo que você utilize os zonai devices (normalmente convenientemente próximos) para transportá-los de forma minimamente eficiente.
Até o combate segue essa nova abordagem de deixar as coisas nas suas mãos. Se no jogo anterior encontrar armas decentes era algo essencial, aqui você deve construí-las. Todo monstro costuma deixar como loot garras ou chifres que você pode combinar com armas e escudos para criar algo pelo menos decente. Quanto mais forte o monstro, melhor o material que ele deixa, criando um feedback loop positivo e um sistema de escalamento de dificuldade relativamente dinâmico.
Muita gente criticou a inabilidade de se fundir materiais diretamente do menu, mas creio que poder fazer isso seria contraproducente para o design do jogo. Veja bem, a forma meio ineficiente de se fundir armas, tendo que derrubar o item no chão e usar a habilidade Fuse em tempo real, significa que você tem que se preparar para o combate. É bem verdade que o jogo é fácil demais para que tenha qualquer nível de preparação essencial como vemos em Witcher, mas a preparação, seja na forma de armas fundidas ou até as receitas do jogo anterior é parte essencial do combate e algo que o impede de ser totalmente trivial.
(Dito isso: poucos jogos poderiam se aproveitar mais de uma dificuldade ajustável como BotW e TotK)
Em suma, os novos mapas, ambientes, habilidades e abordagens de TotK transformam o que era um conceito em BotW em algo completamente realizado.
Infelizmente, como dito na introdução, houve também repetição de erros e até alguns regressos.
O maior problema de BotW que se repete em TotK é, com certeza, a falta de recompensas decentes. Abrir um baú para conseguir apenas uma safira ou um escudo que vai quebrar depois de meio combate era chato em 2017 e continua sendo chato em 2023.
Pior, nem dá para dizer que TotK te dá recompensas narrativas porque, assim como o jogo anterior, as sidequests são bem ruins. Para ser justo, digo "assim como o jogo anterior" mas as sidequests de TotK são bem diferentes qualitativamente falando... Pra pior e pra melhor. Se por um lado temos algumas questlines bem interessantes e mais encorpadas do que víamos em Bot, como a de Hateno, por outro a quantidade de quests que se resumem a "vai até tal lugar, tira uma foto e me mostra" é criminal. E em alguns aspectos BotW era claramente melhor, como nas criativas shrine quests de Eventide Island ou Typhlo Ruins que não têm nada similar em TotK.
E assim como BotW, TotK tem um escopo grande demais para seu bem — algo aqui potencializado pela presença de dois novos mapas. Esse mundo gigante acaba sendo preenchido com muito conteúdo repetitivo: koroks e bubble gems em especial. Até certo ponto eu até defendo essa repetição e acho que faz sentido. A ideia, ao meu ver, é garantir que não importa aonde você vá, ou o quanto queira explorar, vai sempre encontrar um mínimo de shrines/koroks/gemas/etc para progredir nos heart containers/stamina/slots de equipamento/etc de forma razoável. Você não precisa explorar cada cantinho do mundo buscando todos 1000 koroks para aumentar o inventário para um tamanho decente, é só explorar o que te interessa que naturalmente vai encontrar o suficiente. Mas tudo na vida tem um limite e, se por um lado essa rede imensa garante que qualquer jogador fará um progresso razoável no jogo, por outro ela pune platinadores com puro tédio — e no caso dos koroks ainda te zoa te dando literal merda por seu trabalho.
Mas, de longe, o maior problema de TotK é sua narrativa fraquíssima. Esse eu diria que é um problema novo. BotW tinha uma narrativa enganosamente simples, com o setting originalíssimo de um pós-apocalipse verdejante em vez do típico cinza e decaído. TotK é uma ambientação fantasiosa bem mais padrão, que não é por si só ruim, mas dá vários tropeços no meio do caminho por ser todo mundo simplesmente burro. Meu Deus. Como o povo de Hyrule é burro.
O que mais me frustra é como quase todos os problemas narrativos de TotK seriam resolvidos com uma simples mudança: em vez de você jogar como Link no presente, o jogo deveria ser protagonizado pela titular princesa Zelda no passado. Pensem bem. Essa mudança permitiria reutilizar a geometria geral de Hyrule mas com várias mudanças na localização de cidades e raças. Além disso, as mecânicas da Ultrahand seriam um encaixe perfeito para a Zelda, que já tem essa pegada meio cientista do jogo anterior. E, por fim, todo o plot de gente burra ficando chocado que a Zelda Falsa é uma Zelda Falsa poderia ser evitado, já que no passado ninguém conhece a princesa.
Mas deslizes à parte, eu gastei bem mais tempo em TotK (173h) em que em BotW (71h), e basicamente platinei o garoto (todos minichefes, cavernas, placas do hudson, armas únicas, armaduras, compendium, pares de koroks, side adventures e quests, shrines e lightroots). Então, apesar dos pesares, alguma coisa de correto o jogo fez certo.
Quando analisei Breath of the Wild ano passado disse que o game parecia uma reconstrução incompleta da fórmula clássica de Zelda: ao dissecarem o esquema "Mundo > Templo > Item > Chefe > Repete", parece que os devs focaram a maior parte de suas forças no primeiro elemento ("mundo"), com resultados fantásticos, enquanto no restante dos elementos a sensação de que estávamos vendo algo meramente prototípico ou superficial era incontornável. Para mim o maior sucesso de TotK é ter eliminado de vez essa sensação. Nada aqui é um conceito a ser explorado em jogos futuros: estamos lidando com um game completo, ao ponto de os devs nem estarem planejando um DLC para ele.
Sendo uma sequência direta que utiliza muitos dos recursos e game design do jogo anterior, incluindo todo o mapa, pode até parecer besteira dizer que TotK não tem cara de protótipo. Que ele desenvolveria a base criada por BotW é praticamente uma obviedade. Mas essa obviedade pode esconder um pouco o quanto TotK adicionou e mudou de BotW.
Pra começar, mesmo que a superfície seja a mesma, trata-se de um lugar com mais profundidade — literalmente. A adição de cavernas e poços por todos os cantos enche lugares familiares com novos segredos. Há
Há também uma "profundidade" num sentido muito mais literal: as apropriademente chamadas Profundezas (Depths) um segundo mapa subterrâneo do mesmo tamanho da superfície que a espelha de varias maneiras. As Depths têm a particularidade de serem um breu completo inicialmente, sendo necessário usar plantas luminosas para iluminar o seu caminho, pelo menos até você acionar uma Lightroot que revela grande parte do mapa. Cada Lightroot está diretamente abaixo de um Shrine da superfície. Diferente dos já tradicionais Shrines, não há puzzle com as Lightroots, é só chegar e acionar.
A superfície e as profundezas são duas formas distintas e complementares de exploração. Na superfície temos uma vibe mais tranquila, idêntica àquela do jogo anterior, que recompensa uma exploração mais metódica e detalhada de cada cantinho. No subterrâneo já há uma sensação mais opressiva, seja pelo ambiente trevoso, seja pela nova mecânica de gloom, que diminui sua quantidade máxima de corações. Há apenas o brilho fraco das Lightroots na distância para te guiar e um montão de inimigos no seu caminho.
O subterrâneo é repetitivo e vazio, mas isso não o torna ruim. Explorá-lo é uma ótima forma de desligar o cérebro e toda expedição nele sempre te deixa cheio de recursos no final. É uma mudança de ritmo para quando a superfície começa a ficar meio enjoativa.
E se isso também começar a cansar, temos também as ilhas do céu, provavelmente a adição mais alardeada do jogo. Elas são, de longe, a melhor e mais prazerosa parte de TotK. São muito menores que os outros dois mapas e, quiçá justamente por isso, esbanjam esmero em cada pedacinho. E as vibes delas são imaculadas.
Acaba-se criando um loop bem legal entre Superfície-Subsolo-Céus, cada um com seu estilo e ritmo e você transitando entre eles ao seu bel-prazer. O mais impressionante de tudo é a forma contígua que você transita entre os ambientes. Você pode pegar uma torre na superfície, ir parar lá no céu, então pular de uma ilha flutuante qualquer e fazer skydiving até um chasm e parar lá nas profundezas, tudo isso sem menus ou telas de loading óbvias. O fato disso tudo rodar de forma satisfatória num tablet defasado me deixa embasbacado.
Mais que criar novos mapas, TotK lhe dá novas formas de explorá-los e atravessá-los. Se BotW já era um dos jogos de mundo aberto com melhor sistema de travessia e locomoção que eu tive o prazer de jogar, TotK simplesmente o humilha. Adicionado ao paraglider a a capacidade de escalar praticamente qualquer superfície temos novas habilidades e uma inédita e expansiva mecânica de construção.
As novas habilidades são mais do que apenas uma melhoria das vistas no jogo anterior. Ainda que algumas sejam análogas às antigas (como ultrahand, que têm várias funções da magnesis), o escopo delas e a forma como afetam a exploração do mundo são muito diferentes. Temos Ascend, que é basicamente um cheat de no clip vertical; Recall, que faz objetos "rebobinarem" para posições anteriores; Fuse, que permite fundir armas e escudos com materiais; e Ultrahand, a grande estrela do jogo.
Mesmo horas e horas dentro do jogo alguns usos dessas habilidades continuavam a me surpreender. Quando usei Recall pela primeira vez numa pedra que caiu do céu e fui parar lá na superfície minha cabeça quase explodiu. E combinar Recall e Ascend pode ser uma maneira absurdamente quebrada de se chegar em alguns lugares.
Mas é a Ultrahand mesmo que merece destaque. Ela permite manipular basicamente qualquer objeto do jogo e grudá-los em novas estruturas. Seu uso mais interessante é com os novos Zonai Devices, pequenos objetos tecnológicos com várias funções como ventoinhas ou rodas motorizadas. Com a Ultrahand você pode criar carros, planadores, barcos, armas automáticas, rampas, pontes... Coisas úteis e inúteis, algumas não muito funcionais mas todas interessantes.
No começo do jogo há poucos materiais e você também tem poucas baterias, então o uso de suas criações pode der um tanto limitado e pontual. Mas o jogo te dá várias formas de lidar com as limitações iniciais, por exemplo com baterias extra pequenas e grandes que são bem comuns, ou zonai charges, sem contar que aumentar dua bateria base não é difícil ou demorado. Em pouco tempo seu limite se torna apenas sua imaginação.
Suas criações são usadas principalmente em dois contextos: para de locomover no mundo e para solucionar puzzles em shrines e cavernas. E nesse último que o jogo recebeu sua maior e imho mais positiva mudança.
BotW teve a ideia transformar os templos em shrines, basicamente pulverizando os desafios e puzzles dos jogos anteriores da franquia por todo o mapa. Os resultados foram duvidosos, pra dizer o mínimo, com vários shrines sendo chatos ou esquecíveis. TotK segue com o conceito de shrines, mas tem a ousada ideia de mudar completamente dua abordagem em relação aos puzzles e desafios que eles abrigam. Enquanto em BotW o objetivo dos shrines era solucionar um puzzle, em TotK o objetivo é construir soluções para um problema. Foco na palavra "construir". Raramente os problemas que você vai encontrar têm uma única solução e mesmo que o jogo tente te guiar para uma solução ótima ou óbvia nada te impede de usar as habilidades e construções para criar soluções alternativas. O mais divertido é achar uma solução "roubada" ou, melhor ainda, fazer alguma gambiarra que por um milagre funciona.
Assim como em BotW há shrines não focados em puzzles, e sim no combate. Aqui também houve uma melhora sensível. Em vez de exatamente o mesmo inimigo, os shrines de combate de TotK têm uma variedade bem maior e, para completar, costumam ter algum "tema" interessante para te incentivar a usar suas habilidades novas, como criar veículos de combate ou criar armadilhas. Ou se você quiser pode só ir na força bruta mesmo — o jogo não vai te impedir e respeito a beça isso.
Outra forma de shrine, e uma de minha favoritas, são os cristais. É um conceito bem simples: leve o cristal que está no ponto A até a entrada do shrine e pegue sua recompensa. Mas o cristal, além de pesado, costuma estar em lugar inacessível. O desafio é criar um veículo e pensar na travessia, e normalmente só usar seu veículo favorito (cof cof, hoverbik, cof) não costuma funcionar.
Essa nova abordagem de "construa uma solução" em vez de "ache uma solução" não se limita aos shrines. Tomemos os koroks como exemplo. Apesar de ainda existirem vários (leia-se: 800) koroks que funcionam como em BotW, há a adição se 100 "pares de koroks". Enquanto no primeiro caso o objetivo é simplesmente achá-los, no segundo sua missão é unir dois koroks que foram separados. Eles costumam ficar beeeeem longe um do outro, ou separados por rios ou montanhas, exigindo que você utilize os zonai devices (normalmente convenientemente próximos) para transportá-los de forma minimamente eficiente.
Até o combate segue essa nova abordagem de deixar as coisas nas suas mãos. Se no jogo anterior encontrar armas decentes era algo essencial, aqui você deve construí-las. Todo monstro costuma deixar como loot garras ou chifres que você pode combinar com armas e escudos para criar algo pelo menos decente. Quanto mais forte o monstro, melhor o material que ele deixa, criando um feedback loop positivo e um sistema de escalamento de dificuldade relativamente dinâmico.
Muita gente criticou a inabilidade de se fundir materiais diretamente do menu, mas creio que poder fazer isso seria contraproducente para o design do jogo. Veja bem, a forma meio ineficiente de se fundir armas, tendo que derrubar o item no chão e usar a habilidade Fuse em tempo real, significa que você tem que se preparar para o combate. É bem verdade que o jogo é fácil demais para que tenha qualquer nível de preparação essencial como vemos em Witcher, mas a preparação, seja na forma de armas fundidas ou até as receitas do jogo anterior é parte essencial do combate e algo que o impede de ser totalmente trivial.
(Dito isso: poucos jogos poderiam se aproveitar mais de uma dificuldade ajustável como BotW e TotK)
Em suma, os novos mapas, ambientes, habilidades e abordagens de TotK transformam o que era um conceito em BotW em algo completamente realizado.
Infelizmente, como dito na introdução, houve também repetição de erros e até alguns regressos.
O maior problema de BotW que se repete em TotK é, com certeza, a falta de recompensas decentes. Abrir um baú para conseguir apenas uma safira ou um escudo que vai quebrar depois de meio combate era chato em 2017 e continua sendo chato em 2023.
Pior, nem dá para dizer que TotK te dá recompensas narrativas porque, assim como o jogo anterior, as sidequests são bem ruins. Para ser justo, digo "assim como o jogo anterior" mas as sidequests de TotK são bem diferentes qualitativamente falando... Pra pior e pra melhor. Se por um lado temos algumas questlines bem interessantes e mais encorpadas do que víamos em Bot, como a de Hateno, por outro a quantidade de quests que se resumem a "vai até tal lugar, tira uma foto e me mostra" é criminal. E em alguns aspectos BotW era claramente melhor, como nas criativas shrine quests de Eventide Island ou Typhlo Ruins que não têm nada similar em TotK.
E assim como BotW, TotK tem um escopo grande demais para seu bem — algo aqui potencializado pela presença de dois novos mapas. Esse mundo gigante acaba sendo preenchido com muito conteúdo repetitivo: koroks e bubble gems em especial. Até certo ponto eu até defendo essa repetição e acho que faz sentido. A ideia, ao meu ver, é garantir que não importa aonde você vá, ou o quanto queira explorar, vai sempre encontrar um mínimo de shrines/koroks/gemas/etc para progredir nos heart containers/stamina/slots de equipamento/etc de forma razoável. Você não precisa explorar cada cantinho do mundo buscando todos 1000 koroks para aumentar o inventário para um tamanho decente, é só explorar o que te interessa que naturalmente vai encontrar o suficiente. Mas tudo na vida tem um limite e, se por um lado essa rede imensa garante que qualquer jogador fará um progresso razoável no jogo, por outro ela pune platinadores com puro tédio — e no caso dos koroks ainda te zoa te dando literal merda por seu trabalho.
Mas, de longe, o maior problema de TotK é sua narrativa fraquíssima. Esse eu diria que é um problema novo. BotW tinha uma narrativa enganosamente simples, com o setting originalíssimo de um pós-apocalipse verdejante em vez do típico cinza e decaído. TotK é uma ambientação fantasiosa bem mais padrão, que não é por si só ruim, mas dá vários tropeços no meio do caminho por ser todo mundo simplesmente burro. Meu Deus. Como o povo de Hyrule é burro.
O que mais me frustra é como quase todos os problemas narrativos de TotK seriam resolvidos com uma simples mudança: em vez de você jogar como Link no presente, o jogo deveria ser protagonizado pela titular princesa Zelda no passado. Pensem bem. Essa mudança permitiria reutilizar a geometria geral de Hyrule mas com várias mudanças na localização de cidades e raças. Além disso, as mecânicas da Ultrahand seriam um encaixe perfeito para a Zelda, que já tem essa pegada meio cientista do jogo anterior. E, por fim, todo o plot de gente burra ficando chocado que a Zelda Falsa é uma Zelda Falsa poderia ser evitado, já que no passado ninguém conhece a princesa.
Mas deslizes à parte, eu gastei bem mais tempo em TotK (173h) em que em BotW (71h), e basicamente platinei o garoto (todos minichefes, cavernas, placas do hudson, armas únicas, armaduras, compendium, pares de koroks, side adventures e quests, shrines e lightroots). Então, apesar dos pesares, alguma coisa de correto o jogo fez certo.
2000
Terminei a campanha do X há alguns dias atrás (21) e logo depois comecei a campanha do Zero e... Depois de brincar um pouco, desanimei. Acho que o fato de eu não ter animado de zerar com os dois personagens (zerar com o Zero?) deixa claro a diferença de qualidade de X5 para X4.
Eu gosto de X5 em princípio. Além de trazer um monte de mecânicas novas para a fórmula de MMX, ele se joga com tudo na ideia de ser o desfecho (trágico) da saga de Zero e X, algo que é expresso ludonarrativamente nas mecânicas e exposição de maneira até que bem efetiva.
O problema é algo mais básico. Literalmente as bases da série: level-design interessante e chefões legais. Não tenho saco ou envergadura moral para fazer uma análise profunda, então vai uma mequetrefe mesmo: os níveis são chatinhos e os chefões meh, diferente do que se espera em Mega Man. O resultado final é um game que se esforça para fazer algo novo, e diria que até sucede, mas falha peca no básico.
Eu gosto de X5 em princípio. Além de trazer um monte de mecânicas novas para a fórmula de MMX, ele se joga com tudo na ideia de ser o desfecho (trágico) da saga de Zero e X, algo que é expresso ludonarrativamente nas mecânicas e exposição de maneira até que bem efetiva.
O problema é algo mais básico. Literalmente as bases da série: level-design interessante e chefões legais. Não tenho saco ou envergadura moral para fazer uma análise profunda, então vai uma mequetrefe mesmo: os níveis são chatinhos e os chefões meh, diferente do que se espera em Mega Man. O resultado final é um game que se esforça para fazer algo novo, e diria que até sucede, mas falha peca no básico.
2015
Sorcery! 3 continua a fórmula dos outros dois, mas num mapa bem maior e mecânicas mais complexas. Isso não é algo inteiramente positivo. Se as Baklands são maiores que Kharé, também senti que são menos interessantes de explorar. Particularmente, as várias micro-decisões e caminhos alternativos que você fazia tanto no jogo anterior parecem ter tomado uma abordagem mais linear aqui, e tive bem menos ânimo de tentar rebobinar ações e ver as diferenças possíveis. Kharé era mais enxuta, mas também mais densa e com vários eventos e personagens que atiçavam bem mais minha curiosidade.
O foco do 3 é menos nas pequenas decisões e mais numa trama e objetivos maiores, que o jogo deixa bem claros desde o início: encontre e aniquile as "Sete Serpentes" em seu caminho até Mampang. Algo interessante é que no final de sua aventura o jogo acaba subvertendo um pouco esse próprio objetivo, fazendo-lhe refletir sobre as ações que tomou no decorrer da jornada - dependendo do caso, você pode até ser motivado a refazer a aventura toda só para ver se consegue um caminho mais otimizado, ou realizando menos sacrifícios.
Inclusive, eu chegue a fazer isso, resetando o game depois de minha primeira playthrough para ver se conseguia um desempenho melhor. Mas isso foi muito mais motivado pelo receio de me arrepender no jogo seguinte do que realmente um desejo intrínseco de jogar mais, e aí mora um grande problema. Apesar de ser bem interessante, no final Sorcery! 3 acaba sofrendo de um problema parecido com o primeiro jogo: há muitas escolhas, mas as consequências estão reservadas para o game seguinte. E se Sorcery! 2 conseguia contornar esse problema criando uma subtrama para a cidade de Kharé bem fechadinha e interessante, aqui a sensação ao final é incontornavelmente de "vamos ver o que vai acontecer no jogo seguinte".
O foco do 3 é menos nas pequenas decisões e mais numa trama e objetivos maiores, que o jogo deixa bem claros desde o início: encontre e aniquile as "Sete Serpentes" em seu caminho até Mampang. Algo interessante é que no final de sua aventura o jogo acaba subvertendo um pouco esse próprio objetivo, fazendo-lhe refletir sobre as ações que tomou no decorrer da jornada - dependendo do caso, você pode até ser motivado a refazer a aventura toda só para ver se consegue um caminho mais otimizado, ou realizando menos sacrifícios.
Inclusive, eu chegue a fazer isso, resetando o game depois de minha primeira playthrough para ver se conseguia um desempenho melhor. Mas isso foi muito mais motivado pelo receio de me arrepender no jogo seguinte do que realmente um desejo intrínseco de jogar mais, e aí mora um grande problema. Apesar de ser bem interessante, no final Sorcery! 3 acaba sofrendo de um problema parecido com o primeiro jogo: há muitas escolhas, mas as consequências estão reservadas para o game seguinte. E se Sorcery! 2 conseguia contornar esse problema criando uma subtrama para a cidade de Kharé bem fechadinha e interessante, aqui a sensação ao final é incontornavelmente de "vamos ver o que vai acontecer no jogo seguinte".