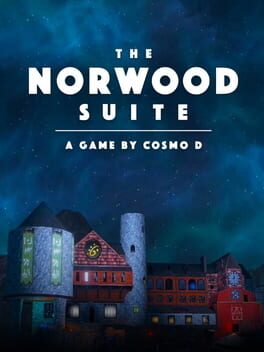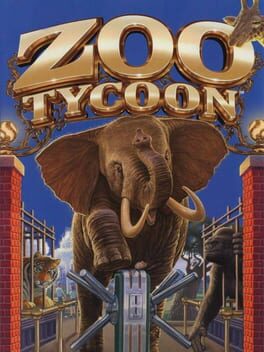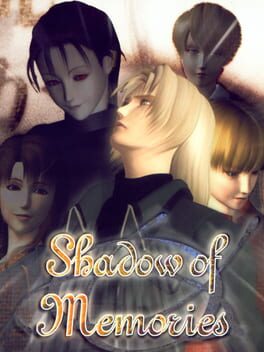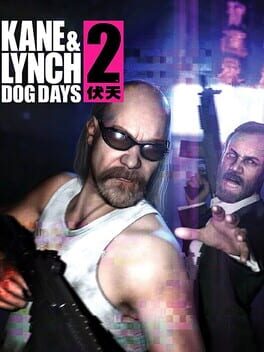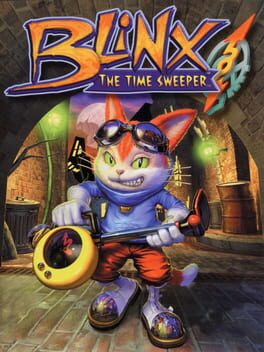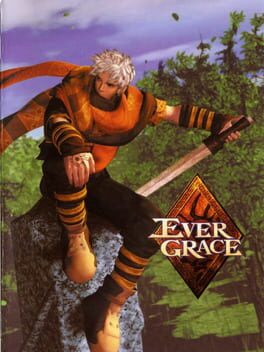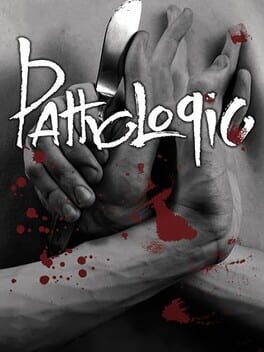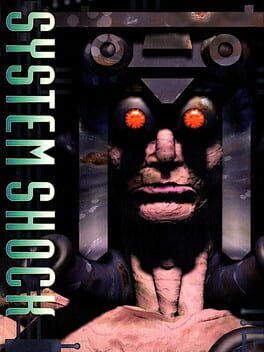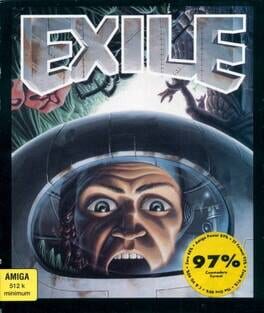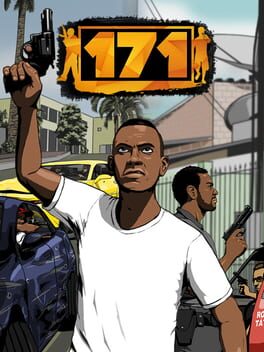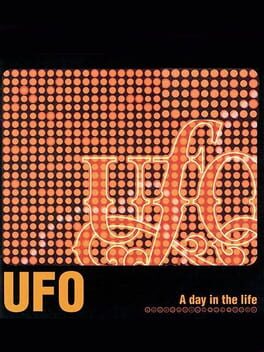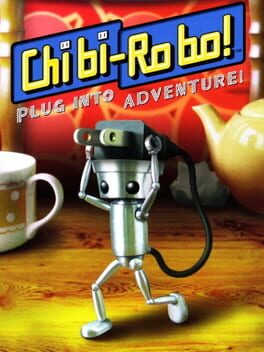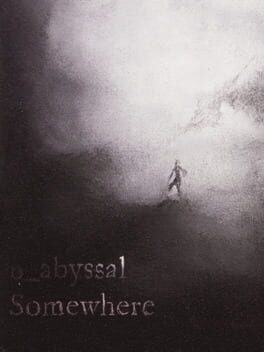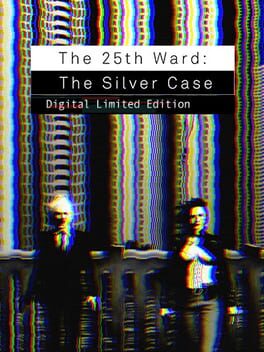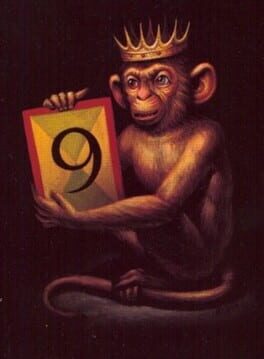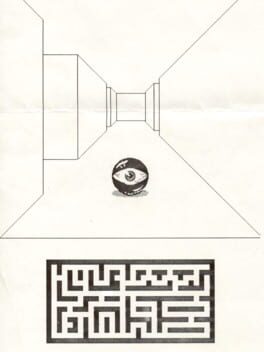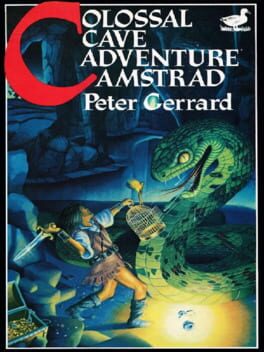Ayla771
48 reviews liked by Ayla771
Elden Ring
2022
Com o anuncio da DLC e agora investindo tempo em uma nova plataforma dois anos após o lançamento de Elden Ring eu revisito o jogo.
Minha primeira experiencia com o jogo foi maravilhosa, sem ver nenhum trailer, não jogando o closed beta, eu fui completamente cego para essa jornada nas terras intermédias, o que é interessante pensar agora em retrospecto, visto que elden ring é um catalisador para que eu me emancipe da cultura do hype. E ainda que assim que finalizei o jogo pela primeira vez, o mesmo hype talvez tenha maculado minha opinião e fechado meus olhos para alguns problemas desse jogo.
E agora, 2 anos depois, outra mentalidade, eu digo, Elden Ring é um jogo digo de nota, mas com ressalvas:
Diferente da primeira vez, eu não terminei o jogo exausto, talvez por eu saber as coisas a se fazer e ter tornado a minha jogatina muito mais objetiva, mas após Limgrave o jogo perde muito do brilho no level design.
Liurnia foi um um mapa que se tornou desinteressante com o tempo, um mapa aparentemente vazio (mesmo que exista coisinhas aqui e ali pra se ver) tornava a travessia monótona. E aqui fica claro, a From Software tem consciência que seu ponto forte sempre foram as áreas fechadas mas o excesso em alguns mapas me afastavam da exploração.
Alguns chefes aqui desse jogo eram os meus favoritos há 2 anos atrás, mas enfrentar Malenia e Elden Beast novamente me fizeram por as cosias em perspectiva:
- Por mais que a Malenia seja um boss interessante, ainda tem um incomodo por sua natureza agressiva a chefe tenha dois golpes que possam ser fatais para um tentativa e você deve torcer para que ela não faça ou você precisa arranjar alguma maneira de ter um luta injusta (para ela)
- A Elden Beast tem quase o mesmo problema, mas com um outro agravante - ela foge da batalha - eu particularmente acho lindo como o jogo tenta trabalhar a ideia da manutenção do status quo daquele mundo dentro do moveset desse chefe, mas ainda é um parto lutar contra Elden Beast. Além dos projeteis que seguem, o chefe se distancia da luta inúmeras vezes o que é uma contravenção dos conceitos de um soulslike, mas eu genuinamente acho entediante ter que correr a área inteira em busca de uma chance de acertar um único golpe mas perder essa chance pois o chefe já mergulhou na agua e está do outro lado]
No fim, minha jogar Elden Ring me fez questionar sobre como nos comportamos e nos relacionamos com a mídia videogames, tanto de forma positiva quanto negativa, foi bom revisitar, o saldo é positivo, mas talvez quem tenha mudado nessa historia tenha sido eu.
Minha primeira experiencia com o jogo foi maravilhosa, sem ver nenhum trailer, não jogando o closed beta, eu fui completamente cego para essa jornada nas terras intermédias, o que é interessante pensar agora em retrospecto, visto que elden ring é um catalisador para que eu me emancipe da cultura do hype. E ainda que assim que finalizei o jogo pela primeira vez, o mesmo hype talvez tenha maculado minha opinião e fechado meus olhos para alguns problemas desse jogo.
E agora, 2 anos depois, outra mentalidade, eu digo, Elden Ring é um jogo digo de nota, mas com ressalvas:
Diferente da primeira vez, eu não terminei o jogo exausto, talvez por eu saber as coisas a se fazer e ter tornado a minha jogatina muito mais objetiva, mas após Limgrave o jogo perde muito do brilho no level design.
Liurnia foi um um mapa que se tornou desinteressante com o tempo, um mapa aparentemente vazio (mesmo que exista coisinhas aqui e ali pra se ver) tornava a travessia monótona. E aqui fica claro, a From Software tem consciência que seu ponto forte sempre foram as áreas fechadas mas o excesso em alguns mapas me afastavam da exploração.
Alguns chefes aqui desse jogo eram os meus favoritos há 2 anos atrás, mas enfrentar Malenia e Elden Beast novamente me fizeram por as cosias em perspectiva:
- Por mais que a Malenia seja um boss interessante, ainda tem um incomodo por sua natureza agressiva a chefe tenha dois golpes que possam ser fatais para um tentativa e você deve torcer para que ela não faça ou você precisa arranjar alguma maneira de ter um luta injusta (para ela)
- A Elden Beast tem quase o mesmo problema, mas com um outro agravante - ela foge da batalha - eu particularmente acho lindo como o jogo tenta trabalhar a ideia da manutenção do status quo daquele mundo dentro do moveset desse chefe, mas ainda é um parto lutar contra Elden Beast. Além dos projeteis que seguem, o chefe se distancia da luta inúmeras vezes o que é uma contravenção dos conceitos de um soulslike, mas eu genuinamente acho entediante ter que correr a área inteira em busca de uma chance de acertar um único golpe mas perder essa chance pois o chefe já mergulhou na agua e está do outro lado]
No fim, minha jogar Elden Ring me fez questionar sobre como nos comportamos e nos relacionamos com a mídia videogames, tanto de forma positiva quanto negativa, foi bom revisitar, o saldo é positivo, mas talvez quem tenha mudado nessa historia tenha sido eu.
Max Payne 3
2012
Metal Gear Solid
1998
Final Fantasy IV
2007
Final Fantasy IV pode ser debatido como o jogo mais importante da franquia, ao menos dentro dela mesma, mesmo com diversas entradas, cada uma sendo muito única, o IV ainda é mantido vivo em todos. Inclusive o meu título favorito da série e o mais recente quando estou escrevendo isso, o Final Fantasy XVI que usa o IV na intenção de subverter diversos dos seus plots como o tema de irmandade dentro do jogo, que de forma análoga cria uma história de redenção para Golbez/Clive onde ele aceita a verdade por trás de seu passado obscuro e da sua relação com seu irmão, o final de ambos os jogos tem diversas semelhanças em plot, não quero entrar em spoilers pesados de ambos os jogos, mas para além dos paralelos nos jogos mais recentes da franquia, o IV cria a base de uma história mais dubia e cinza, refletindo sobre o maniqueísmo inicial da franquia e ainda assim mantendo essas bases dicotômicas na relação entre bem e mal. É um jogo que acima de tudo explora humanos como humanos, como seres complexos que são ambíguos, e explora isso abordando temas como colonialismo, genocídio, preconceito, luto e acima de tudo redenção, Final Fantasy IV é sobre mostrar que não somos definidos por onde nascemos, é um de nossos traços, sempre estamos abertos a mudanças e precisamos dessas mudanças sejam elas felizes ou tristes.
O 3D Remake eu considero uma excelente forma de experienciar esse clássico, além de diversas melhorias de qualidade de vida, ele ainda tem uma direção muito apropriada para as cenas do jogo e a dublagem ajuda muito nisso.
O 3D Remake eu considero uma excelente forma de experienciar esse clássico, além de diversas melhorias de qualidade de vida, ele ainda tem uma direção muito apropriada para as cenas do jogo e a dublagem ajuda muito nisso.
“Tornar-se um artista não significa meramente aprender algo, adquirir técnicas e métodos profissionais. Na verdade, como alguém disse, para escrever bem é preciso esquecer a gramática.”
Existe um viés na comunidade gamer, que é podre. Numa mídia, nascida dentro do capitalismo, muito mais jovem que o cinema, onde seus movimentos, raros, mas existentes, não passam de 10 anos, em videogame, são ainda mais raros e curtos. Não me interesso, nesse momento, em tentar fazer uma análise histórica material disso, mas o ponto é que basta um jogo minimamente diferente, para um grupo, vim defendê-lo com unhas e dentes. Faça uma análise florida, subjetiva no sentido mais distorcido possível, em outras palavras, invente coisas que não existem no jogo. Pronto, agora você tem reviews como: esse jogo é horrível, mas é de proposito, então é bom.
As pessoas, consciente ou não, buscam, desde que o primeiro ser humano aprendeu a rasurar a parede, representar a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues. Portanto, o cinema, com sua capacidade de mostrar a vida em movimento, ganhou um bloqueio, por ser a arte que melhor responde esse mito; porém, numa sociedade de um capitalismo tardio ou pós-moderno, a simulação vira o ponto central: óculos de realidade aumentada, metaverso e outras porcarias tecnológicas. Nesse contexto, videogame é a simulação (quase) perfeita da vida.
Essa questão, da busca pela realidade perfeita, gerou um avanço tecnológico na mídia, que em menos de 50 anos, já tinha capacidade de emular, em quase perfeição, a vida. Não é à toa, que jogos como The Sims e SimCity, fizeram tanto sucesso. Porém, essa aceleração técnica, evidenciou ainda mais uma característica da arte: toda técnica é fruto de um tempo e contexto.
Ou seja, o jogo lançado hoje, é, tecnicamente, datado. Então, é impossível falar de jogo datado, quado o agora é velho, perante o amanhã. Por isso, ainda continua sendo propagados conceitos como ruindade proposital, afinal, um game da sexta geração, já tem uma gameplay horrível, para aqueles que moram na nona geração de videogame. Imagine o seguinte título, de um canal de YouTube pequeno, mas que tenta ser subversivo: Silent Hill 2 é um lixo e isso o faz genial.
Esse foi o ponto do esvaziamento que chegamos. Uma geração, incapaz de compreender o contexto histórico, daquilo que diz amar. O mercado, apenas capta tudo isso e dilui, homogenize tudo, sature o jogador e crie as síndromes falaciosas que o gamer sente, achando que não gosta mais de joga. É uma crise, como tudo do capitalismo.
Outra forma de diluir, é o uso das pautas minoritárias. Basta representa, apenas faça e não se importante, se é o arroz com feijão, se é ruim, se é coberto por um olhar oposto ao que defende. Basta representar. Não é à toa, que é facinho achar filmes de direita, que casualmente se finge de progressistas, por terem personagens LGBTQI+, que só existem por existir mesmo, completamente irrelevantes a obra.
No marxismo, se defende a ideia que o estado é o conciliador de classes; entregue as armas, para a classe oprimida, sentir que pode fazer algo, de migalhas de melhorias sociais e pronto, ninguém vai levantar uma arma para seu patrão explorador.
Essas migalhas, entre várias coisas, como obras criticas ao sistema capital, são a representação das minorias. Pegue as pautas, as esvazie e entregue de forma enlatada para o público geral, que ira aceitá-las calados e comemoraram, que a Disney, pela (vigésima) primeira vez, mostrou lá, no fundo da cena, dois homens se beijando.
The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (2018), é tudo isso. Um esvaziamento das pautas LGBTQ+, um arroz com feijão, com momentos que deixam claro que existe um olhar masculino predominante. Life is Strange, é parecido, mas lá, temos muito mais a problemática de um gay button.
O fundo do mapa, desproporcionalmente grande, gera uma inferioridade a personagem. Ela se vê como menos, algo que se reflete na sua narrativa, que ao final, tenta se mostrar tocante, mas é tão profunda quanto um filme da Xuxa. Não ajuda a gameplay, ser tão piegas e desfuncional, conseguindo o feito de ser o jogo de puzzle mais insuportável do mundo, mesmo com a grande concorrência.
O que sobra pra um jogo, que faz tudo da forma mais rasa possível, sem poesia, sem sensibilidade, sem amor ao que fez, a não ser uma superficialidade temática barata? Gamer, se sustenta com qualquer jogo que seja minimamente diferente do suposto "padrão", mas não percebem que, no fundo, apenas estão ajudando a cria esse novo "padrão", ao dá voz e mérito pra jogos tão rasos e disfuncionais, que só sobrevivem pelas boas intenções pobres dela.
Uma formulação fácil e barata, pra fazer o público se interessar por um personagem e defendê-lo, é a injustiça (ou similares). Coloque um sistema de mecânica que, naturalmente debilite a personagem, faça o jogador, ao nível inconsciente, sentir pena disso e pronto: você tem um apego.
Isso é um recurso, não necessariamente é ruim ou bom. Mas a forma como tudo é evidente nesse jogo, que é fácil notar cada técnica pra tentar contar uma narrativa péssima e que de tempos em tempos, esquece completamente que contar algo e precisa recorrer às mensagens de textos, mais imbecis do mundo, só pra deixar claro que tá fazendo o básico e com um discurso moralista de consolação em cima das causas trans.
Para algumas pessoas, o final é o mais importante. Uma boa conclusão, o faz amar algo que não gostava muito, um desfecho ruim, o faz detestar algo que adorava; para mim, por outro lado, não tô preocupado nem com os finalmente e nem com a jornada. O que eu quero, é apenas uma poesia, pois ela é a consciência do mundo; você não as vera em equações tão simplórias, como essas, se você já leu uma poesia na vida, entende que nada disso faz sentido.
The Missing, como é de se esperar, se sustenta única e exclusivamente pelo seu desfecho, apostas tudo ali e se falhar, não sobra nada, já que toda a possibilidade de construir uma beleza singela nas imagens, é jogada no lixo em prol de absolutamente nada. Sequer, existe um trabalho de humanização dos personagens aqui pra tirá-los da sua condição natural, de meras simulações de pessoas; alguns, podem apontar as mensagens de textos, como sendo o momento que desenvolve a JJ, mas pontos sobre isso:
1. Elas só aparecem se você se interessar em ficar pegando aquelas porcarias de donuts, que além de serem chatas de se fazer, dão uma recompensa ridícula pelo esforço.
2. Se passar os puzzle, já é uma das piores torturas já produzidas nesse meio, dedicar, seja 1 segundo ou menos, para pegar isso, é algo que jamais estarei desposto a fazer. Primeiro, faça um jogo decente, depois tenta brincar.
3. Se a única forma que encontraram pra desenvolver as meninas, foi recorrendo ao recurso mais preguiço possível, só faz parecer que sequer tentaram. Podem até a pontar as condições de desenvolvimento do jogo, o que pra mim, é só passar pano mesmo. A quantidade de jogos, que fazem mais com menos por aí, basta lembrar que existem indies com custo quase zero.
Certa vez, li o texto da Maya Deren: Amador versus Profissional; que pairou na minha cabeça, enquanto eu jogava. Maya, defende que o amador, a qual ela define como um amante do que faz, tem uma vantagem sobre o profissional: liberdade. Faça, erre, tente, você não será demitido.
The Missing, poderia ter sido tudo isso, mas no lugar disso, é exatamente o jogo profissional que você esperaria, mas de baixo orçamento para, quem já tá cansado de jogar AAA, pode falar que é bom. E isso surge, justamente porque tirando toda essa roupagem tenebrosa de algo diferente, o jogo resolve todas suas questões da forma mais conveniente e lugar-comum do planeta. Mas como eu disse, basta parecer único pro público amar, ser bom, se torna opcional.
Sinceramente, eu teria vergonha, de assinar esse jogo com meu nome. Para algo assim ser aprovado e lançado, ou deve haver muita ignorância no seu próprio trabalho, ou falta de qualquer opção, pois nada justifica o resultado final.
Existe um viés na comunidade gamer, que é podre. Numa mídia, nascida dentro do capitalismo, muito mais jovem que o cinema, onde seus movimentos, raros, mas existentes, não passam de 10 anos, em videogame, são ainda mais raros e curtos. Não me interesso, nesse momento, em tentar fazer uma análise histórica material disso, mas o ponto é que basta um jogo minimamente diferente, para um grupo, vim defendê-lo com unhas e dentes. Faça uma análise florida, subjetiva no sentido mais distorcido possível, em outras palavras, invente coisas que não existem no jogo. Pronto, agora você tem reviews como: esse jogo é horrível, mas é de proposito, então é bom.
As pessoas, consciente ou não, buscam, desde que o primeiro ser humano aprendeu a rasurar a parede, representar a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues. Portanto, o cinema, com sua capacidade de mostrar a vida em movimento, ganhou um bloqueio, por ser a arte que melhor responde esse mito; porém, numa sociedade de um capitalismo tardio ou pós-moderno, a simulação vira o ponto central: óculos de realidade aumentada, metaverso e outras porcarias tecnológicas. Nesse contexto, videogame é a simulação (quase) perfeita da vida.
Essa questão, da busca pela realidade perfeita, gerou um avanço tecnológico na mídia, que em menos de 50 anos, já tinha capacidade de emular, em quase perfeição, a vida. Não é à toa, que jogos como The Sims e SimCity, fizeram tanto sucesso. Porém, essa aceleração técnica, evidenciou ainda mais uma característica da arte: toda técnica é fruto de um tempo e contexto.
Ou seja, o jogo lançado hoje, é, tecnicamente, datado. Então, é impossível falar de jogo datado, quado o agora é velho, perante o amanhã. Por isso, ainda continua sendo propagados conceitos como ruindade proposital, afinal, um game da sexta geração, já tem uma gameplay horrível, para aqueles que moram na nona geração de videogame. Imagine o seguinte título, de um canal de YouTube pequeno, mas que tenta ser subversivo: Silent Hill 2 é um lixo e isso o faz genial.
Esse foi o ponto do esvaziamento que chegamos. Uma geração, incapaz de compreender o contexto histórico, daquilo que diz amar. O mercado, apenas capta tudo isso e dilui, homogenize tudo, sature o jogador e crie as síndromes falaciosas que o gamer sente, achando que não gosta mais de joga. É uma crise, como tudo do capitalismo.
Outra forma de diluir, é o uso das pautas minoritárias. Basta representa, apenas faça e não se importante, se é o arroz com feijão, se é ruim, se é coberto por um olhar oposto ao que defende. Basta representar. Não é à toa, que é facinho achar filmes de direita, que casualmente se finge de progressistas, por terem personagens LGBTQI+, que só existem por existir mesmo, completamente irrelevantes a obra.
No marxismo, se defende a ideia que o estado é o conciliador de classes; entregue as armas, para a classe oprimida, sentir que pode fazer algo, de migalhas de melhorias sociais e pronto, ninguém vai levantar uma arma para seu patrão explorador.
Essas migalhas, entre várias coisas, como obras criticas ao sistema capital, são a representação das minorias. Pegue as pautas, as esvazie e entregue de forma enlatada para o público geral, que ira aceitá-las calados e comemoraram, que a Disney, pela (vigésima) primeira vez, mostrou lá, no fundo da cena, dois homens se beijando.
The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (2018), é tudo isso. Um esvaziamento das pautas LGBTQ+, um arroz com feijão, com momentos que deixam claro que existe um olhar masculino predominante. Life is Strange, é parecido, mas lá, temos muito mais a problemática de um gay button.
O fundo do mapa, desproporcionalmente grande, gera uma inferioridade a personagem. Ela se vê como menos, algo que se reflete na sua narrativa, que ao final, tenta se mostrar tocante, mas é tão profunda quanto um filme da Xuxa. Não ajuda a gameplay, ser tão piegas e desfuncional, conseguindo o feito de ser o jogo de puzzle mais insuportável do mundo, mesmo com a grande concorrência.
O que sobra pra um jogo, que faz tudo da forma mais rasa possível, sem poesia, sem sensibilidade, sem amor ao que fez, a não ser uma superficialidade temática barata? Gamer, se sustenta com qualquer jogo que seja minimamente diferente do suposto "padrão", mas não percebem que, no fundo, apenas estão ajudando a cria esse novo "padrão", ao dá voz e mérito pra jogos tão rasos e disfuncionais, que só sobrevivem pelas boas intenções pobres dela.
Uma formulação fácil e barata, pra fazer o público se interessar por um personagem e defendê-lo, é a injustiça (ou similares). Coloque um sistema de mecânica que, naturalmente debilite a personagem, faça o jogador, ao nível inconsciente, sentir pena disso e pronto: você tem um apego.
Isso é um recurso, não necessariamente é ruim ou bom. Mas a forma como tudo é evidente nesse jogo, que é fácil notar cada técnica pra tentar contar uma narrativa péssima e que de tempos em tempos, esquece completamente que contar algo e precisa recorrer às mensagens de textos, mais imbecis do mundo, só pra deixar claro que tá fazendo o básico e com um discurso moralista de consolação em cima das causas trans.
Para algumas pessoas, o final é o mais importante. Uma boa conclusão, o faz amar algo que não gostava muito, um desfecho ruim, o faz detestar algo que adorava; para mim, por outro lado, não tô preocupado nem com os finalmente e nem com a jornada. O que eu quero, é apenas uma poesia, pois ela é a consciência do mundo; você não as vera em equações tão simplórias, como essas, se você já leu uma poesia na vida, entende que nada disso faz sentido.
The Missing, como é de se esperar, se sustenta única e exclusivamente pelo seu desfecho, apostas tudo ali e se falhar, não sobra nada, já que toda a possibilidade de construir uma beleza singela nas imagens, é jogada no lixo em prol de absolutamente nada. Sequer, existe um trabalho de humanização dos personagens aqui pra tirá-los da sua condição natural, de meras simulações de pessoas; alguns, podem apontar as mensagens de textos, como sendo o momento que desenvolve a JJ, mas pontos sobre isso:
1. Elas só aparecem se você se interessar em ficar pegando aquelas porcarias de donuts, que além de serem chatas de se fazer, dão uma recompensa ridícula pelo esforço.
2. Se passar os puzzle, já é uma das piores torturas já produzidas nesse meio, dedicar, seja 1 segundo ou menos, para pegar isso, é algo que jamais estarei desposto a fazer. Primeiro, faça um jogo decente, depois tenta brincar.
3. Se a única forma que encontraram pra desenvolver as meninas, foi recorrendo ao recurso mais preguiço possível, só faz parecer que sequer tentaram. Podem até a pontar as condições de desenvolvimento do jogo, o que pra mim, é só passar pano mesmo. A quantidade de jogos, que fazem mais com menos por aí, basta lembrar que existem indies com custo quase zero.
Certa vez, li o texto da Maya Deren: Amador versus Profissional; que pairou na minha cabeça, enquanto eu jogava. Maya, defende que o amador, a qual ela define como um amante do que faz, tem uma vantagem sobre o profissional: liberdade. Faça, erre, tente, você não será demitido.
The Missing, poderia ter sido tudo isso, mas no lugar disso, é exatamente o jogo profissional que você esperaria, mas de baixo orçamento para, quem já tá cansado de jogar AAA, pode falar que é bom. E isso surge, justamente porque tirando toda essa roupagem tenebrosa de algo diferente, o jogo resolve todas suas questões da forma mais conveniente e lugar-comum do planeta. Mas como eu disse, basta parecer único pro público amar, ser bom, se torna opcional.
Sinceramente, eu teria vergonha, de assinar esse jogo com meu nome. Para algo assim ser aprovado e lançado, ou deve haver muita ignorância no seu próprio trabalho, ou falta de qualquer opção, pois nada justifica o resultado final.
O que faz alguém jogar videogame? Digo, jogar mesmo, sem ver o tempo passar, ficar vidrado naquela tela, imerso naquele mundo fictício. Desde a exploração brilhante de um metroidvania à uma bossfight desafiadora de um souls-like. Qual é o nome? Engajamento? Hiperfoco? Compulsão? Vício? Por que tu continua jogando? Por que isso importa tanto? Quantos cliques tu precisa dar por hora pra ter valido a pena jogar aquilo? Por que tanta gente mede o valor monetário de tal jogo pela sua duração?
Nunca li livro algum sobre game design. Também nunca joguei nenhum Dragon Quest – e mesmo assim moon me encantou o suficiente pra me fazer querer entender ele. Querer dar valor também.
Ser ativo, fazer questão, interagir. É assim que videogame se expressa. Ou melhor, é assim que o player se expressa pelo videogame. É comunicação. Mas de que forma? Porque ao meu ver, muita gente se incomoda ao ter seu espaço de interação com a tela invadido, seu controle retirado, cutscenes, seções de walkie-talkie, momentos scriptados e outras convenções usuais da indústria de videogames.
Essa é a só a ponta do iceberg, provavelmente, porque muitos incômodos também podem ser gerados pela própria interação: teste simples, pergunta pra qualquer amigo teu se ele prefere os tiroteios do Arthur em Red Dead Redemption 2 ou as tarefas braçais do rancho de John Marston. Muito provavelmente ele vai preferir a parte onde a gameplay se demonstra mais ativa, pelo combate, pela velocidade, talvez? As atividades no rancho do John são extremamente demoradas, seja pela extravagância no capricho das animações do jogo e também pela tentativa honesta de captar a vida de um fazendeiro, muito do que tu faz nessa seção inteira é baseado em espera e recompensa. E a catarse da recompensa não existe, é apenas avanço na história seguido de diálogos casuais que integram aquela parte do jogo. E a catarse de um tiroteio? O impacto dos corpos agindo e reagindo, a satisfação em ouvir o som das balas, toda a composição de uma batalha frenética com uma provável trilha de fundo pra ajudar: todos esses elementos flutuando pela cabeça do player conseguem satisfazê-lo mais facilmente do que qualquer outro tipo de atividade no jogo.
Sobre a velocidade, é simples: numa mídia com receptor ativo, a tendência é que ele esteja SEMPRE na ativa. A demora é fatal, e a maioria das vezes que tu escutou/leu algo tipo “nossa, a gameplay de jogo X é bem melhor que a de jogo Y porque é mais fluída” a pessoa provavelmente tava se referindo à velocidade da gameplay e não tinha nada a ver com fluidez.Talvez seja por isso que as pessoas realmente acham o combate de Dark Souls III melhor que o do primeiro. Muita gente quer algo mais imediato, pouco diálogo, pouca cutscene, poucas mecânicas que façam o player esperar (e as vezes até pensar) porque ele sente que vai enlouquecer com isso. Até mesmo os jogos de turno tão sendo EXTINGUIDOS por conta desse tipo de pensamento. É uma visão bem equivocada, sabemos – preferência existe, mas até que ponto ela vai te restringir a experimentar coisas novas? Eu mesmo, tenho Ninja Gaiden II nos meus favoritos e sinto que minha casa explodiria se eu parasse de usar lifegems em Dark Souls II, talvez eu até esteja sendo hipócrita nisso, mas não vejo problema em preferir certo ritmo de gameplay, desde que isso não defina sua perspectiva e expectativas pela mídia – videogames – como um todo.
O jogo do AMOR, mais conhecido como moon, se comunica com o player diante de alguns objetivos.O primeiro é fazê-lo ODIAR JRPGs a ponto de jogar todos só pra chegar e falar “haha moon é melhor” O primeiro é satirizar RPGs japoneses da época, apresentando um cavaleiro que mata diversos monstros com o objetivo de derrotar um dragão que sumiu com a lua daquele lugar. O combate não é jogável, é assistível. E a narrativa se subverte a partir do ponto em que a mãe do protagonista manda ele desligar videogame e ir dormir – até que ele é sugado pela TV e obrigado a virar um NPC daquele jogo: moon: Remix RPG Adventure. Sim, NPC mesmo, o real “protagonista” é o cavaleiro que te apresentaram e no momento ele se aventura, grindando (quem diria) pra conseguir chegar até o dragão que ele tinha derrotado antes – exato, isso já tinha acontecido antes, na lua falsa, mas o real jogo que mostra a perspetiva do protagonista, do herói daquela história. Em moon, esse mesmo herói em poucos minutos de jogo tem suas atitudes questionadas, e o player tem a tarefa de coletar pontos de amor pelo mapa, seja conversando com NPCs, fazendo quests e, principalmente, salvando as pobres almas dos animais que o cavaleiro assassinou – ou seja, sendo o verdadeiro herói daquela história. Seus pontos de amor servem pra aumentar suas ações por dia, vulgo a stamina do jogo, e se ela acaba: é game over. O savepoint do jogo é sua cama, dormir restaura energia, e também transforma pontos de amor em pontos de ação. Sim, o jogo refutou a frase “dormir não dá XP”.
Há muitas coisas que esse game quer comunicar aqui, e o valor que ele tem é comunicar todos seus objetivos de forma mecânica, pela interação. O núcleo de gameplay do jogo está na espera, estimulando o bom coração do player pra explorar melhor cada ciclo de dia e noite e a rotina de cada NPC que ele encontra. Acho que é por isso que o amor vira stamina, o fato de você jogar e se abençoar com “a arte de dar a foda”, digo, o fato de você querer fazer questão do jogo e do que acontece naquele mundo fictício é um ato de amor pela mídia, e serve de estímulo pra tu continuar fazendo isso, até mesmo no sentido mecânico. Todos os NPCs, apesar de caricatos, são simpáticos e tem sempre algo legal e agregador a dizer. Todas as quests são memoráveis, o player tá sempre por aí vagando e fazendo uma boa ação pra salvar aquele mundo, voltar para o mundo fora da tela e pra reconsiderar o fato dele estar jogando um videogame. E o player sabe disso, ele sabe que tá dentro de um jogo (dentro de um jogo) e mesmo assim consegue dar fodas o suficiente pra espalhar seu amor pelo mundo.
Limitações no design do jogo também são fatores relevantes, porque elas conversam com suas ideias e até com features que tão implementadas na gameplay. Os diálogos com os NPCs expiram, fazendo com que eles pareçam menos reais e acabe com a graça de se aprofundar naquele mundo: mas isso é realmente um problema? Moon nunca tentou sugar o player pra dentro de seu universo, moon não tenta ser necessariamente imersivo ou coisa do tipo: moon quer unir suas três dimensões. Questionar a suspensão da descrença e integrar a casa do player (protagonista) ao mundo real do jogo e ao mundo do player do outro lado da tela. O mundo de você, o mundo de eu,o mundo de qualquer um que jogue essa merda autoentitulada anti-rpg. Uma feature legal do jogo que reforça esse meu ponto é o toca-disco: o jogo não tem música ambiente. Se opondo aos JRPGs da época, provavelmente, que sempre integram uma música bonitinha de fundo pra dar o clássico sentimento de aventura. Em moon tu se aventura quieto, a não ser que você, como player, queira escutar uma música de sua escolha pelo toca-disco: fun fact! Um dos discos do jogo é uma música BRASILEIRA chamada A Meu Pai Peço Firmeza de Padrinho Sebastião. Não cheguei a encontrar informações o suficiente pra saber se o resto dos discos são inspirados em músicas/bandas reais, mas é um toque muito genial deixar a música ambiente do jogo nas mãos do player.
Toda essa aproximação entre os mundos da experiência de moon, acabou me desconectando um pouco do jogo por um motivo bem específico, o que acaba me levando de volta à primeira linha dessa review: por que alguém jogaria moon?
O jogo me conectou, desconectou e me conectou de volta em diversos atos ao longo de minha jornada, me fazendo apreciar cada detalhe daquela experiência e fazer questão de continuar jogando, jogando o suficiente pra coletar todos os pontos de amor do jogo, até chegar no nível máximo (que é 30). Fiz isso tudo com sorriso no rosto porque, mesmo com ajudas externas, sabia que minha gameplay não era um passatempo de grind ou uma aventura curtinha que eu poderia ter zerado antes do ano novo pra dar nota no backloggd e esquecer o jogo: eu resgatei cada um dos animais e fiz cada uma das quests do jogo por amor. Exceto uma. A pescaria. Foi aí que eu me desconectei de moon.
Moon quer que tu jogue por amor, mas não havia amor algum em repetir a mesma tarefa diversas vezes, dependendo de sorte e jogando tempo fora por pura compulsão e complecionismo. O desejo insignificante de fazer tudo que há no jogo, mesmo na merda de um console que nem conquistas tem, caiu por terra quando eu percebi que eu não tava mais fazendo questão daquilo, só queria pescar 5 peixes de uma vez e zerar o jogo. Eu não amava aquilo, não amei a pesca, devo ter gastado mais de 5 horas só nesse minigame e eu não me orgulho disso. Serviria como uma recompensa ilusória de um perfeccionismo estúpido meu e talvez um agradecimento e congratulações da rainha da lua nos meus sonhos. Não vale a pena, moon me ensinou algo que ele mesmo se ofereceu para quebrar e me desfazer do que aprendi jogando. Sei que faltava literalmente apenas 1 ponto pra chegar no nível 30 de amor mas eu me sentiria culpado se tivesse conseguido passar do 29, então a primeira coisa que eu fiz foi desistir do concurso de pesca e ir direto pro Burnn comprar todos os CDs da loja. O último disco se chamava “moonfish”.
Zero o jogo. A desconexão é proposital, e a mensagem é transmitida da forma mais singular possível, fazendo o player praticamente engolir os temas do jogo, afinando tanto a linha tênue entre o amor e o ódio, quanto a linha de separação entre suas dimensões. Moon odeia o “jogar por jogar” e ama o player o suficiente para fazê-lo retribuir esse sentimento, de uma forma em que toda essa aventura é subvertida pelo que tu aprendeu enquanto espalhava seu amor pelo jogo.
Vou poupar spoilers diretos da história, mas lembre-se: o amor não pode ser expresso por simples números em um videogame.
29/30 :’)
Nunca li livro algum sobre game design. Também nunca joguei nenhum Dragon Quest – e mesmo assim moon me encantou o suficiente pra me fazer querer entender ele. Querer dar valor também.
Ser ativo, fazer questão, interagir. É assim que videogame se expressa. Ou melhor, é assim que o player se expressa pelo videogame. É comunicação. Mas de que forma? Porque ao meu ver, muita gente se incomoda ao ter seu espaço de interação com a tela invadido, seu controle retirado, cutscenes, seções de walkie-talkie, momentos scriptados e outras convenções usuais da indústria de videogames.
Essa é a só a ponta do iceberg, provavelmente, porque muitos incômodos também podem ser gerados pela própria interação: teste simples, pergunta pra qualquer amigo teu se ele prefere os tiroteios do Arthur em Red Dead Redemption 2 ou as tarefas braçais do rancho de John Marston. Muito provavelmente ele vai preferir a parte onde a gameplay se demonstra mais ativa, pelo combate, pela velocidade, talvez? As atividades no rancho do John são extremamente demoradas, seja pela extravagância no capricho das animações do jogo e também pela tentativa honesta de captar a vida de um fazendeiro, muito do que tu faz nessa seção inteira é baseado em espera e recompensa. E a catarse da recompensa não existe, é apenas avanço na história seguido de diálogos casuais que integram aquela parte do jogo. E a catarse de um tiroteio? O impacto dos corpos agindo e reagindo, a satisfação em ouvir o som das balas, toda a composição de uma batalha frenética com uma provável trilha de fundo pra ajudar: todos esses elementos flutuando pela cabeça do player conseguem satisfazê-lo mais facilmente do que qualquer outro tipo de atividade no jogo.
Sobre a velocidade, é simples: numa mídia com receptor ativo, a tendência é que ele esteja SEMPRE na ativa. A demora é fatal, e a maioria das vezes que tu escutou/leu algo tipo “nossa, a gameplay de jogo X é bem melhor que a de jogo Y porque é mais fluída” a pessoa provavelmente tava se referindo à velocidade da gameplay e não tinha nada a ver com fluidez.
O jogo do AMOR, mais conhecido como moon, se comunica com o player diante de alguns objetivos.
Há muitas coisas que esse game quer comunicar aqui, e o valor que ele tem é comunicar todos seus objetivos de forma mecânica, pela interação. O núcleo de gameplay do jogo está na espera, estimulando o bom coração do player pra explorar melhor cada ciclo de dia e noite e a rotina de cada NPC que ele encontra. Acho que é por isso que o amor vira stamina, o fato de você jogar e se abençoar com “a arte de dar a foda”, digo, o fato de você querer fazer questão do jogo e do que acontece naquele mundo fictício é um ato de amor pela mídia, e serve de estímulo pra tu continuar fazendo isso, até mesmo no sentido mecânico. Todos os NPCs, apesar de caricatos, são simpáticos e tem sempre algo legal e agregador a dizer. Todas as quests são memoráveis, o player tá sempre por aí vagando e fazendo uma boa ação pra salvar aquele mundo, voltar para o mundo fora da tela e pra reconsiderar o fato dele estar jogando um videogame. E o player sabe disso, ele sabe que tá dentro de um jogo (dentro de um jogo) e mesmo assim consegue dar fodas o suficiente pra espalhar seu amor pelo mundo.
Limitações no design do jogo também são fatores relevantes, porque elas conversam com suas ideias e até com features que tão implementadas na gameplay. Os diálogos com os NPCs expiram, fazendo com que eles pareçam menos reais e acabe com a graça de se aprofundar naquele mundo: mas isso é realmente um problema? Moon nunca tentou sugar o player pra dentro de seu universo, moon não tenta ser necessariamente imersivo ou coisa do tipo: moon quer unir suas três dimensões. Questionar a suspensão da descrença e integrar a casa do player (protagonista) ao mundo real do jogo e ao mundo do player do outro lado da tela. O mundo de você, o mundo de eu,
Toda essa aproximação entre os mundos da experiência de moon, acabou me desconectando um pouco do jogo por um motivo bem específico, o que acaba me levando de volta à primeira linha dessa review: por que alguém jogaria moon?
O jogo me conectou, desconectou e me conectou de volta em diversos atos ao longo de minha jornada, me fazendo apreciar cada detalhe daquela experiência e fazer questão de continuar jogando, jogando o suficiente pra coletar todos os pontos de amor do jogo, até chegar no nível máximo (que é 30). Fiz isso tudo com sorriso no rosto porque, mesmo com ajudas externas, sabia que minha gameplay não era um passatempo de grind ou uma aventura curtinha que eu poderia ter zerado antes do ano novo pra dar nota no backloggd e esquecer o jogo: eu resgatei cada um dos animais e fiz cada uma das quests do jogo por amor. Exceto uma. A pescaria. Foi aí que eu me desconectei de moon.
Moon quer que tu jogue por amor, mas não havia amor algum em repetir a mesma tarefa diversas vezes, dependendo de sorte e jogando tempo fora por pura compulsão e complecionismo. O desejo insignificante de fazer tudo que há no jogo, mesmo na merda de um console que nem conquistas tem, caiu por terra quando eu percebi que eu não tava mais fazendo questão daquilo, só queria pescar 5 peixes de uma vez e zerar o jogo. Eu não amava aquilo, não amei a pesca, devo ter gastado mais de 5 horas só nesse minigame e eu não me orgulho disso. Serviria como uma recompensa ilusória de um perfeccionismo estúpido meu e talvez um agradecimento e congratulações da rainha da lua nos meus sonhos. Não vale a pena, moon me ensinou algo que ele mesmo se ofereceu para quebrar e me desfazer do que aprendi jogando. Sei que faltava literalmente apenas 1 ponto pra chegar no nível 30 de amor mas eu me sentiria culpado se tivesse conseguido passar do 29, então a primeira coisa que eu fiz foi desistir do concurso de pesca e ir direto pro Burnn comprar todos os CDs da loja. O último disco se chamava “moonfish”.
Zero o jogo. A desconexão é proposital, e a mensagem é transmitida da forma mais singular possível, fazendo o player praticamente engolir os temas do jogo, afinando tanto a linha tênue entre o amor e o ódio, quanto a linha de separação entre suas dimensões. Moon odeia o “jogar por jogar” e ama o player o suficiente para fazê-lo retribuir esse sentimento, de uma forma em que toda essa aventura é subvertida pelo que tu aprendeu enquanto espalhava seu amor pelo jogo.
Vou poupar spoilers diretos da história, mas lembre-se: o amor não pode ser expresso por simples números em um videogame.
29/30 :’)
Wanted: Dead
2023
O sentimento de se jogar Wanted:Dead é de que o jogo estava pronto a anos, mas não viu a luz do dia até ano passado, sua estrutura, sua estética, seu combate, são muito semelhantes ao que se veria num jogo base da sétima geração de consoles, e vejo isso com muito bons olhos e um sorriso no rosto.
Imaginem que Suda51 e SWERY estão trabalhando num projeto e o melhor de dois mundo se juntam (espero que Hotel Barcelona seja foda, ok?) essa é meio a ideia que eu tenho desse jogo, o combate é muito divertido, serio, e a primeira vista talvez soe estranho, mas serio, é muito daora, e por se tratar de um jogo com tanta personalidade, é o que adiciona ainda mais gosto em tudo.
Apesar das atuações de voz super blasé e fps cair durante cutscenes (igual Deadly Premonition, quem diria) o jogo se segura pelo seu carisma, partes em anime, momentos rítmicos, os diálogos ala Tarantino ou até mesmo, a galhofa pela galhofa são algumas das coisas que tornaram a minha experiencia com Wanted:Dead agradável.
De certa forma, dentro de um contexto aonde cada vez mais os jogos se parecem uns com os outros por causa da reprodução das tendências (leiam Walter Benjamin) é muito interessante ver um jogo ir contra a maré, usando de técnicas e forma do passado agora com estética, o que me faz pensar em Wanted:Dead com um jogo anômalo para o seu momento dentro da indústria.
Imaginem que Suda51 e SWERY estão trabalhando num projeto e o melhor de dois mundo se juntam (espero que Hotel Barcelona seja foda, ok?) essa é meio a ideia que eu tenho desse jogo, o combate é muito divertido, serio, e a primeira vista talvez soe estranho, mas serio, é muito daora, e por se tratar de um jogo com tanta personalidade, é o que adiciona ainda mais gosto em tudo.
Apesar das atuações de voz super blasé e fps cair durante cutscenes (igual Deadly Premonition, quem diria) o jogo se segura pelo seu carisma, partes em anime, momentos rítmicos, os diálogos ala Tarantino ou até mesmo, a galhofa pela galhofa são algumas das coisas que tornaram a minha experiencia com Wanted:Dead agradável.
De certa forma, dentro de um contexto aonde cada vez mais os jogos se parecem uns com os outros por causa da reprodução das tendências (leiam Walter Benjamin) é muito interessante ver um jogo ir contra a maré, usando de técnicas e forma do passado agora com estética, o que me faz pensar em Wanted:Dead com um jogo anômalo para o seu momento dentro da indústria.
Space Runaway
2022
Doom Eternal
2020
20 lists liked by Ayla771
by DeviMetric |
70 Games
by ciccioDM |
62 Games
by vehemently |
58 Games
by fror |
2475 Games
by ShyChai |
38 Games
by CModel |
504 Games
by Pooky |
52 Games