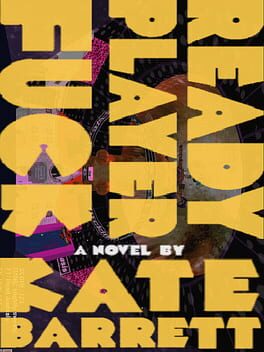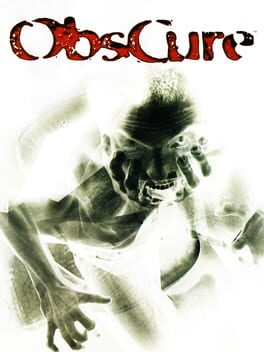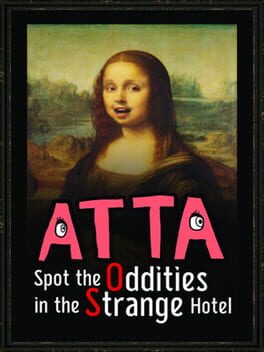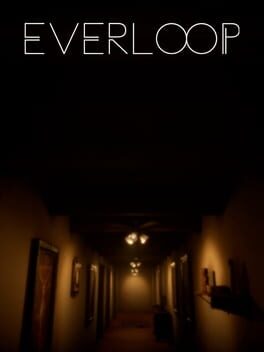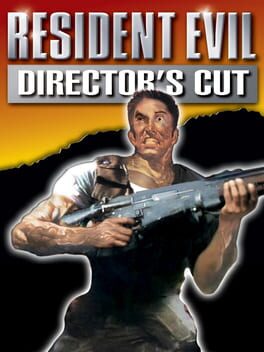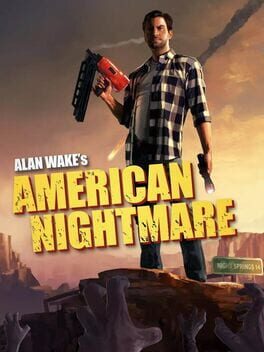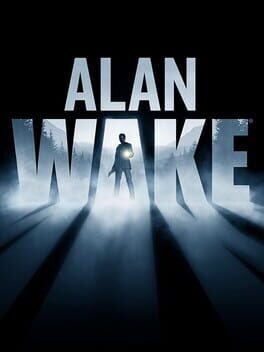BrenoMancini
2017
A Cultura nerd precisa ser revisada.
É uma cultura que sequestra obras de arte em um culto egocentrico e excludente. Pessoas resgatam símbolos das obras para se identificarem e vão enaltecer aqeuelus que reconhecem esses símbolos, que conseguem ler as referências e se sentem superiores por conta disso, mais popularmente culturados.
Ready Player Fuck sequestra esses símbolos em uma sátira divertida, engraçada e que não se importa com propriedade intelectual. Usando esses símbolos para mostrar o quão tosco e sem noção é esse imaginário coletivo do nerd boomer, que adora essas imagens religiosamente.
É uma cultura que sequestra obras de arte em um culto egocentrico e excludente. Pessoas resgatam símbolos das obras para se identificarem e vão enaltecer aqeuelus que reconhecem esses símbolos, que conseguem ler as referências e se sentem superiores por conta disso, mais popularmente culturados.
Ready Player Fuck sequestra esses símbolos em uma sátira divertida, engraçada e que não se importa com propriedade intelectual. Usando esses símbolos para mostrar o quão tosco e sem noção é esse imaginário coletivo do nerd boomer, que adora essas imagens religiosamente.
2014
Um mundo atípico em um romance igualmente atípico para um jogo completamente atípico. Original, marcante, envolvente e muito sensível. Desde sua mecânica de turnos em tempo real até sua trama e personagens envolventes, Super Giant e Amir nos entregam mais um contexto apocalíptico. Novamente vemos nossa realidade ser tomada por um tipo de praga, mas diferente de Bastion, esta é uma história de Romance.
E que belo romance. Aqui já vemos a sutileza com que a Super Giant desenvolve seus personagens, um carisma que cresce à medida que você joga e, ao final das 4 horinhas, nos apegamos muito a uma cantora sem voz e seu cavaleiro sem corpo.
O mais incrível neste jogo é sua metalinguagem sutil, que me fez sentir parte da aventura. Ver a realidade do jogo se deteriorando é entender que no fim de tudo, talvez não haja escapatória da realidade que eles estão vivendo. A luta então é encontrar essa alternativa, essa solução, mas o jogo e os personagens entendendo sua realidade, tomam suas decisões finais, o que é um belo desfecho romântico para um casal lindo. Me fez nunca mais querer abrir esse jogo, não quero que passem por tudo de novo.
Transistor é paixão em um mundo apocalíptico, traduzindo-se em um combate envolvente e um mundo incrível, visto por pequenas janelas que nos fazem pensar "o que há além?" Felizmente, o pouco que eu vi do além foi uma imagem final que me deixou, para além da curiosidade, lágrimas nos olhos.
Excelente.
E que belo romance. Aqui já vemos a sutileza com que a Super Giant desenvolve seus personagens, um carisma que cresce à medida que você joga e, ao final das 4 horinhas, nos apegamos muito a uma cantora sem voz e seu cavaleiro sem corpo.
O mais incrível neste jogo é sua metalinguagem sutil, que me fez sentir parte da aventura. Ver a realidade do jogo se deteriorando é entender que no fim de tudo, talvez não haja escapatória da realidade que eles estão vivendo. A luta então é encontrar essa alternativa, essa solução, mas o jogo e os personagens entendendo sua realidade, tomam suas decisões finais, o que é um belo desfecho romântico para um casal lindo. Me fez nunca mais querer abrir esse jogo, não quero que passem por tudo de novo.
Transistor é paixão em um mundo apocalíptico, traduzindo-se em um combate envolvente e um mundo incrível, visto por pequenas janelas que nos fazem pensar "o que há além?" Felizmente, o pouco que eu vi do além foi uma imagem final que me deixou, para além da curiosidade, lágrimas nos olhos.
Excelente.
2011
Existe uma estranha sensação de conforto nesse jogo.
Apesar de seu mundo ser um caos apocalíptico repleto de morte, melancolia e desespero, esse jogo cria uma camada de conforto pela sua estética em game design, escrita e arte que é formidável.
Afinal, um combate e progressão competente, com um level design bem amarradinho são suficientes por si só para te fazer jogar de forma confortável, ter uma variação boa e divertidas de armas e uma jogabilidade meio beat'em up isométrico deixa o loop principal bem temperado. Mas o que me fisgou mesmo foi tudo que adorna esse design.
Esse jogo parece uma fantasia açucarada, cheira e tem sabor de um doce de coco, mas é recheado de um chocolate muito amargo. Superficialmente o sabor te tranquiliza, te traz frescor e calmaria, mas dentro vem um punch. Acontece que quando se chega ao núcleo, o jogo te obriga a tomar uma decisão: aceitar ou refazer.
Só que o jogo nos deixa preparados para tomar essa decisão.
Afinal, aos poucos o sabor se torna morno. Não necessariamente a melhor experiência que já vivemos, mas significativa o suficiente para não esquecermos e, portanto, para não apagarmos.
Encontrar o conforto no desespero é o que Bastion nos faz conquistar sem percebermos, e na tomada de decisão, ter herdado sua coragem de permanecer no caos foi o que me fez não esquecer desse jogo.
Apesar de seu mundo ser um caos apocalíptico repleto de morte, melancolia e desespero, esse jogo cria uma camada de conforto pela sua estética em game design, escrita e arte que é formidável.
Afinal, um combate e progressão competente, com um level design bem amarradinho são suficientes por si só para te fazer jogar de forma confortável, ter uma variação boa e divertidas de armas e uma jogabilidade meio beat'em up isométrico deixa o loop principal bem temperado. Mas o que me fisgou mesmo foi tudo que adorna esse design.
Esse jogo parece uma fantasia açucarada, cheira e tem sabor de um doce de coco, mas é recheado de um chocolate muito amargo. Superficialmente o sabor te tranquiliza, te traz frescor e calmaria, mas dentro vem um punch. Acontece que quando se chega ao núcleo, o jogo te obriga a tomar uma decisão: aceitar ou refazer.
Só que o jogo nos deixa preparados para tomar essa decisão.
Afinal, aos poucos o sabor se torna morno. Não necessariamente a melhor experiência que já vivemos, mas significativa o suficiente para não esquecermos e, portanto, para não apagarmos.
Encontrar o conforto no desespero é o que Bastion nos faz conquistar sem percebermos, e na tomada de decisão, ter herdado sua coragem de permanecer no caos foi o que me fez não esquecer desse jogo.
2020
A luz que se mistura ao controle me mostra como esse jogo tem um poder especial.
Apesar de não ter tido o melhor momento do jogo, AWE traz a experiência mais concisa de Control. Control se ilumina temos uma adição aos puzzles que, a essa altura, já eram cansativos, mas agora têm um gosto novo sem se estender demais.
Essa luz também ilumina o que faz Control ser mais significativo. A narrativa estar amarrada ao destino de Alan Wake faz Jesse em sua tomada de controle algo muito mais poderoso.
Entendemos que nesse ambiente de caos, controle é escasso, inclusive, pessoas estão perdendo sua consciência para ruídos ininteligíveis (que talvez tornem suas mentes presas em trabalhos mundanos, isso por si só é um tópico interessante). Porém, quando adicionada a variável Alan Wake, o controle tem um outro significado, semelhante ao traduzido no seu jogo que aborda controle em uma perspectiva de destino e caminho.
Jesse talvez nunca tenha conquistado pleno controle, ou pelo menos, seu controle nunca foi algo inesperado. Tematicamente, adoro isso, mas evidencia ainda mais o esvaziamento em mecânica desse jogo. Como eu gostaria de não ter controle, também, de minha gameplay e conseguir encontrar meu caminho da mesma forma que iluminamos aqui, o caminho com o “controle” que adquirimos (vide nossos poderes). Infelizmente, o simbolismo de controle ainda se resume a uma tradução de mecânicas comuns em jogos de ação em terceira pessoa.
Ainda assim, sinto que minha experiência foi tomada, de fato, pelo Alan Wake. Sua simples presença traz mais sentido à minha experiência em Control e até para Jesse como personagem em uma perspectiva segmentar (no sentido de muitas camadas). Jesse é mais uma peça para que Alan Wake consiga iluminar seu caminho à tomada de controle, e isso resume essa boa DLC.
Apesar de não ter tido o melhor momento do jogo, AWE traz a experiência mais concisa de Control. Control se ilumina temos uma adição aos puzzles que, a essa altura, já eram cansativos, mas agora têm um gosto novo sem se estender demais.
Essa luz também ilumina o que faz Control ser mais significativo. A narrativa estar amarrada ao destino de Alan Wake faz Jesse em sua tomada de controle algo muito mais poderoso.
Entendemos que nesse ambiente de caos, controle é escasso, inclusive, pessoas estão perdendo sua consciência para ruídos ininteligíveis (que talvez tornem suas mentes presas em trabalhos mundanos, isso por si só é um tópico interessante). Porém, quando adicionada a variável Alan Wake, o controle tem um outro significado, semelhante ao traduzido no seu jogo que aborda controle em uma perspectiva de destino e caminho.
Jesse talvez nunca tenha conquistado pleno controle, ou pelo menos, seu controle nunca foi algo inesperado. Tematicamente, adoro isso, mas evidencia ainda mais o esvaziamento em mecânica desse jogo. Como eu gostaria de não ter controle, também, de minha gameplay e conseguir encontrar meu caminho da mesma forma que iluminamos aqui, o caminho com o “controle” que adquirimos (vide nossos poderes). Infelizmente, o simbolismo de controle ainda se resume a uma tradução de mecânicas comuns em jogos de ação em terceira pessoa.
Ainda assim, sinto que minha experiência foi tomada, de fato, pelo Alan Wake. Sua simples presença traz mais sentido à minha experiência em Control e até para Jesse como personagem em uma perspectiva segmentar (no sentido de muitas camadas). Jesse é mais uma peça para que Alan Wake consiga iluminar seu caminho à tomada de controle, e isso resume essa boa DLC.
2019
Eu sinto pena de Control ser um jogo e não poder ser chamado de surrealista.
Antes que esse comentário soe como pedante ou diminutivo para jogos como arte ou Control como um jogo, preciso deixar claro o que senti enquanto jogava Control.
Eu já havia deixado de jogar Control antes, mas por estar testando e não ter ido muito a fundo no que se tratava. Depois de ter jogado Alan Wake, jogar Control era o próximo passo lógico e estava emocionalmente preparado para o que quer que fosse esse jogo.
Control é bem estranho, de fato.
Visualmente, é um espetáculo, o surrealismo aqui se mistura ao brutalismo e nos deixa insignificantes e ao mesmo tempo, inconsequentes. Isso, apoiado em uma narrativa bem única, promove um jogo AAA pelo menos “estranho” e nisso Control me fisgou em vários momentos. É uma pena, porém, esse jogo encontrar amarras justamente no que o torna um jogo.
Inicialmente, as mecânicas de Control são: jogo de ação com poderes. Os poderes não são nada de mais e a maior conexão que consigo tirar é que, de fato, estamos TOMANDO CONTROLE.
Os poderes nos fazem tomar controle de objetos, pessoas e até de nós mesmos ao levitarmos e manipularmos nosso corpo. Porém, essa conexão é uma linha fina e sensível que acaba se estourando ao ser estressada pelo loop encharcado de combate. Eventualmente, o ato de controlar, que inicialmente parece tão significativo quanto a lanterna do Alan Wake, se torna apenas mais uma mecânica de combate junto às diversas armas, upgrades e mods que você encontra pelo jogo.
O momento em que Control foi mais livre é o labirinto vivo do TAKE CONTROL. Ali o jogo consegue ser livre em estética e arte, mas também em mecânica, ainda mais se, assim como eu, você balanceou o jogo para ter energia quase infinita e poder flutuar e usar poderes à vontade. Se eu não tivesse feito isso, talvez não teria terminado esse jogo, mas, graças a uma feature modular de dificuldade, consegui ter uma experiência boa, mas que beirou o cansaço e exaustão de combate, ainda mais quando se trata da FUNDAÇÃO, a DLC que é, basicamente, combate e puzzles.
Puzzles aqui que não usam 100% do que poderíamos fazer com a simples mecânica de telecinese. Em Alan Wake, por exemplo, a Remedy extrapola mais o significado de luz e temos equipamentos e puzzles que utilizam a luz, alguns até de forma inteligente. Aqui, os puzzles são simples e parece que a mecânica de telecinese se resume a encaixar objeto A no ponto B, coisa que poderíamos fazer com as mãos.
Porém, se formos olhar em uma perspectiva de design, Control é amarradinho no que se espera de um jogo, e é nesse ponto que eu não gosto da conceitualização de Control como “video games”. Do mesmo jeito que criticamos a implementação de mundos abertos sem um porquê, sidequests, níveis e loot sem um porquê em jogos AAA do mercado, me pergunto o mesmo para Control que, surpreendentemente, inclui cada um desses aspectos citados. Agora, por que? Não consegui encontrar essa resposta no jogo, mas em mim, isso apenas me desconectou da experiência como faria em qualquer jogo da Ubisoft.
Na verdade, essa falta de conexão na minha experiência ficou também na narrativa. Apesar de adorar sua direção, os temas são, basicamente, Worldbuilding. A trama pessoal da Jesse aqui não importou muito para mim já que o jogo parecia se importar mais em explicar e estender as regras daquele universo.
Existe uma questão sobre explicar universos fictícios que me intriga em alguns jogos, o apego pelas regras. As regras do mundo são cruciais para a elaboração de um worldbuilding, é isso que aprendemos em cursos de narrative design, mas quando vejo um jogo que se preocupa tanto com regras e “porquês” eu sinto um realismo que não me agrada muito em jogos que querem ser tão livres quanto Control. Ao meu ver, esses jogos brilham quando justamente o Porquê não está em um item de lore, um codex ou uma teoria do personagem, mas sim em nossa interpretação.
Por que a Jesse é a Diretora? Porque o jogo é sobre controle, e para mim, isso é suficiente.
Mas, novamente, isso é esperado de grandes jogos. Mesmo sabendo que jogos são tão jogos com ou sem combate, upgrades, mundo aberto e um worldbuilding coeso, Control parece se render, o que é uma pena. Afinal, não diria que Control é surreal, já que absolutamente tudo naquele jogo está imerso e ancorado na sua própria realidade e, sendo as suas regras claras, as consequências são previsíveis e pouco subjetivas, mas pelo menos divertidas.
Antes que esse comentário soe como pedante ou diminutivo para jogos como arte ou Control como um jogo, preciso deixar claro o que senti enquanto jogava Control.
Eu já havia deixado de jogar Control antes, mas por estar testando e não ter ido muito a fundo no que se tratava. Depois de ter jogado Alan Wake, jogar Control era o próximo passo lógico e estava emocionalmente preparado para o que quer que fosse esse jogo.
Control é bem estranho, de fato.
Visualmente, é um espetáculo, o surrealismo aqui se mistura ao brutalismo e nos deixa insignificantes e ao mesmo tempo, inconsequentes. Isso, apoiado em uma narrativa bem única, promove um jogo AAA pelo menos “estranho” e nisso Control me fisgou em vários momentos. É uma pena, porém, esse jogo encontrar amarras justamente no que o torna um jogo.
Inicialmente, as mecânicas de Control são: jogo de ação com poderes. Os poderes não são nada de mais e a maior conexão que consigo tirar é que, de fato, estamos TOMANDO CONTROLE.
Os poderes nos fazem tomar controle de objetos, pessoas e até de nós mesmos ao levitarmos e manipularmos nosso corpo. Porém, essa conexão é uma linha fina e sensível que acaba se estourando ao ser estressada pelo loop encharcado de combate. Eventualmente, o ato de controlar, que inicialmente parece tão significativo quanto a lanterna do Alan Wake, se torna apenas mais uma mecânica de combate junto às diversas armas, upgrades e mods que você encontra pelo jogo.
O momento em que Control foi mais livre é o labirinto vivo do TAKE CONTROL. Ali o jogo consegue ser livre em estética e arte, mas também em mecânica, ainda mais se, assim como eu, você balanceou o jogo para ter energia quase infinita e poder flutuar e usar poderes à vontade. Se eu não tivesse feito isso, talvez não teria terminado esse jogo, mas, graças a uma feature modular de dificuldade, consegui ter uma experiência boa, mas que beirou o cansaço e exaustão de combate, ainda mais quando se trata da FUNDAÇÃO, a DLC que é, basicamente, combate e puzzles.
Puzzles aqui que não usam 100% do que poderíamos fazer com a simples mecânica de telecinese. Em Alan Wake, por exemplo, a Remedy extrapola mais o significado de luz e temos equipamentos e puzzles que utilizam a luz, alguns até de forma inteligente. Aqui, os puzzles são simples e parece que a mecânica de telecinese se resume a encaixar objeto A no ponto B, coisa que poderíamos fazer com as mãos.
Porém, se formos olhar em uma perspectiva de design, Control é amarradinho no que se espera de um jogo, e é nesse ponto que eu não gosto da conceitualização de Control como “video games”. Do mesmo jeito que criticamos a implementação de mundos abertos sem um porquê, sidequests, níveis e loot sem um porquê em jogos AAA do mercado, me pergunto o mesmo para Control que, surpreendentemente, inclui cada um desses aspectos citados. Agora, por que? Não consegui encontrar essa resposta no jogo, mas em mim, isso apenas me desconectou da experiência como faria em qualquer jogo da Ubisoft.
Na verdade, essa falta de conexão na minha experiência ficou também na narrativa. Apesar de adorar sua direção, os temas são, basicamente, Worldbuilding. A trama pessoal da Jesse aqui não importou muito para mim já que o jogo parecia se importar mais em explicar e estender as regras daquele universo.
Existe uma questão sobre explicar universos fictícios que me intriga em alguns jogos, o apego pelas regras. As regras do mundo são cruciais para a elaboração de um worldbuilding, é isso que aprendemos em cursos de narrative design, mas quando vejo um jogo que se preocupa tanto com regras e “porquês” eu sinto um realismo que não me agrada muito em jogos que querem ser tão livres quanto Control. Ao meu ver, esses jogos brilham quando justamente o Porquê não está em um item de lore, um codex ou uma teoria do personagem, mas sim em nossa interpretação.
Por que a Jesse é a Diretora? Porque o jogo é sobre controle, e para mim, isso é suficiente.
Mas, novamente, isso é esperado de grandes jogos. Mesmo sabendo que jogos são tão jogos com ou sem combate, upgrades, mundo aberto e um worldbuilding coeso, Control parece se render, o que é uma pena. Afinal, não diria que Control é surreal, já que absolutamente tudo naquele jogo está imerso e ancorado na sua própria realidade e, sendo as suas regras claras, as consequências são previsíveis e pouco subjetivas, mas pelo menos divertidas.
2024
Em vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=gl7BzEGmL5o
Você foi criada por um Culto de fanáticos que te usou durante anos por conta de seus poderes sinistros de telecinése. Agora, livre das amarras da fé, começa sua jornada de vingança caçando um a um até encaixar uma bala na testa do líder. Só que nesse jogo, você é a bala.
"Children of the Sun" é descrito como um jogo tático de quebra-cabeça com tiro em terceira pessoa e eu nunca eu vi nada igual.
Dirigido Por René Rother que já fazia jogos bem estranhamente belos e gratuitos no itch.io, estreia seu primeiro jogo publicado pela Devolver Digital.
Uma aventura curta, como de costume do autor, mas que vai te fazer pensar em estratégias para derrotar múltiplos inimigos em cada fase com apenas 1 bala. Tendo o poder de controlar a direção da bala em cada acerto, nos vemos forçados a um planejamento estratégico bem semelhante a puzzles de ação como os de Superhot. Porém, por sermos sniper, ainda precisamos de habilidade para acertar cada vez mais em menos tempo e rankear bem no leaderboard global.
Ser a bala nesse jogo é cruel, acompanhar o momento em que sanguináriamente acertamos inimigos assusatados em seus pontos fracos aproximam o interlocutor da pscopatia da personagem principal.
Em meio a isso, o jogo demonstra um domínio de seu loop principal, com inimigos cada vez mais fortes, mas com novas habilidades surgindo na medida que avançamos, o jogo faz o feijão com arroz de um bom design. Ou talvez a melhor analogia seja de um hambúrguer rearranjado em um prato, afinal, apesar de sua estética ser brilhantemente caótica e disruptiva, seu gosto ainda é de um jogo bem nos conformes dos padrões de design do grande mercado. Isso não é ruim, mas devo admitir que senti uma pessoalidade maior em Donata, Rotting Crescendo e I am the Sun do mesmo autor. Este último por sinal, que possui leves referências em Children of the Sun.
Apesar do polimento não característico do autor, ainda temos sua assinatura, com uma trama super obtusa e indireta, mas que contextualiza bem sua gameplay e nos dá um motivo para caçar a vingança da personagem principal me garantiu algumas horas de diversão e uma vontade para descobrir mais artes do René.
E eu te convido a fazer o mesmo
Texto completo:
https://www.gamedesignhub.com.br/post/children-of-the-sun-critica-analise
https://www.youtube.com/watch?v=gl7BzEGmL5o
Você foi criada por um Culto de fanáticos que te usou durante anos por conta de seus poderes sinistros de telecinése. Agora, livre das amarras da fé, começa sua jornada de vingança caçando um a um até encaixar uma bala na testa do líder. Só que nesse jogo, você é a bala.
"Children of the Sun" é descrito como um jogo tático de quebra-cabeça com tiro em terceira pessoa e eu nunca eu vi nada igual.
Dirigido Por René Rother que já fazia jogos bem estranhamente belos e gratuitos no itch.io, estreia seu primeiro jogo publicado pela Devolver Digital.
Uma aventura curta, como de costume do autor, mas que vai te fazer pensar em estratégias para derrotar múltiplos inimigos em cada fase com apenas 1 bala. Tendo o poder de controlar a direção da bala em cada acerto, nos vemos forçados a um planejamento estratégico bem semelhante a puzzles de ação como os de Superhot. Porém, por sermos sniper, ainda precisamos de habilidade para acertar cada vez mais em menos tempo e rankear bem no leaderboard global.
Ser a bala nesse jogo é cruel, acompanhar o momento em que sanguináriamente acertamos inimigos assusatados em seus pontos fracos aproximam o interlocutor da pscopatia da personagem principal.
Em meio a isso, o jogo demonstra um domínio de seu loop principal, com inimigos cada vez mais fortes, mas com novas habilidades surgindo na medida que avançamos, o jogo faz o feijão com arroz de um bom design. Ou talvez a melhor analogia seja de um hambúrguer rearranjado em um prato, afinal, apesar de sua estética ser brilhantemente caótica e disruptiva, seu gosto ainda é de um jogo bem nos conformes dos padrões de design do grande mercado. Isso não é ruim, mas devo admitir que senti uma pessoalidade maior em Donata, Rotting Crescendo e I am the Sun do mesmo autor. Este último por sinal, que possui leves referências em Children of the Sun.
Apesar do polimento não característico do autor, ainda temos sua assinatura, com uma trama super obtusa e indireta, mas que contextualiza bem sua gameplay e nos dá um motivo para caçar a vingança da personagem principal me garantiu algumas horas de diversão e uma vontade para descobrir mais artes do René.
E eu te convido a fazer o mesmo
Texto completo:
https://www.gamedesignhub.com.br/post/children-of-the-sun-critica-analise
TBD
Não tem muito aqui além de uma curta experiência. É interessante ver como o René Rother já se mostrava obtuso em sua mensagem.
curisoo também como que é possível ver uma conexão entre "I am the Sun" e "Children of the Sun", este publicado em 2024 pela Devolver Digital, mesmo que muito diferente em quase tudo exceto pela sua direção atoral. O artista foi fiel a si mesmo pelo que parece, sua assinatura se mostra constante
curisoo também como que é possível ver uma conexão entre "I am the Sun" e "Children of the Sun", este publicado em 2024 pela Devolver Digital, mesmo que muito diferente em quase tudo exceto pela sua direção atoral. O artista foi fiel a si mesmo pelo que parece, sua assinatura se mostra constante
2016
Acredito que todo jogo é uma mensagem, uma conversa.
Muitas vezes quando se trata de jogos independentes, essa carta tem um toque muito pessoal e íntimo.
Rotting crescendo não é um jogo para mim, nem para você. É uma carta para alguem que não conhecemos, mas que claramente era muito amado pelo locutor.
Em poucos minutos o jogo entrega essa carta e cria essa personagem que nos despedimos em meio a uma tempestade. A mortalidade aqui é ressaltada e, por se tratar de uma carta em formato de jogo, se torna muito real e pessoal.
Acho lindo jogos pessoais e esse mostra que não precisa de muito para se ter uma conversa linda e pessoal
Muitas vezes quando se trata de jogos independentes, essa carta tem um toque muito pessoal e íntimo.
Rotting crescendo não é um jogo para mim, nem para você. É uma carta para alguem que não conhecemos, mas que claramente era muito amado pelo locutor.
Em poucos minutos o jogo entrega essa carta e cria essa personagem que nos despedimos em meio a uma tempestade. A mortalidade aqui é ressaltada e, por se tratar de uma carta em formato de jogo, se torna muito real e pessoal.
Acho lindo jogos pessoais e esse mostra que não precisa de muito para se ter uma conversa linda e pessoal
2004
Existe muita competência neste jogo e um carisma bem típico dos survival horrors do início dos anos 2000. Um survival horror cooperativo não poderia ser mais consciente de sua proposta. Uma trama que exagera em tropos escolares com um toque tão simples que te faz querer terminar o jogo só para ver o quão genuína será sua execução. Pois eu me surpreendi com o quão coeso este jogo é e o quão contemplativo ele pode ser! Enquanto os personagens têm um sabor meio ameno, a trilha sonora conduz os pontos de intensidade com um esmero absurdo! Sério, este jogo é como um frasco de guloseimas que você esqueceu atrás do armário e acaba de encontrar! Ele vai te deixar ainda mais feliz ao compartilhar com alguém!
2024
Não tem muito o que se ver aqui além do teste de um conceito bem interessante, mas não muito explorado.
A experiência parece ser marcante pela temática de loop pós morte, presos no purgatorio em loop temporal de um corredor apertado. Porém, a dinamica de 7 erros é vazia de significado, visto que não conheço a personagem e ter uma textura diferente no tapete ou no livro nao me conta nada sobre o mundo ou as pessoas do jogo.
Para entender melhor, precisamos ler o codex de erros que traz umas reflexões que se tornam vazias por conta da falta de conhecimento da personagem, são reflexões sem muita personalidade.
Ainda assim, a mecaância é interessante e espero que seja explorada em outros jogos.
A experiência parece ser marcante pela temática de loop pós morte, presos no purgatorio em loop temporal de um corredor apertado. Porém, a dinamica de 7 erros é vazia de significado, visto que não conheço a personagem e ter uma textura diferente no tapete ou no livro nao me conta nada sobre o mundo ou as pessoas do jogo.
Para entender melhor, precisamos ler o codex de erros que traz umas reflexões que se tornam vazias por conta da falta de conhecimento da personagem, são reflexões sem muita personalidade.
Ainda assim, a mecaância é interessante e espero que seja explorada em outros jogos.
Texto completo:
https://www.gamedesignhub.com.br/post/corponation-higienizando-a-revolução-proletariada-artigo-crítica
Antes de começar esse texto, gostaria de dizer que eu sou indiedev e que tenho Monotonia, um jogo muito parecido com as temáticas desse jogo e um prólogo dele lançado no ano passado e por isso mesmo, eu tinha altas expectativas com Corponation.
Monotonia foi minha militância pessoal e, como alguém que vive à mercê de um sistema de trabalho opressor, a arte foi minha forma de lutar.
Ver o trailer de Corponation me fez sentir que o GDH não lutava sozinho. Como alguém que busca descapitalizar a arte, ver colegas fazerem o mesmo foi o motivo de eu jogar esse jogo. Do começo ao final, eu esperava sair dele feliz, até fã. Porém, o motivo de eu redigir essa crítica vai além de uma mera experiência. Tal qual espero de toda e qualquer arte, a crítica também é nossa luta e, por meio dela, nossa militância em forma de expressão ganhará significado.
Minha leitura de Corponation vem de uma visão pessoal, mas minha crítica é a ação. Eu acredito na mudança, mas acredito na mudança completa e quando existe a vontade de mudança, poderemos fazê-la por um caminho em que nos unimos.
Mas para que haja união, é necessário existir antes o debate. Esse texto é meu debate pessoal às ideias demonstradas em Corponation.
Arte é trabalho.
E se eu tivesse que discorrer sobre o significado de qualquer um desses dois termos, aqui ficaríamos horas conversando ou até discutindo.
Mas podemos assumir que não existe uma forma prática atualmente de desassociar arte do modelo produtivo de trabalho se ainda dentro das rédeas capitalistas. Os artistas geram valor, por diversas circunstâncias suas obras são lidas como produto e, portanto, seu esforço em gerar essas obras pode ser lido como trabalho. Mesmo que para uso pessoal, a arte em si foi tomada pelo capital, afinal, nas regras que vivemos tudo tem um valor, seja sua arte ou você, artista.
Potencial humano sendo traduzido para potencial capital e financeiro, você é avaliado de acordo com o que produz financeiramente, e, claro, isso é refletido na arte.
Não apenas figurativamente, mas de uma forma intrínseca e muitas vezes inconsciente. A arte, por mais revolucionária que seus temas possam ser, é tão nativa do capital que seu formato cede ao conformismo social de valor capitalista. Vejam o Barbie, por exemplo. Apesar de eu, pessoalmente, adorar o filme, seus tópicos de trabalho direcionados a trabalhadoras mulheres possuem uma conclusão comercialmente higienizada.
Inicialmente, as Barbies são personalizadas de acordo com sua função social, ou melhor, profissão. Nesse momento, Kens são vistos como inúteis por apenas existirem. A profissão do Ken, por exemplo, é praia. Na medida em que a trama avança, Ken é exposto ao mundo patriarcal em que o trabalho é direcionado ao homem e, percebam, o dignifica. Ken então promove um golpe de classe, assumindo as eleições e colocando as Barbies em uma posição de serviço e trabalho doméstico (que é tão trabalhoso quanto). O mundo da Barbie então se torna uma Utopia (não tão hiperbólica) do patriarcado (que é mais próximo do real do que deveria ser).
Agora, a solução da Barbie é organizar e tomar o poder! Elas então promovem uma organização de classe e tomam as eleições revertendo a situação.
Perceba que o sistema que criou o universo do Ken foi o mesmo que criou o da Barbie. A solução da Barbie para uma luta de classe não foi de mudar o sistema, foi de conciliar as classes e manter a democracia que elegerá sempre quem está no poder (felizmente a Barbie no fim do filme).
Agora, como isso poderia ser diferente? O mundo da Barbie emula a estrutura do mundo real com exceção do patriarcado, o erro aqui está, porém, em não associar esses dois. O patriarcado e a opressão no trabalho são diretamente associados à democracia burguesa do cenário atual da maioria do mundo.
Seria pedir demais uma mudança completa no sistema da Barbie? Claro! É ainda um filme de Hollywood e por mais que a mensagem seja revolucionária e importante, é ainda higienizada. Precisa vender, ainda é um produto capital.
Então, por mais que a mensagem seja revolução, ela vem com forma, tamanho e cores de conformismo.
Assim foi Corponation.
Toda obra fala. Independente de intenção autoral, mensagens podem transbordar da obra pelos seus temas, personagens, histórias, cores, formas, texturas, sons, enfim. Em alguns casos, a obra prefere não tomar lado, e isso também é se posicionar, muitas vezes até acreditam ser o ideal não ter posicionamento, como é o caso de muitos documentários.
Acontece que, independente da tentativa de esvaziamento, a mensagem é sempre denunciada por uma força intrínseca a toda e qualquer obra de arte: o formato.
Desde o literal formato em que a arte é demonstrada, até o fundamental da obra em si. A forma é a lente pela qual toda obra é apresentada e vista, um posicionamento da câmera, um enquadramento, um tom de cor e, no caso de jogos, uma gameplay.
A forma é talvez o meio pelo qual escutamos o tema da obra e é tão importante quanto, se não ainda mais, para mim pelo menos.
Mas em Corponation, quando seu tema revolucionário se desmonta pelo final hesitante e sem consequências, sua forma é evidenciada sendo comercialmente higienizada.
Assim como tantas outras obras citadas anteriormente, Corponation escolhe mostrar apenas o lado monótono e alienado do trabalhador explorado, mas não oferece nenhuma solução e nem resposta que fuja do sistema, tanto em tema quanto em formato.
Afinal, se queremos demonstrar a opressão, angústia, medo e tensão de um trabalho precarizado, por que não utilizar o poder da mídia interativa e o formato de jogos?
Corponation poderia exigir uma urgência em sua gameplay, poderia fazer as contas serem opressoras e o trabalho ser exaustivo.
Em algum momento, percebi que não precisava fazer nada no trabalho e que ninguém estaria olhando minhas falhas ou minha revolta. Eventualmente, tive dinheiro suficiente para decidir não trabalhar durante o turno ou ignorar as ordens, o que, claro, não teve consequências reais. Exatamente como esperamos de um jogo comercialmente “gentil” com quem joga/compra. Afinal, se formos seguir o bom design de mercado, não podemos ser punitivos como o mercado de fato é, não é mesmo?
Os colegas de trabalho se tornam apenas ferramentas de design, porque não podemos deixar o player perder conteúdo, não é? Então garantimos que terá sempre um NPC te avisando sobre aquele item ou aquele evento.
E ao final, mesmo o jogo sugerindo que tudo tem que voltar a ser como era caso você não escolha a promoção, o jogo não vai apagar o save, afinal, isso seria ousadia demais, não é?
Ou pior, já que trabalhar pode ser difícil, vamos adicionar uma opção para aliviar a monotonia no trabalho, como se ele já não fosse piedoso o suficiente, afinal, o bom design exige modo de dificuldade.
São formatos de design extremamente pasteurizados e enlatados para o público geral e contrastam fortemente com qualquer mensagem revolucionária, mas casam perfeitamente com o que foi o final desse jogo.
Afinal, existem diversas formas de você fazer com que o jogo seja balanceado, ou que não seja tão punitivo, mas fazer a pessoa se sentir pressionada e, em muitos casos, é necessário sim quebrar o design, o game design também pode ser revolucionário e se seu jogo tem esses temas, ele precisa ser!
No fim de tudo, Corponation é contraditório em tema e em forma, sendo então um produto frustrado ainda preso pelas amarras do mercado, mesmo na tentativa de emancipação.
O ponto é que senti a necessidade de ser sujo em termos de design, o anti-design é uma ferramenta perfeita para o tema de revolução proletária.
Ainda assim, Corponation decide não utilizar disso. Eu imagino o quanto esse jogo talvez quisesse se livrar dos padrões, mas foi condicionado a não o fazer, seja por decisões criativas internas ou externas. De todo modo, a higiene de Corponation destrói sua vontade revolucionária, a falta de consequência entre uma não posição e ficar em cima do muro invalida muito das 6 horas de experiência.
De certa forma, Corponation está para jogos como Barbie está para o cinema, aprisionado em um modelo capital que impossibilita qualquer quebra de paradigma que parece ofensivo para a indústria. Não é a primeira vez que vejo isso em jogos, só que mais do que nunca, esperava que não fosse.
https://www.gamedesignhub.com.br/post/corponation-higienizando-a-revolução-proletariada-artigo-crítica
Antes de começar esse texto, gostaria de dizer que eu sou indiedev e que tenho Monotonia, um jogo muito parecido com as temáticas desse jogo e um prólogo dele lançado no ano passado e por isso mesmo, eu tinha altas expectativas com Corponation.
Monotonia foi minha militância pessoal e, como alguém que vive à mercê de um sistema de trabalho opressor, a arte foi minha forma de lutar.
Ver o trailer de Corponation me fez sentir que o GDH não lutava sozinho. Como alguém que busca descapitalizar a arte, ver colegas fazerem o mesmo foi o motivo de eu jogar esse jogo. Do começo ao final, eu esperava sair dele feliz, até fã. Porém, o motivo de eu redigir essa crítica vai além de uma mera experiência. Tal qual espero de toda e qualquer arte, a crítica também é nossa luta e, por meio dela, nossa militância em forma de expressão ganhará significado.
Minha leitura de Corponation vem de uma visão pessoal, mas minha crítica é a ação. Eu acredito na mudança, mas acredito na mudança completa e quando existe a vontade de mudança, poderemos fazê-la por um caminho em que nos unimos.
Mas para que haja união, é necessário existir antes o debate. Esse texto é meu debate pessoal às ideias demonstradas em Corponation.
Arte é trabalho.
E se eu tivesse que discorrer sobre o significado de qualquer um desses dois termos, aqui ficaríamos horas conversando ou até discutindo.
Mas podemos assumir que não existe uma forma prática atualmente de desassociar arte do modelo produtivo de trabalho se ainda dentro das rédeas capitalistas. Os artistas geram valor, por diversas circunstâncias suas obras são lidas como produto e, portanto, seu esforço em gerar essas obras pode ser lido como trabalho. Mesmo que para uso pessoal, a arte em si foi tomada pelo capital, afinal, nas regras que vivemos tudo tem um valor, seja sua arte ou você, artista.
Potencial humano sendo traduzido para potencial capital e financeiro, você é avaliado de acordo com o que produz financeiramente, e, claro, isso é refletido na arte.
Não apenas figurativamente, mas de uma forma intrínseca e muitas vezes inconsciente. A arte, por mais revolucionária que seus temas possam ser, é tão nativa do capital que seu formato cede ao conformismo social de valor capitalista. Vejam o Barbie, por exemplo. Apesar de eu, pessoalmente, adorar o filme, seus tópicos de trabalho direcionados a trabalhadoras mulheres possuem uma conclusão comercialmente higienizada.
Inicialmente, as Barbies são personalizadas de acordo com sua função social, ou melhor, profissão. Nesse momento, Kens são vistos como inúteis por apenas existirem. A profissão do Ken, por exemplo, é praia. Na medida em que a trama avança, Ken é exposto ao mundo patriarcal em que o trabalho é direcionado ao homem e, percebam, o dignifica. Ken então promove um golpe de classe, assumindo as eleições e colocando as Barbies em uma posição de serviço e trabalho doméstico (que é tão trabalhoso quanto). O mundo da Barbie então se torna uma Utopia (não tão hiperbólica) do patriarcado (que é mais próximo do real do que deveria ser).
Agora, a solução da Barbie é organizar e tomar o poder! Elas então promovem uma organização de classe e tomam as eleições revertendo a situação.
Perceba que o sistema que criou o universo do Ken foi o mesmo que criou o da Barbie. A solução da Barbie para uma luta de classe não foi de mudar o sistema, foi de conciliar as classes e manter a democracia que elegerá sempre quem está no poder (felizmente a Barbie no fim do filme).
Agora, como isso poderia ser diferente? O mundo da Barbie emula a estrutura do mundo real com exceção do patriarcado, o erro aqui está, porém, em não associar esses dois. O patriarcado e a opressão no trabalho são diretamente associados à democracia burguesa do cenário atual da maioria do mundo.
Seria pedir demais uma mudança completa no sistema da Barbie? Claro! É ainda um filme de Hollywood e por mais que a mensagem seja revolucionária e importante, é ainda higienizada. Precisa vender, ainda é um produto capital.
Então, por mais que a mensagem seja revolução, ela vem com forma, tamanho e cores de conformismo.
Assim foi Corponation.
Toda obra fala. Independente de intenção autoral, mensagens podem transbordar da obra pelos seus temas, personagens, histórias, cores, formas, texturas, sons, enfim. Em alguns casos, a obra prefere não tomar lado, e isso também é se posicionar, muitas vezes até acreditam ser o ideal não ter posicionamento, como é o caso de muitos documentários.
Acontece que, independente da tentativa de esvaziamento, a mensagem é sempre denunciada por uma força intrínseca a toda e qualquer obra de arte: o formato.
Desde o literal formato em que a arte é demonstrada, até o fundamental da obra em si. A forma é a lente pela qual toda obra é apresentada e vista, um posicionamento da câmera, um enquadramento, um tom de cor e, no caso de jogos, uma gameplay.
A forma é talvez o meio pelo qual escutamos o tema da obra e é tão importante quanto, se não ainda mais, para mim pelo menos.
Mas em Corponation, quando seu tema revolucionário se desmonta pelo final hesitante e sem consequências, sua forma é evidenciada sendo comercialmente higienizada.
Assim como tantas outras obras citadas anteriormente, Corponation escolhe mostrar apenas o lado monótono e alienado do trabalhador explorado, mas não oferece nenhuma solução e nem resposta que fuja do sistema, tanto em tema quanto em formato.
Afinal, se queremos demonstrar a opressão, angústia, medo e tensão de um trabalho precarizado, por que não utilizar o poder da mídia interativa e o formato de jogos?
Corponation poderia exigir uma urgência em sua gameplay, poderia fazer as contas serem opressoras e o trabalho ser exaustivo.
Em algum momento, percebi que não precisava fazer nada no trabalho e que ninguém estaria olhando minhas falhas ou minha revolta. Eventualmente, tive dinheiro suficiente para decidir não trabalhar durante o turno ou ignorar as ordens, o que, claro, não teve consequências reais. Exatamente como esperamos de um jogo comercialmente “gentil” com quem joga/compra. Afinal, se formos seguir o bom design de mercado, não podemos ser punitivos como o mercado de fato é, não é mesmo?
Os colegas de trabalho se tornam apenas ferramentas de design, porque não podemos deixar o player perder conteúdo, não é? Então garantimos que terá sempre um NPC te avisando sobre aquele item ou aquele evento.
E ao final, mesmo o jogo sugerindo que tudo tem que voltar a ser como era caso você não escolha a promoção, o jogo não vai apagar o save, afinal, isso seria ousadia demais, não é?
Ou pior, já que trabalhar pode ser difícil, vamos adicionar uma opção para aliviar a monotonia no trabalho, como se ele já não fosse piedoso o suficiente, afinal, o bom design exige modo de dificuldade.
São formatos de design extremamente pasteurizados e enlatados para o público geral e contrastam fortemente com qualquer mensagem revolucionária, mas casam perfeitamente com o que foi o final desse jogo.
Afinal, existem diversas formas de você fazer com que o jogo seja balanceado, ou que não seja tão punitivo, mas fazer a pessoa se sentir pressionada e, em muitos casos, é necessário sim quebrar o design, o game design também pode ser revolucionário e se seu jogo tem esses temas, ele precisa ser!
No fim de tudo, Corponation é contraditório em tema e em forma, sendo então um produto frustrado ainda preso pelas amarras do mercado, mesmo na tentativa de emancipação.
O ponto é que senti a necessidade de ser sujo em termos de design, o anti-design é uma ferramenta perfeita para o tema de revolução proletária.
Ainda assim, Corponation decide não utilizar disso. Eu imagino o quanto esse jogo talvez quisesse se livrar dos padrões, mas foi condicionado a não o fazer, seja por decisões criativas internas ou externas. De todo modo, a higiene de Corponation destrói sua vontade revolucionária, a falta de consequência entre uma não posição e ficar em cima do muro invalida muito das 6 horas de experiência.
De certa forma, Corponation está para jogos como Barbie está para o cinema, aprisionado em um modelo capital que impossibilita qualquer quebra de paradigma que parece ofensivo para a indústria. Não é a primeira vez que vejo isso em jogos, só que mais do que nunca, esperava que não fosse.
Como pode um jogo ser tão competente no que se entrega?
personagens carismáticos, um humor LINDO de tão inocente.
RE é um jogo muito feliz e eu fui feliz jogando ele! Em qualquer outro momento teria muito medo de jogar esse jogo, mas para minha surpresa encontrei um humor imerso em uma mecanica de fragilidade e gestao de recursos. Muito bem feito e bem pensado, esse jogo se domina.
Irei par a aversão mais atual do RE agora, ansioso!
personagens carismáticos, um humor LINDO de tão inocente.
RE é um jogo muito feliz e eu fui feliz jogando ele! Em qualquer outro momento teria muito medo de jogar esse jogo, mas para minha surpresa encontrei um humor imerso em uma mecanica de fragilidade e gestao de recursos. Muito bem feito e bem pensado, esse jogo se domina.
Irei par a aversão mais atual do RE agora, ansioso!
Nao senti nada.
Eu entendo que talvez esse jogo seja imporatne para a lore do Alan Wake, mas isso sinceramente não me importa. Quando se fala da experiencia em si, essa experiencia não entrega nada que Alan Wake 1 já não entregue de forma muito melhor. Não é ofensivo, mas devo esqeucer que joguei ele em algumas semanas
Eu entendo que talvez esse jogo seja imporatne para a lore do Alan Wake, mas isso sinceramente não me importa. Quando se fala da experiencia em si, essa experiencia não entrega nada que Alan Wake 1 já não entregue de forma muito melhor. Não é ofensivo, mas devo esqeucer que joguei ele em algumas semanas
2010
O eu lírico é uma ferramenta muito forte na narrativa, é a voz do poema ou da história, mas não é o poeta nem o escritor.
Podemos imaginar o eu lírico como um personagem que funciona como uma lente que evidencia a escrita, mas essa lente também pode refletir opiniões, emoções e até se inserir na história.
No entanto, o eu lírico é também uma interpretação do ser artista, podendo ser um pedaço dessa pessoa ou até sua introspecção. Na mídia escrita, isso é, de certa forma, fácil de se localizar e se relacionar. O eu lírico é a voz do poema (e podemos expandir facilmente para qualquer formato literário). Em outras mídias, porém, a função do eu lírico fica mais turva à medida que nos distanciamos das palavras como meio principal de expressão.
Embora o eu lírico se confunda, acredito que ele esteja lá. A lente pela qual vemos uma foto, um filme ou um quadro é sempre uma lente interpretativa que pode, ou não, ser próxima ao autor ou autora. Mesmo se levarmos em conta a "morte do autor", acredito que o eu lírico seja o mais próximo que vamos chegar de uma visão do "autor" da obra (que não é a pessoa que a assinou, mas a fantasia que criamos dessa pessoa). Essa lente nos leva pela experiência e somos limitados pelo alcance dessa lente, suas bordas e até suas opiniões, sentimentos e conflitos (até mesmo em modelos mais realistas, justamente pelo eu lírico), estes que não são exatamente de uma pessoa na vida real, mas uma interpretação de si ou de um coletivo que se expressa por uma lente que emula uma entidade.
"Invernáculo
Esta língua não é minha,
qualquer um percebe.
Quem sabe maldigo mentiras,
vai ver que só minto verdades.
Assim me falo, eu, mínima,
quem sabe, eu sinto, mal sabe.
Esta não é minha língua.
A língua que eu falo trava
uma canção longínqua,
a voz, além, nem palavra.
O dialeto que se usa
à margem esquerda da frase,
eis a fala que me lusa,
eu, meio, eu dentro, eu, quase." - Paulo Leminski
Mas e em jogos? Quem guia nossa experiência? Onde está o eu lírico da mídia que permite ao interlocutor controlar tal lente?
Muitas vezes a modificamos, lutamos contra ela e até nos revoltamos quando essa lente parece muito possessiva e controladora. Sabemos que ela está lá, mesmo dentro de um mundo enorme e aberto, somos limitados a um quadro, início e, em alguns casos, fim. Em alguns jogos nos aproximamos muito do eu lírico e usamos o termo "autoral" para adjetivá-las, em outros, essa pessoa parece distante e inalcançável.
Alan Wake me fisgou ao evidenciar seu eu lírico imediatamente.
Eu enxerguei o eu lírico, mas não sou próximo a ele e não é o autor, o eu lírico de Alan Wake grita e mergulha na obra como um personagem, jogamos um jogo completamente consciente de suas lentes líricas, mas não essencialmente autoral por conta disso.
Um jogo sobre escrita, autoria, expressão e imaginário faz todo sentido abordar um tema tão conflituoso e de certa forma profundo como a visão do eu lírico. Na introdução do jogo já temos a figura do narrador que, a priori, também pode servir como o eu lírico. Alan narra sua própria história, atuando inicialmente como narrador-personagem. Porém, quando Alan está em apuros, vemos uma luz divina surgir e entregar ferramentas úteis para Alan, nosso protagonista. Essa luz então vai embora, e seguimos a narrativa. Essa luz foi o que me fez terminar esse jogo.
[Spoilers daqui em diante]
Se já não bastasse uma narração constante, o jogo nos apresenta uma trama que envolve manuscritos que funcionam como roteiros da nossa narrativa. Tudo está premeditado e deve acontecer como está escrito. Num primeiro momento isso pode parecer bobo, mas para mim foi uma ferramenta narrativa que evidenciou as lentes desse jogo.
O eu lírico de Alan Wake é o personagem principal, você talvez possa associá-lo a Alan Wake, mas eu acredito em outro eu lírico.
Esse jogo brinca com as camadas entre personagem, eu lírico e autor de forma a me sentir em uma postura até passiva em referência à obra. O controle da lente não me incomodou, afinal, tem seu contexto temático para ser assim. Está tudo escrito e seguimos um script junto com Alan.
Isso me distanciou de uma postura ativa na obra, o que pode parecer ruim, mas na verdade foi o que me fez gostar desse jogo. Saber que estamos seguindo um script e o jogo fazer questão de mostrar isso me deixou mais confortável. E devo ressaltar que "seguir um script" é o que a enorme maioria dos jogos (principalmente de cunhos comerciais) fazem, mesmo que alguns tenham vergonha de evidenciar isso e se blindam em camadas autorais ou de mídias irmãs aos jogos.
Na conclusão do jogo, fica mais claro o nosso script e, para mim, também o eu lírico definitivo dessa história.
"Não discuto
com o destino
o que pintar
eu assino." - Paulo Leminski
Saber que estamos seguindo um script me possibilitou jogar esse jogo sem medo, coisa que me impede muito de jogar jogos de terror. Aqui, na verdade, dei algumas risadas. Claro que jogar no modo fácil me ajudou MUITO, e recomendo que qualquer pessoa faça o mesmo, já que, mecanicamente, esse jogo não é complexo e pode se tornar repetitivo. Mas também me deparei com momentos cômicos, principalmente pelos poltergeists, quando a lente evidencia um perigo iminente e é um carretel de fio, um barril ou um trator possuído, estilo o personagem Frank do filme "Carros" (2006).
Apesar de sua jogabilidade e direção mais condensada e controladora, acredito que isso se encaixe perfeitamente no jogo. Em outros jogos, o estilo de third-person shooter narrativo pode parecer apenas um padrão a ser seguido, mas devido à raiz narrativa de Alan Wake, lidar com a sensação de seguir um script se encaixa perfeitamente para mim e também me possibilitou ter uma experiência mais divertida e leve (o que, para mim, em jogos de terror, é a primeira vez).
Esse jogo tem seu carisma, e está claro uma lente autoral forte (veja que aqui me refiro à direção do jogo e não ao eu lírico). No entanto, se fugirmos da camada do eu lírico, a lente autoral me incomoda um pouco por conta do controle não da narrativa ou da jogabilidade, mas da interpretação.
Um jogo sobre mistério etéreo que lida com as nuances de uma mente criativa e os impactos na vida real de criações artísticas fictícias abre muitas margens interpretativas que podem nos levar a discussões incríveis sobre a experiência de cada um em relação à obra. Após jogar Alan Wake, sinto que as discussões serão muito mais em torno do mistério, lore e worldbuilding do que a experiência em si. Acredito que essa morte interpretativa foi causada pela preocupação do próprio jogo em deixar claro tudo que está acontecendo. Qualquer pergunta que poderia ser resolvida com interpretação, agora são respondidas em palavras e, para mim, isso tira um pouco da expressão do jogo.
O jogo cria uma realidade fictícia com regras e coesão, e se prende a essa âncora que o obriga a se justificar constantemente. Embora o jogo lute para escapar dessa âncora com toques surrealistas, acaba cedendo e sente a necessidade de explicar tudo, absolutamente tudo, de um mistério que, tratando-se de temas tão complexos e abstratos como os que mencionei, na verdade, não precisaria mostrar nada uma vez que já inseriu esses dilemas no nosso imaginário.
A maior evidência disso são os 2 capítulos extras. Eu sei que Alan Wake está tendo conflitos internos e lutando contra si mesmo por conta de sua decisão final. No meu imaginário, o que ele estava passando é terrível e não se pode imaginar, e eu acredito que não existe nada mais poderoso do que o inimaginável. Então, quando o jogo me faz jogar 2 horas desse conflito, ele não só o deixa imaginável, mas também palpável, concreto e absoluto. Um reflexo do que a obra fez durante todo o jogo: matar o imaginário.
Isso me deixa triste justamente porque o jogo é sobre isso também. O poder do imaginário criativo e o mal que nos faz mergulhar em criação e não conseguir sair desse estado recluso e até possessivo da expressão artística. A decisão de Alan, ao final, foi pessoalmente triste para mim, já que eu também já vivi essa escolha e me recupero dela até hoje.
Portanto, tenho sensações no imaginário sobre o que Alan e quando o jogo decide mostrar isso, mata esse imaginário e substitui essas sensações por vivências brandas e significativamente fracas.
Esse jogo tinha potencial para abordar esses temas muito mais a fundo, sem peso de realismo, deixar o eu lírico brilhar.
Podemos imaginar o eu lírico como um personagem que funciona como uma lente que evidencia a escrita, mas essa lente também pode refletir opiniões, emoções e até se inserir na história.
No entanto, o eu lírico é também uma interpretação do ser artista, podendo ser um pedaço dessa pessoa ou até sua introspecção. Na mídia escrita, isso é, de certa forma, fácil de se localizar e se relacionar. O eu lírico é a voz do poema (e podemos expandir facilmente para qualquer formato literário). Em outras mídias, porém, a função do eu lírico fica mais turva à medida que nos distanciamos das palavras como meio principal de expressão.
Embora o eu lírico se confunda, acredito que ele esteja lá. A lente pela qual vemos uma foto, um filme ou um quadro é sempre uma lente interpretativa que pode, ou não, ser próxima ao autor ou autora. Mesmo se levarmos em conta a "morte do autor", acredito que o eu lírico seja o mais próximo que vamos chegar de uma visão do "autor" da obra (que não é a pessoa que a assinou, mas a fantasia que criamos dessa pessoa). Essa lente nos leva pela experiência e somos limitados pelo alcance dessa lente, suas bordas e até suas opiniões, sentimentos e conflitos (até mesmo em modelos mais realistas, justamente pelo eu lírico), estes que não são exatamente de uma pessoa na vida real, mas uma interpretação de si ou de um coletivo que se expressa por uma lente que emula uma entidade.
"Invernáculo
Esta língua não é minha,
qualquer um percebe.
Quem sabe maldigo mentiras,
vai ver que só minto verdades.
Assim me falo, eu, mínima,
quem sabe, eu sinto, mal sabe.
Esta não é minha língua.
A língua que eu falo trava
uma canção longínqua,
a voz, além, nem palavra.
O dialeto que se usa
à margem esquerda da frase,
eis a fala que me lusa,
eu, meio, eu dentro, eu, quase." - Paulo Leminski
Mas e em jogos? Quem guia nossa experiência? Onde está o eu lírico da mídia que permite ao interlocutor controlar tal lente?
Muitas vezes a modificamos, lutamos contra ela e até nos revoltamos quando essa lente parece muito possessiva e controladora. Sabemos que ela está lá, mesmo dentro de um mundo enorme e aberto, somos limitados a um quadro, início e, em alguns casos, fim. Em alguns jogos nos aproximamos muito do eu lírico e usamos o termo "autoral" para adjetivá-las, em outros, essa pessoa parece distante e inalcançável.
Alan Wake me fisgou ao evidenciar seu eu lírico imediatamente.
Eu enxerguei o eu lírico, mas não sou próximo a ele e não é o autor, o eu lírico de Alan Wake grita e mergulha na obra como um personagem, jogamos um jogo completamente consciente de suas lentes líricas, mas não essencialmente autoral por conta disso.
Um jogo sobre escrita, autoria, expressão e imaginário faz todo sentido abordar um tema tão conflituoso e de certa forma profundo como a visão do eu lírico. Na introdução do jogo já temos a figura do narrador que, a priori, também pode servir como o eu lírico. Alan narra sua própria história, atuando inicialmente como narrador-personagem. Porém, quando Alan está em apuros, vemos uma luz divina surgir e entregar ferramentas úteis para Alan, nosso protagonista. Essa luz então vai embora, e seguimos a narrativa. Essa luz foi o que me fez terminar esse jogo.
[Spoilers daqui em diante]
Se já não bastasse uma narração constante, o jogo nos apresenta uma trama que envolve manuscritos que funcionam como roteiros da nossa narrativa. Tudo está premeditado e deve acontecer como está escrito. Num primeiro momento isso pode parecer bobo, mas para mim foi uma ferramenta narrativa que evidenciou as lentes desse jogo.
O eu lírico de Alan Wake é o personagem principal, você talvez possa associá-lo a Alan Wake, mas eu acredito em outro eu lírico.
Esse jogo brinca com as camadas entre personagem, eu lírico e autor de forma a me sentir em uma postura até passiva em referência à obra. O controle da lente não me incomodou, afinal, tem seu contexto temático para ser assim. Está tudo escrito e seguimos um script junto com Alan.
Isso me distanciou de uma postura ativa na obra, o que pode parecer ruim, mas na verdade foi o que me fez gostar desse jogo. Saber que estamos seguindo um script e o jogo fazer questão de mostrar isso me deixou mais confortável. E devo ressaltar que "seguir um script" é o que a enorme maioria dos jogos (principalmente de cunhos comerciais) fazem, mesmo que alguns tenham vergonha de evidenciar isso e se blindam em camadas autorais ou de mídias irmãs aos jogos.
Na conclusão do jogo, fica mais claro o nosso script e, para mim, também o eu lírico definitivo dessa história.
"Não discuto
com o destino
o que pintar
eu assino." - Paulo Leminski
Saber que estamos seguindo um script me possibilitou jogar esse jogo sem medo, coisa que me impede muito de jogar jogos de terror. Aqui, na verdade, dei algumas risadas. Claro que jogar no modo fácil me ajudou MUITO, e recomendo que qualquer pessoa faça o mesmo, já que, mecanicamente, esse jogo não é complexo e pode se tornar repetitivo. Mas também me deparei com momentos cômicos, principalmente pelos poltergeists, quando a lente evidencia um perigo iminente e é um carretel de fio, um barril ou um trator possuído, estilo o personagem Frank do filme "Carros" (2006).
Apesar de sua jogabilidade e direção mais condensada e controladora, acredito que isso se encaixe perfeitamente no jogo. Em outros jogos, o estilo de third-person shooter narrativo pode parecer apenas um padrão a ser seguido, mas devido à raiz narrativa de Alan Wake, lidar com a sensação de seguir um script se encaixa perfeitamente para mim e também me possibilitou ter uma experiência mais divertida e leve (o que, para mim, em jogos de terror, é a primeira vez).
Esse jogo tem seu carisma, e está claro uma lente autoral forte (veja que aqui me refiro à direção do jogo e não ao eu lírico). No entanto, se fugirmos da camada do eu lírico, a lente autoral me incomoda um pouco por conta do controle não da narrativa ou da jogabilidade, mas da interpretação.
Um jogo sobre mistério etéreo que lida com as nuances de uma mente criativa e os impactos na vida real de criações artísticas fictícias abre muitas margens interpretativas que podem nos levar a discussões incríveis sobre a experiência de cada um em relação à obra. Após jogar Alan Wake, sinto que as discussões serão muito mais em torno do mistério, lore e worldbuilding do que a experiência em si. Acredito que essa morte interpretativa foi causada pela preocupação do próprio jogo em deixar claro tudo que está acontecendo. Qualquer pergunta que poderia ser resolvida com interpretação, agora são respondidas em palavras e, para mim, isso tira um pouco da expressão do jogo.
O jogo cria uma realidade fictícia com regras e coesão, e se prende a essa âncora que o obriga a se justificar constantemente. Embora o jogo lute para escapar dessa âncora com toques surrealistas, acaba cedendo e sente a necessidade de explicar tudo, absolutamente tudo, de um mistério que, tratando-se de temas tão complexos e abstratos como os que mencionei, na verdade, não precisaria mostrar nada uma vez que já inseriu esses dilemas no nosso imaginário.
A maior evidência disso são os 2 capítulos extras. Eu sei que Alan Wake está tendo conflitos internos e lutando contra si mesmo por conta de sua decisão final. No meu imaginário, o que ele estava passando é terrível e não se pode imaginar, e eu acredito que não existe nada mais poderoso do que o inimaginável. Então, quando o jogo me faz jogar 2 horas desse conflito, ele não só o deixa imaginável, mas também palpável, concreto e absoluto. Um reflexo do que a obra fez durante todo o jogo: matar o imaginário.
Isso me deixa triste justamente porque o jogo é sobre isso também. O poder do imaginário criativo e o mal que nos faz mergulhar em criação e não conseguir sair desse estado recluso e até possessivo da expressão artística. A decisão de Alan, ao final, foi pessoalmente triste para mim, já que eu também já vivi essa escolha e me recupero dela até hoje.
Portanto, tenho sensações no imaginário sobre o que Alan e quando o jogo decide mostrar isso, mata esse imaginário e substitui essas sensações por vivências brandas e significativamente fracas.
Esse jogo tinha potencial para abordar esses temas muito mais a fundo, sem peso de realismo, deixar o eu lírico brilhar.